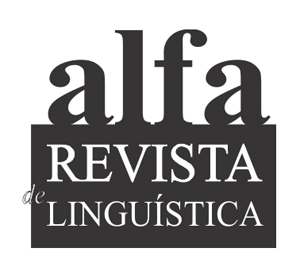RESUMO
Nesse texto, discutimos algumas expressões da oralidade relativamente estáveis em língua portuguesa que apresentam sinais de pontuação em sua construção. Como os sinais de pontuação são sinais gráficos (visuais) típicos da escrita, analisamos as funções que os sinais de pontuação assumem tanto na escrita como nas construções em que são usados na oralidade. Como referencial teórico, recorremos principalmente a Nunberg (1990)NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990., Dahlet (1995DAHLET, V. Pontuação, língua, discurso. In: SEMINÁRIO DO GEL, 24., 1995, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: GEL Est. de São Paulo, 1995. v. 1. p. 337–340., 1998DAHLET, V. Pontuação, sentido e efeitos de sentido. In: SEMINÁRIO DO GEL, 45., 1998, Campinas. Anais [...]. São José do Rio Preto: UNESP/IBILCE, 1998. v. XXVII. p. 465–471., 2002DAHLET, V. A pontuação e sua metalinguagem gramatical. Revista Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 29–41, 2002., 2006bDAHLET, V. As (man)obras da pontuação. Usos e significações. São Paulo: Associação Editorial Humanitas / Fapesp, 2006b. v. 1. 302 p., 2006aDAHLET, V. A pontuação e as culturas da escrita. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, n.8, p. 287–314, 2006a.) e Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020. que oferecem sistematizações compatíveis entre si dos sinais de pontuação, e recorremos a Traugott & Trousdale (2021)TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021. para entender o processo de construcionalização em que os sinais se envolvem na oralidade. Diferentemente dos processos de construcionalização geralmente encontrados na literatura, nosso objeto de análise é de natureza tipográfica e não morfológica. Percebemos que apenas sete (dos onze) sinais de pontuação ganham expressão na oralidade e que esses sinais se distribuem em diferentes gradiências de lexicalização: os sinais finalizadores (ponto, interrogação, exclamação e reticências) recebem valor referencial na oralidade, ao passo que vírgula, aspas e parênteses permanecem com valor metalinguístico — sendo que os sinais duplos podem ser gestualizados.
PALAVRAS-CHAVE
sinais de pontuação; função; lexicalização; oralidade
ABSTRACT
In this paper, we discuss some relatively stable expressions in spoken Portuguese that contain punctuation marks. As punctuation marks are graphic (visual) signs typical of writing, we analyze the functions that punctuation marks play both in writing and in speech. As a theoretical framework, we base our analyses mainly on Nunberg (1990)NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990., Dahlet (1995DAHLET, V. Pontuação, língua, discurso. In: SEMINÁRIO DO GEL, 24., 1995, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: GEL Est. de São Paulo, 1995. v. 1. p. 337–340., 1998DAHLET, V. Pontuação, sentido e efeitos de sentido. In: SEMINÁRIO DO GEL, 45., 1998, Campinas. Anais [...]. São José do Rio Preto: UNESP/IBILCE, 1998. v. XXVII. p. 465–471., 2002DAHLET, V. A pontuação e sua metalinguagem gramatical. Revista Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 29–41, 2002., 2006bDAHLET, V. As (man)obras da pontuação. Usos e significações. São Paulo: Associação Editorial Humanitas / Fapesp, 2006b. v. 1. 302 p., 2006aDAHLET, V. A pontuação e as culturas da escrita. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, n.8, p. 287–314, 2006a.) and Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020. who offer mutually compatible systematization of punctuation marks, and Traugott and Trousdale (2021)TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021. in order to understand the constructionalization process that involves these signs in speech. Since our object of analysis are typographical signs and not words, we found no parallel examples of constructionalizations in the literature. We noticed that only seven (of the eleven) punctuation marks generally considered in Brazilian Portuguese gain expression in orality and that these punctuation marks are distributed in different gradients of lexicalization: the ending signs (period, question mark, exclamation and ellipsis) receive referential value in orality, while comma, quotes and parentheses remain with metalinguistic value – and the double signs can be gestured.
KEYWORDS
punctuation marks; function; lexicalization; orality
Introdução
Propomos um estudo exploratório em que investigamos um caso peculiar de construcionalização (lexicalização) que envolve sinais de pontuação: expressões convencionalizadas na oralidade em língua portuguesa que contêm sinais de pontuação. Trabalharemos com construções convencionalizadas como, por exemplo, as expressões a seguir, que são compartilhadas pelos falantes de língua portuguesa no Brasil1 1 É importante ressaltar que não encontramos trabalhos sobre o tema na literatura especializada (i.e., sobre sinais de pontuação na fala como investigamos aqui) e, portanto, construímos nosso objeto de estudo baseado na intuição de falantes nativos, na consulta informal a falantes nativos, em buscas no Google, bem como em recursos audiovisuais, como alguns citados ao longo deste artigo. A elaboração de um corpus especificamente dedicado a dados como os que analisamos aqui é tarefa para outra pesquisa; nosso intuito é fornecer uma primeira tipologia e caminho de análise. A seção “Questões teórico-metodológicas” descreve em mais detalhes a busca e elaboração dos dados. :
-
Preciso pôr um ponto final nessa discussão.
-
Essa conversa acaba aqui e ponto final.
-
João é legal vírgula...
-
Ele abria parênteses dentro de parênteses e não chegava ao fim da história.
-
Vou fazer um parêntese aqui.
-
Ela fez uma cara de interrogação.
-
Ele me olhou com uma cara de exclamação.
-
Não aguento mais suas reticências.
-
Ele é simpático entre aspas, né!
-
Bota muitas aspas aí.
É certo que nem todos os sinais de pontuação figuram em contextos como os apresentados acima (por exemplo, ponto e vírgula não figura em construções na oralidade). Nosso objetivo é contrastar (i) o funcionamento dos sinais de pontuação em construções usadas na oralidade com (ii) o uso dos sinais de pontuação na escrita para entender como sinais de pontuação passam a integrar expressões na oralidade. Conforme argumentaremos neste texto, os sinais de pontuação que analisamos aqui partem da escrita (em que são visíveis) e ganham corpo na oralidade (em que são enunciados e são audíveis, alguns até gestualizados) através de um processo de construcionalização (ou lexicalização).
O primeiro passo para investigar quais sinais de pontuação podem aparecer em construções na/da fala, em contextos próximos aos dos exemplos acima, é justamente definir o que são sinais de pontuação — este é o objetivo da primeira seção deste texto, na qual apresentaremos formas e funções dos sinais de pontuação numa tipologia mínima. Feito isso, a segunda seção investigará os sinais de pontuação que figuram em construções usadas na fala, quais são as interpretações possíveis e algumas de suas propriedades linguísticas, sem o intuito de sermos exaustivos. A seção seguinte tem como objetivo buscar uma explicação para esse fenômeno — estamos realmente diante de um caso de construcionalização, lexicalização, ou degramaticalização, como o uso de “senões” no exemplo abaixo, ou se trata ainda de um fenômeno de natureza distinta?
11)Chega desses seus senões!
Por fim, na Conclusão, apresentamos nossos principais resultados e alguns dos problemas em aberto. Para este estudo, não assumimos que os sinais de pontuação apresentem funções prosódicas que orientem o redator a pontuar seus textos escritos, como as gramáticas em geral fazem. Dahlet (2006b, p. 302) defende a autonomia do texto escrito: “[...] a voz como emissão vocal não tem residência na escrita”. Igualmente não nos interessa aqui perceber paralelos entre oralidade e escrita, como fazem Chacon (1997CHACON, L. A pontuação e a demarcação de aspectos rítmicos da Linguagem. DELTA, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 1–16, 1997., 2003CHACON, L. Oralidade e letramento na construção da pontuação. Revista Letras, Curitiba, n. 61 esp., p. 97-122, 2003.), Pacheco (2006)PACHECO, V. Percepção dos Sinais de Pontuação enquanto Marcadores Prosódicos. Estudos da Língua (gem), Vitória da Conquista, v. 3, n. 1, p. 205–232, 2006., Soncin e Tenani (2015)SONCIN, G.; TENANI, L. Emprego de vírgula e prosódia do português brasileiro: aspectos teórico-analíticos e implicações didáticas. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 473–493, 2015., dentre outros. Assumimos a postura tanto de Scliar-Cabral e Rodrigues (1994)SCLIAR-CABRAL, L.; RODRIGUES, B. B. Discrepâncias entre a pontuação e as pausas. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, n. 26, p. 63–77, 1994. como de Crystal (2015)CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular. e Cunha e Porto (2020)CUNHA, K. Z. da; PORTO, M. M. Pausa para respirar: o papel da pontuação na leitura. In: OLIVEIRA, R. P.; QUAREZEMIN, S. (org.) Artefatos em gramática: ideias para aulas de língua. Florianópolis: DLLV/CCE/UFSC, 2020. p. 131–164. de que há discrepâncias significativas entre pausas e sinais de pontuação na performance da leitura em voz alta. Quando alguns sinais de pontuação passam a figurar em construcionalizações na oralidade, entramos em terreno (ainda) inexplorado.
Uma tipologia mínima dos sinais de pontuação
Os sinais de pontuação surgiram na escrita ocidental depois que o sistema alfabético tinha galgado estabilidade, ou seja, quando as palavras já tinham autonomia gráfica e não se usava mais a scriptura continua: havia um espaço em branco antes e depois de cada palavra, o que permitiu que sinais de pontuação internos à sentença fossem gradativamente introduzidos, conforme resume Araújo (2008ARAÚJO, E. A construção do livro: princípios da técnica de editoração. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2008., p. 380): “Gradualmente passou-se a separar as palavras e introduziu-se a pontuação”. Rocha (1997)ROCHA, I. L. V. O sistema de pontuação na escrita ocidental: uma retrospectiva. DELTA, São Paulo, v. 13, n. 1, 1997. traça um panorama histórico dos sinais de pontuação na cultura escrita em que se percebe que nem todos os sinais de pontuação que temos hoje foram introduzidos na escrita ao mesmo tempo ou com a mesma função que aquela que apresentam atualmente. Em suma, o sistema de que dispomos hoje é o resultado de anos de experimentações gráficas ao longo de um processo de inclusão, concorrência e exclusão.
Apesar de terem sido inseridos na escrita tardiamente, os sinais de pontuação são o que há de mais representativo da escrita: “Com efeito, o sinal de pontuação é, com a disposição na página, o que há de mais escrito (lembremos que ele não possui correspondência fonemática)” (Dahlet, 2006b, p. 300). Enquanto as letras (ou suas combinações) são convenções que pretendem representar sons, os sinais de pontuação não têm pronúncia (Flusser, 1965FLUSSER, V. ?. O Estado de S. Paulo, 22 de outubro de 1965.), são sinais não-alfanuméricos que o redator usa para ordenar seu texto e que, sem distrair o leitor, orientam a leitura (Bernardes, 2002BERNARDES, A. C. de A. Pontuando alguns intervalos da pontuação. 2002. Tese (Doutorado em Linguística) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.). Segundo Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020., o leitor vê/lê os sinais de pontuação sem precisar verbalizá-los, já que eles fornecem informações ao leitor de como o texto está estruturado (em diálogos, por exemplo, ou parágrafos) e como cada unidade sintagmática lida deve ser processada (a unidade não terminou, terminou, é menos importante etc.) em relação à unidade textual.
Com a obrigatoriedade do ensino escolar e a progressiva massificação dos meios de comunicação escrita, surgiu a necessidade de padronizar a ortografia e recorrer a autoridades que racionalizassem os sinais de pontuação em livros didáticos, normalizando o seu uso e ensino. Os gramáticos — que, via de regra, apresentam os sinais de pontuação no final de seus compêndios, às vezes até mesmo em apêndices — se tornaram referência para o ensino dos sinais de pontuação. Mas, afinal, o que seriam esses sinais? E quais e quantos são eles? Esses são os temas das próximas subseções.
Quais são os sinais de pontuação?
Como gramáticas em geral são elaboradas por autores e não por coletivos, como é o caso de dicionários, por exemplo, e como não temos, em língua portuguesa, um órgão oficial regulador da língua, como é o caso da Academia de Letras Francesa, temos a situação em que o inventário dos sinais de pontuação varia de gramática para gramática.
Kleppa (2022)KLEPPA, L. Para ensinar os sinais de pontuação. Revista Diadorim, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 573–591, 2022. compara cinco gramáticas brasileiras de referência e observa um núcleo comum de dez sinais de pontuação nas gramáticas examinadas, a saber: 1. ponto, 2. vírgula, 3. dois pontos, 4. ponto e vírgula, 5. reticências, 6. exclamação, 7. interrogação, 8. travessão, 9. aspas e 10. parênteses — ao qual cada gramático acrescenta, a seu critério, outros sinais.
A Nomenclatura Gramatical Brasileira (NGB) surgiu com o intuito de unificar a nomenclatura de fenômenos gramaticais observados sob diferentes terminologias nas gramáticas existentes até 1959. Como podemos observar no registro compilado em Henriques (2009)HENRIQUES, C. C. Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois. São Paulo: Parábola Editorial, 2009., a pontuação constava, na versão da NGB de 1959, nos apêndices e listava 13 itens em ordem alfabética: “aspas, asterisco, colchetes, dois pontos, parágrafo, parênteses, ponto de exclamação, ponto de interrogação, ponto e vírgula, ponto final, reticências, travessão, vírgula” (NGB publicada no Diário Oficial em 11 maio de 1959 apudHenriques, 2009HENRIQUES, C. C. Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois. São Paulo: Parábola Editorial, 2009., p. 165). Em 1963, a NGB foi revisada e 16 itens foram listados como “sinais de pontuação e sinais auxiliares da escrita”, a saber: “ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, reticências, dois pontos, ponto e vírgula, vírgula, travessão, parênteses, colchetes, parágrafo (§), alínea, aspas, vírgulas altas, sigla, asterisco” (NGB — Portaria de 28 de abril de 1967 apudHenriques, 2009HENRIQUES, C. C. Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois. São Paulo: Parábola Editorial, 2009., p. 179). Em 2007, em nova revisão, os sinais de pontuação foram separados dos sinais auxiliares da escrita e apenas oito sinais foram listados como sinais de pontuação: “ponto (final); ponto de interrogação; ponto de exclamação; dois pontos; ponto e vírgula; vírgula; reticências; travessão” (Portaria 476/2007 apudHenriques, 2009HENRIQUES, C. C. Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois. São Paulo: Parábola Editorial, 2009., p. 195). Como se vê, nem mesmo a tentativa de unificar a nomenclatura logrou ser definitiva. Um dos motivos que contribui para a oscilação do inventário é certamente a ausência de uma definição da natureza dos sinais de pontuação.
Características gráficas: forma, local de atuação e inventário
Os dez sinais de pontuação que compõem o núcleo comum das gramáticas normativas apresentam uma característica gráfica importante: são graficamente autônomos. Isso significa que são acompanhados de espaço em branco. Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020. considera que o travessão, que ocupa o espaço de uma letra e é rodeado de espaços em branco (à esquerda e direita de si) seja um Filler (preenchedores) e que todos os outros sinais sejam Klitika (clíticos) porque neles se observa ou um espaço em branco antes do sinal (como nos parênteses e nas aspas) ou um espaço em branco depois do sinal (no caso dos demais sinais). Este espaço em branco, que dá individualiza a palavra escrita, torna os sinais de pontuação unidades tipográficas discretas que se apoiam na palavra, mas não dependem dela (como seria o caso das maiúsculas, negrito, itálico ou sublinhado, por exemplo). Assim sendo, não consideramos que sinais internos à palavra (hífen, barra ou apóstrofe) sejam sinais de pontuação, porque são rodeados de letras.
Outro fator que atribuímos à autonomia gráfica dos sinais de pontuação é sua forma fixa e atômica: nenhum deles pode ser dividido em unidades menores. Os sinais de pontuação foram alvo de experimentações morfológicas entre os séculos XIV e XVII, mas atualmente não são facilmente dados a novas combinações (Dahlet, 2006b). Nesse sentido, é interessante notar que até foram feitas propostas de inclusão de novos sinais: o interrobang [‽] (que combina o ponto de interrogação com o ponto de exclamação) foi proposto e patenteado por Martin Spekter em 1962, mas não foi adotado pelos desenvolvedores de teclados, nem acolhido pela comunidade de redatores e leitores. Tratando ainda dos aspectos morfológicos dos sinais de pontuação, Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020. chama atenção para o fato de que os sinais duplos não são compostos pelo mesmo sinal repetido, mas por dois sinais simetricamente espelhados, como observamos nos parênteses [( )] e aspas [“ ”]2 2 Esta regra se estende aos sinais de interrogação e exclamação em espanhol, que apresentam a contraparte invertida no início da sentença. .
Para Dahlet (2006b), por mais que o ponto abreviativo, graficamente idêntico ao ponto final, incida sobre a palavra, este não é seu locus de atuação mais consagrado. Além disso, o uso do ponto abreviativo não culmina na palavra seguinte começar com letra maiúscula, como é o caso do ponto final, o que mostra que os sinais de pontuação fornecem instruções ao leitor sobre as fronteiras das unidades textuais. Em contrapartida, apóstrofos, hífens e barras, por exemplo, incidem apenas sobre a palavra e, portanto, poderiam ser considerados sinais ortográficos — sujeitos a regulações nas reformas ortográficas.
Por fim, partimos do pressuposto de que os sinais de pontuação incidem tanto sobre a sentença quanto sobre o texto. Apesar de serem apresentados nas gramáticas e manuais como sinais que atuam no âmbito da sentença, não entendemos (como Dahlet, 1998DAHLET, V. Pontuação, sentido e efeitos de sentido. In: SEMINÁRIO DO GEL, 45., 1998, Campinas. Anais [...]. São José do Rio Preto: UNESP/IBILCE, 1998. v. XXVII. p. 465–471., p. 75) que a escrita de um texto seja a somatória da ortografia, vocabulário, gramática e pontuação. Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020. entende que os sinais de pontuação possibilitam ao leitor dois movimentos no processo de leitura: parsing (segmentação de unidades) e scanning (percepção da estrutura do texto).
Consideramos que a autonomia gráfica dos sinais de pontuação (imediatamente identificáveis pelo olhar porque são acompanhados de espaço em branco) e o seu escopo de atuação (sentença e texto) sejam fortes indícios do que possam ser os sinais de pontuação (Kleppa, 2019KLEPPA, L. Onze sinais em jogo. Campinas: Ed. da Unicamp, 2019.). Nesse sentido, acrescentamos ao inventário a alínea:
[...] a alínea, que é, morfologicamente falando, um branco, um vazio. A alínea foi introduzida pela imprensa e, se pensarmos bem, esse fato não é casual. De fato, tratou-se de substituir algo cheio — o sinal de [§] — pelo vazio, pelo branco. Ora, como nota com perspicácia Marc Arabyan (1994), “o branco é o que é mais escrito”, no sentido de que fazer significar o branco consiste em se apoiar totalmente, de maneira absoluta, ao suporte. (Dahlet, 2006b, p. 291–292).
A alínea, o espaço em branco (também chamado de adentramento, recuo ou indentação) que separa um parágrafo de outro revelando a arquitetura do texto, não consta nas gramáticas tradicionais como espaço vazio (quando aparece, é como o sinal preenchido, usado em textos jurídicos para marcar subdivisão de parágrafos), mas é considerada por alguns linguistas que se debruçaram sobre o sistema de sinais de pontuação, já que se parte do entendimento de que os sinais de pontuação são recursos linguísticos para a constituição da textualidade (Leal; Guimarães, 2002LEAL, T. F.; GUIMARÃES, G. L. Por que é tão difícil ensinar a pontuar? Revista Portuguesa de Educação, Braga, v. 15, n. 1, p. 129–146, 2002.).
Em suma, diante das ponderações acima, consideraremos para este estudo os onze sinais a seguir: [ ] alínea, [.] ponto, [:] dois pontos, [;] ponto e vírgula, [,] vírgula, [–] travessão, [...] reticências, [?] ponto de interrogação, [!] ponto de exclamação, [( )] parênteses e [“ ”] aspas.
Consideramos importante notar que estamos tratando do sistema de pontuação, e, num sistema, há escolhas a serem feitas, porque cada sinal assume um valor em relação aos outros. Por exemplo, podemos lembrar que, na escrita padrão, existem algumas alternativas para finalizar uma sentença: pode-se usar o ponto final, ponto de interrogação, exclamação ou reticências. Todos esses sinais separam uma sentença da outra, mas o ponto final é o único sinal que só separa sentenças, ao passo que os outros dão um valor enunciativo à sentença na escrita. Esse valor tem afinidade com o ato da enunciação (de uma pergunta, de admiração, de uma postura reticente/omissa) e com a maneira como o escrito é posto em cena.
Características sintático-enunciativas: funções
Como referência teórica para pensar sobre as funções dos sinais de pontuação, tomaremos os trabalhos de Véronique Dahlet (que é quem mais formalizou o sistema de sinais de pontuação em língua portuguesa), Nunberg (1990)NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990., que tem um olhar mais generalizado sobre as funções dos sinais de pontuação, e Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020., que analisa os sinais de pontuação na escrita do ponto de vista do leitor, e não o do redator.
No Quadro 1, apresentamos a categorização que Dahlet (2002)DAHLET, V. A pontuação e sua metalinguagem gramatical. Revista Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 29–41, 2002. faz dos sinais de pontuação. A autora aponta para a multifuncionalidade dos sinais de pontuação e suas dimensões sintática e enunciativa.
Os sinais enunciativos apresentam subcategorias e são mais numerosos que os sequenciadores (que separam constituintes sintáticos); como se pode observar, alguns sinais são alocados em mais de uma categoria no Quadro 1. Além disso, a autora considera como sinais de pontuação (marcadores expressivos) algumas marcas que não consideramos autônomas.
Por sua vez, a classificação das funções dos sinais de pontuação apresentada por Nunberg (1990)NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990. é mais sucinta; para o autor, os sinais podem:
-
separar unidades (equivalente à categoria dos sequenciadores, no Quadro 1);
-
delimitar unidades (para isso, os sinais duplos são convocados, como é o caso dos hierarquizadores no Quadro 1 — exceto pelos dois pontos);
-
marcar unidades (equivalente às categorias dos marcadores no Quadro 1).
Por serem amplas (separar, delimitar e marcar) e pouco específicas, as funções dos sinais de pontuação podem ser interpretadas de diferentes maneiras: o ponto de exclamação marca a postura do enunciador, mas também separa uma sentença da outra. Interessa perceber que as funções postuladas por Nunberg (1990)NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990. são cumulativas. A questão básica é que, por mais discretos que sejam os pontos e traços, eles fazem algo no texto, são performativos porque atuam metalinguisticamente, orientando o sentido pretendido do texto/da sentença (Bernardes, 2002BERNARDES, A. C. de A. Pontuando alguns intervalos da pontuação. 2002. Tese (Doutorado em Linguística) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.).
Assumindo que as funções postuladas por Nunberg (1990)NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990. de separar e delimitar são, ambas, funções sintáticas, e que a função de marcar corresponde, conforme Dahlet, a um gesto ou ato enunciativo, sistematizamos os sinais de pontuação conforme suas funções no Quadro 2 a seguir:
Acreditamos que o cruzamento dos referenciais teóricos seja possível porque consideramos que as categorizações propostas são compatíveis entre si. Resumindo, todos os sinais de pontuação exercem algum tipo de função sintática, seja separando, delimitando ou marcando unidades ou sequências sintáticas. Além da função de demarcar fronteiras sintáticas, alguns sinais exercem funções enunciativas — que outros autores chamam de pragmáticas (Crystal, 2015CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular.) ou retóricas (Gumbrecht, 2009GUMBRECHT, H. U. Der Doppelpunkt. Rund, kantig und umpolend. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich?: Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 61–69.). Isso significa que há mais dimensões além da prosódica e lógico-gramatical (assumidas pelas gramáticas) envolvidas no uso dos sinais de pontuação: alguns sinais até mesmo transcendem suas funções (Brody, 2008BRODY, J. De V. Punctuation: art, politics and play. Durham: Duke University Press, 2008 Paginação irregular.; Watson, 2019WATSON, C. Semicolon: The past, present, and future of a misunderstood mark. Londres: Harper Collins, 2019 Paginação irregular.) e sintetizam histórias, ideias etc.3 3 Se procurarmos por tatuagens de sinais de pontuação na internet, facilmente encontraremos ponto e vírgula: nas redes sociais, transitou a história de uma mulher que, depois de perder o pai, tatuou um ponto e vírgula no corpo para simbolizar que a sua vida não parou, que continua; variações disso são tatuagens de CONT;NUE ou da linha que representa os batimentos cardíacos interrompida por um ponto e vírgula.
Após esse breve percurso e descrição sobre o sistema de pontuação, passemos à análise das possibilidades de esses sinais serem usados em expressões na fala. Como e por que recursos gráficos que se originaram na escrita ganham corpo na língua falada?
Sinais de pontuação na fala: quais, como e com qual interpretação?
Como inúmeros pesquisadores já notaram, a escrita precisa ser entendida como um sistema autônomo (Nunberg, 1990NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990.; Dahlet, 2006b; Bredel, 2020BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020.), e não como a transcrição da oralidade. Para Dahlet (2006b, p. 126), a noção de frase, por exemplo, não se aplica à oralidade:
Ora, a frase no real da língua não existe. Remete a um conceito elaborado para atender as necessidades da descrição gramatical e linguística [...]. Isso significa que, nos estudos sobre o oral, a noção de frase é, do ponto de vista operacional, nula, ao passo que nos estudos sobre o escrito ela só pode remeter a realizações efetivas, mas todas elas podem ser resumidas a uma só operação: segmentar o discurso em unidades gráficas, denominadas frases.
Bakhtin (2000BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 277–326, p. 297), que toma o diálogo como base, postula que a unidade real da língua é o enunciado — os limites dos enunciados são sempre a fala do outro:
As pessoas não trocam orações, assim como não trocam palavras (numa acepção rigorosamente linguística), ou combinações de palavras, trocam enunciados constituídos com a ajuda de unidades da língua – palavras, combinações de palavras, orações; mesmo assim, nada impede que o enunciado seja constituído de uma única oração, ou de uma única palavra, por assim dizer, de uma única unidade de fala (o que acontece sobretudo na réplica do diálogo), mas não é isso que converterá uma unidade da língua numa unidade da comunicação verbal.
Ao analisarmos o uso de sinais de pontuação em estruturas que aparecem na oralidade, e considerando as diferenças intrínsecas entre fala e escrita, não esperamos, em princípio, que os sinais de pontuação que são usados na oralidade tenham exatamente as mesmas funções e empregos que aqueles da escrita: as unidades da escrita e da oralidade são diferentes (a não ser que se trate de um ditado). Para chegar às nossas análises, é preciso primeiramente passar por alguns pontos da metodologia desta pesquisa, que é o que faremos na seção abaixo.
Questões teórico-metodológicas
Como já mencionado anteriormente, na nota de rodapé 1, estamos construindo nosso objeto de análise. Não atestamos as expressões (em 1 a 10) num mesmo corpus porque não é provável que todas sejam enunciadas num mesmo discurso/corpus que seja manuseável. No entanto, sabemos que são usadas na língua (com alguma variação: pôr/botar um ponto final) em construções convencionalizadas. Os sinais de pontuação que são usados na oralidade não aparecem apenas como nomes, mas são integrados a construções complexas. Essas construções não parecem ser comparáveis a expressões idiomáticas, porque em enfiar o pé na jaca ou bater as botas, por exemplo, não se espera que as pessoas façam literalmente o que as palavras usadas referem, já que a composicionalidade da expressão é relativamente baixa. Em contrapartida, dizer que algo é positivo entre aspas recupera um dos valores possíveis das aspas na escrita.
Essa característica das expressões que estamos analisando nos leva a compreendê-las como um caso de construcionalização lexical, ou seja, como a entrada de um novo item lexical complexo na língua. Segundo Traugott e Trousdale (2021TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021., p. 57): “[...] definimos preliminarmente construcionalização como criação de um pareamento forma nova — significado novo”. Autores funcionalistas e cognitivistas recorrem à metáfora da língua como uma rede: “O resultado da construcionalização é um novo nó na rede da língua [...]” (Traugott; Trousdale, 2021TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021., p. 261). Para Booij (2010 apudTraugott; Trousdale, 2021TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021., p. 266), “Cada nó herda propriedades de seu nó dominante.”. Isso significa que nos exemplos 1 a 10 estamos diante de microconstruções4 4 A questão de fundo é que as mudanças sejam graduais, por isso fala-se em “nanopassos” ou “microconstruções” que representam arranjos linguísticos a cada recorte temporal. Em perspectiva diacrônica, o analista espera observar, a cada microconstrução, a diminuição da composicionalidade, maior produtividade e o aumento da abstração semântico-pragmática, por exemplo. que podem ser esquematizadas em termos mais abstratos (Traugott; Trousdale, 2021TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021.).
Para comprovar sua ubiquidade, recorremos a duas ferramentas de organização lexical: o dicionário (tanto impresso como digital) e o buscador de palavras Google.
No dicionário Houaiss impresso (Houaiss; Villar, 2001HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.), o verbete ‘ponto’ apresenta 57 acepções (o significado de sinal de pontuação está listado na acepção 34), sendo que ‘ponto final’ é uma das várias expressões listadas em ordem alfabética após as acepções. Já no Houaiss digital são apresentadas 49 acepções, sendo que a de número 9 refere à pontuação (ponto de exclamação, ponto de interrogação e ponto final) e a acepção 14 traz o seguinte exemplo: ‘queria pôr um p. naquela teimosia’.
‘Ponto de exclamação’ e ‘ponto de interrogação’ figuram no interior do verbete do ‘ponto’ tanto na versão impressa como na versão digital e recebem acepção gramatical. ‘Aspas’ figuram no dicionário impresso na sexta acepção de ‘aspa’. Ao final do verbete, consta uma expressão idiomática: “fincar as a. no inferno RS infrm. morrer (falando de pessoa pouco querida)”. Já o dicionário digital apresenta, no verbete ‘aspas’, conteúdos da Wikipédia (banda portuguesa chamada Entre Aspas; e o gesto de fazer aspas com os dedos). No verbete ‘aspa’, o dicionário digital apresenta, como substantivo feminino plural, na sua segunda acepção, o sinal de pontuação e suas regras de uso.
Mais condizentes com nossa busca são a segunda acepção de ‘vírgula’ no Houaiss impresso (que corresponde à terceira acepção no Houaiss digital, transcrita em 12); a terceira acepção de ‘parêntese’ em ambos os formatos do Houaiss, como transcrito em 13); e o exemplo fornecido na terceira acepção de ‘reticência’ em ambas as versões do dicionário, como transcrito em 14):
12)infrm. expressão de negação ou restrição a algo que foi dito <ela é bonita, vírgula!>
13)fig. desvio momentâneo do assunto; digressão
14)atitude de quem hesita em dizer expressamente o seu pensamento, em dar um parecer etc. <um indivíduo cheio de r., dissimulado>
Se no dicionário a referência de busca eram os sinais em si mesmos, no buscador de palavras Google precisamos mudar nossa estratégia e procurar pelas microconstruções em que os sinais de pontuação figuram na oralidade. A quantidade de resultados da busca no Google em língua portuguesa está disposta na Tabela 1 à direita de cada microconstrução:
Em termos abstratos, procuramos por esquemas como:
-
V + [.] > colocar/pôr/botar um ponto final,
-
V + [( )] > fazer/abrir um parêntese,
-
N + [?], [!] > cara de X (em que X pode ser tanto interrogação como exclamação)
-
N/det + [...] > cheio de/pron poss reticências; e
-
Prep + [( )], [“ ”] > entre X (em que X pode ser tanto parênteses como aspas).
A vírgula, como no exemplo 3), não integra uma construção em que figurem um verbo, substantivo, determinante ou preposição, por isso escapa a esse tipo de rastreamento. Para a vírgula, somente a consulta ao dicionário Houaiss nos forneceu um exemplo da construção lexicalizada que procuramos atestar. Igualmente não conseguimos rastrear a expressão e ponto (final) pelo Google, porque os resultados da busca extrapolam a microconstrução.
Por fim, percebemos que, nas microconstruções, pode haver variação da primeira parte que compõe a estrutura (verbo, nome, determinante), mas os nomes que codificam os sinais de pontuação se apresentam na forma fixa, não admitindo marcas morfológicas de flexão no diminutivo em 1b), 3b), 7b), 8b) e 9b), aumentativo em 5b) e plural em 6b) no português brasileiro, como indicam os asteriscos5 5 Como notou um/a dos/as pareceristas deste texto, a quem agradecemos, alguns dos casos podem ser aceitáveis numa interpretação que envolva ênfase ou ironia. Seja como for, os julgamentos de gramaticalidade representam a intuição dos autores, além de não havermos encontrado nada semelhante em nossas buscas. :
-
1b) * Preciso pôr três pontinhos finais nessa discussão.
-
3b) * João é legal, virgulinha.
-
5b) * Vou fazer um parentesão.
-
6b) * Ela fez uma cara de cinco interrogações.
-
7b) * Ele me olhou com uma cara de exclamaçõezinhas.
-
8b) * Não aguento mais essa sua reticenciazinha.
-
9b) * Ele é simpático entre aspinhas.
A forma fixa dos nomes dos sinais de pontuação aponta para a baixa produtividade da construção no português brasileiro e para a ausência de microconstruções anteriores a estas (em 1 a 10) numa escala temporal. Na sequência, analisamos cada uma das microconstruções em 1) a 10). A dinâmica que segue é: primeiro uma análise de cada sinal de pontuação na escrita e posteriormente analisamos como algumas dessas características são transportadas para as microconstruções observadas na oralidade.
1)Preciso pôr um ponto final nessa discussão.
A função do ponto é encerrar, finalizar, terminar, concluir frases/sentenças – que, conforme vimos, não são unidades da oralidade, mas da escrita. Observamos uma projeção metonímica da função terminativa do ponto: quando usado na oralidade, o ponto marca (não exatamente a função, mas) a possibilidade de encerrar, finalizar, terminar, concluir definitivamente um assunto, a conversa ou mesmo a interação. Na fala, tanto no esquema com os verbos pôr/botar/colocar um ponto final como no esquema com a conjunção e ponto (final), o ponto final marca não apenas um limite, mas dá a entender que tal limite é um final absoluto. Note a diferença entre:
15) Essa conversa acaba aqui.
2)Essa conversa acaba aqui e ponto final.
Os exemplos 15) e 2) não são sinônimos e 2) não é redundante. A diferença entre elas, simplificadamente, é a ênfase dada pelo falante em 2) de que não está disposto a continuar a conversar de modo algum — uma possibilidade não tão vetada em 15). Ou seja, uma ideia de finalidade absoluta é veiculada pelo recurso à microconstrução ‘ponto final’ na língua falada.
Rodrigues e Cidade (2021)RODRIGUES, V. V.; CIDADE, D. N. Desgarramento e pontuação em textos de vestibulandos. Confluência, Rio de Janeiro, n. 61, p. 124-156, 2021., que tomam como objeto de estudo as desgarradas (orações subordinadas que, por serem separadas por ponto final da oração principal, ganham status de sentença), recorrem a Dahlet (2006b) para explicar que a separação de uma unidade não segmentável cria um efeito argumentativo. Ao tratar do ponto de argumentação, Dahlet justifica:
O ponto pode, portanto, intervir em lugares não somente internucleares, mas também intranucleares, ou seja, nos níveis mais baixos, conhecidos por serem não segmentáveis pela pontuação. [...] A segmentação nos mais baixos níveis constitui um fenômeno ainda mais notável, que contraria não só as práticas esperadas, como também as operações cognitivas [...]. Assim, o próprio fato de segmentar no coração da unidade sintático-semântica [...] isola graficamente e põe em relevo esse segmento: o peso da informação está focalizado no segmento em questão, que fica, então, rematizado. (Dahlet, 2006b, p. 254).
Metaforicamente, o ponto final confere ao enunciado a autonomia de sentença (tanto no sentido jurídico de ‘sentença’: tenho dito e cumpra-se, como no sentido argumentativo: falou curto e grosso). Essa sentença, no entanto, parece ser menos uma unidade sintática e mais uma unidade textual ou comunicativa (Bredel, 2020BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020.). Nas microconstruções em 1) e 2), o ponto final encerra o texto, a comunicação. Enquanto o ponto final sinaliza o fim da sentença ao leitor, a microconstrução ‘vírgula’ sinaliza que a unidade sintagmática no interior da sentença ainda não terminou (Bredel, 2020BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020.).
3)João é legal vírgula...
Em expressões como 3), ‘vírgula’ não é usada estritamente no sentido gramatical com que é empregada na escrita, separando unidades iguais entre si, delimitando informações acessórias ou movidas e marcando a ordem de palavras, além de marcar elipse. Nessa microconstrução, a vírgula apenas anuncia uma ideia de oposição: parece indicar, por meio de elipse, uma oração coordenada adversativa. É interessante notar que a vírgula, neste contexto, encerra a expressão — o que não acontece na escrita. Em suma, ao mais sintático dos sinais na escrita é atribuída apenas uma função específica na oralidade. Além disso, essa função é metalinguística, dá instruções de como interpretar o que foi dito; ou seja, é uma operação sobre o conteúdo precedente, deixando a entender que o falante não concorda com esse conteúdo incondicionalmente.
4)Ele abria parênteses dentro de parênteses e não chegava ao fim da história.
5)Vou fazer um parêntese aqui.
Para Robinson (1980)ROBINSON, P. The philosophy of punctuation. New Republic, New York, 26 abr. 1980., os parênteses equivalem a notas de rodapé porque subvertem a linearidade da escrita. Na oralidade, a linearidade é subvertida ainda de outra maneira: não se abre parênteses para depois fechar, mas usam-se expressões que contemplam os dois parênteses mais seu conteúdo.
Digressões, pensamentos paralelos, comentários secundários, excursões para fora da linha argumentativa são colocados entre parênteses. Para Wirth (2017)WIRTH, U. (In Klammern). In: LUTZ, H.; PLATH, N.; SCHMIDT, D. (org.). Satzzeichen: Szenen der Schrift. Berlin: Kultur Verlag Kadmos, 2017. p. 31–35., os parênteses (na escrita) formam uma moldura em volta daquilo que transita entre dentro e fora do texto. Mais ainda: o que é grafado entre parênteses, em geral, pode ser removido do texto – tal é seu status em relação ao fluxo do texto. O material linguístico a ser delimitado varia: dentro de parênteses cabe um parágrafo, uma sentença, uma oração, um sintagma, uma palavra ou mesmo partes de palavras – e até mesmo um sinal de pontuação (!). Os sinais delimitadores regulam o fluxo informacional, acrescentando e individualizando conteúdos informacionais que, via de regra, complementam o conteúdo informacional principal (at-issue, Potts, 2005POTTS, C. The Logic of Conventional Implicatures. Oxford: Oxford University Press, 2005.).
Nessa projeção metonímica, nem todos os usos do sinal que podem ser explorados na escrita (por exemplo, a delimitação de morfemas como em (Des)Confiança no trabalho) são transportados para a oralidade, apenas os que referem ao emolduramento de unidades-macro completas: histórias, anedotas, exemplos etc. Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020. trata de dois tipos de parênteses: Kommentierungsklammer que contêm comentários (a voz do autor se faz presente no ato de comentar/explicar algo através de um discurso que serve de apoio ao dito anteriormente) e Konstruktionsklammer que mostra uma construção paralela, coexistente, como no exemplo com (des) acima. Notamos que são os parênteses de comentário (explicação, digressão, causo) que figuram nas microconstruções usadas na oralidade.
6)Ela fez uma cara de interrogação.
Crystal (2015CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular., tradução nossa) apresenta o depoimento de Gertrude Stein a respeito de alguns sinais de pontuação registrado em 1932 para Lectures in America: “Uma pergunta é uma pergunta, qualquer um percebe que uma pergunta é uma pergunta então por que adicionar o sinal de interrogação quando já está claro que se está diante de uma pergunta. É por isso que eu jamais me convenceria a usar um ponto de interrogação [...]”.6 6 No original: “A question is a question, anybody can know that a question is a question and so why add to it the question mark when it is already there when the question is already in the writing. Therefore I never could bring myself to use a question mark […].” (Crystal, 2015). Nem mesmo para a língua inglesa, que adota estratégias específicas para formar perguntas (iniciar com elemento wh- ou verbo auxiliar/modal), essa lógica seria aplicável. O ato enunciativo de perguntar — que é diferente do ato de afirmar, porque abre a possibilidade de uma resposta do interlocutor — é que é sinalizado através do ponto de interrogação: João atrasou de novo! versus João atrasou de novo? Ao fazer uma pergunta, o enunciador/redator assume a posição de não saber e transfere a responsabilidade de procurar a resposta ao interlocutor/leitor (Bredel, 2020BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020.).
A dúvida/incerteza estampada no rosto se transforma em “cara de interrogação” na oralidade. A “cara de interrogação” é a de quem não sabe a resposta. A “cara de exclamação”, por outro lado, marca o transbordamento do sujeito:
7)Ele me olhou com uma cara de exclamação.
Para Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020., tanto o ponto de interrogação como o de exclamação indicam processamentos epistêmicos do enunciador: ao usar a interrogação, o enunciador mostra que não sabe algo; ao usar a exclamação, o enunciador mostra que calcula o que o interlocutor sabe e marca o seu enunciado (como se o sublinhasse ou pintasse em cores). O ponto de exclamação aponta para diferentes intenções (exclamação, imperativo, indignação etc.) do autor, mas em primeiro lugar instancia no texto o enunciador — e consigo, o leitor (Cavalcante; Silva, 2016CAVALCANTE, C. G.; SILVA, A. C. da. Ponto de exclamação como índice de autoria: análise dialógica de um livro didático universitário de língua materna. Estudos Linguísticos, São Paulo, v. 45, n. 3, p. 748–762, 2016.).
Marcar presença através de um sinal vertical que funciona como uma barragem no fluxo do texto (Maiolino, 2009MAIOLINO, A. Das Ausrufezeichen. Von sichtbaren und unsichtbaren Imperativen. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich?: Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 27–39.) pode ser entendido como a contrapartida de marcar ausência através das reticências. A comparação se faz possível porque ambos os sinais possuem função pragmática: enquanto as exclamações inflacionam afetos, as reticências abrem crédito: o autor deixa faltar agora e confia que a lacuna será preenchida pelo leitor depois (Gregory, 2017GREGORY, S. Das Ausrufezeichen. In: LUTZ, H.; PLATH, N.; SCHMIDT, D. (org.). Satzzeichen: Szenen der Schrift. Berlin: Kultur Verlag Kadmos, 2017. p. 283–286.).
8)Não aguento mais suas reticências.
Na escrita, a posição das reticências é relativamente livre (podendo iniciar, emendar ou finalizar sentenças). Nenhum contexto gramatical demanda especificamente o uso de reticências porque elas justamente marcam a suspensão, a supressão, o que não pode ser revelado, a dúvida, a incerteza. As reticências marcam a presença da ausência durante a leitura, por isso o local em que incidem não é predeterminado, nem o seu valor: marcam algo não acessível (preenchendo uma lacuna) ou não expresso (quando assumem o mesmo valor que ‘etc.’, por exemplo). Se contrapostas à ideia da completude da “sentença” (do latim: opinião formada pelo juiz que profere seu julgamento), as reticências retiram do autor a soberania de sua afirmação e transferem para o leitor as possibilidades de interpretação do sinal. A ideia de falta, vagueza, esquiva ou infinito é concentrada (reificada) num sinal: três pontos seguidos que o autor deliberadamente usa para preencher um vazio ou convidar o leitor a pensar adiante (Abbt, 2009ABBT, C. Die Auslassungspunkte. Spuren subversiven Denkens. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich?: Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 101–116.). Na oralidade, a postura reticente de alguém passa a ser expressa por uma coisa concreta, “minhas/suas reticências”.
9)Ele é simpático entre aspas, né!
10)Bota muitas aspas aí.
Na escrita, as aspas incidem sobre toda sorte de grandezas sintáticas: quando reportam o discurso citado, podem abrir e fechar um texto, parágrafo, sentença, oração, sintagma ou palavra. Contudo, afora o contexto de um ditado ou telejornal (em que o jornalista lê o teleprompter), não é esse o uso que observamos na oralidade. Além de marcar o discurso citado, as aspas assumem — somente na escrita — a função autonímica: em Linguística, é praxe marcar entre aspas a palavra ou expressão que se toma como objeto de estudo. Schlechtweg e Härtl (2020)SCHLECHTWEG, M.; HÄRTL, H. Do we pronounce quotation?: An analysis of name-informing and non-name-informing contexts. Language and Speech, London, v. 63, n.4, p. 769-798, 2020. conduziram um experimento para averiguar se estas aspas autonímicas são pronunciadas na leitura em voz alta, e notaram uma pausa perceptível que marca as aspas. Contudo, isso não se equipara a 9) ou 10).
De modo geral, na escrita, as aspas marcam um distanciamento (do sentido convencional/do querer dizer do autor) e uma dupla voz (autor citado/ autor) (Caduff, 2009CADUFF, C. Das einfache Anführungszeichen. Zeichen auf Distanz. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich? Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 153–162.): o que é expresso entre aspas diverge da postura política, ideológica, moral e estética do próprio autor/da expectativa interpretativa do interlocutor. Aspear é um ato autoral no sentido de que as aspas sinalizam autoria e o ponto de vista do autor. Preservando sua face, o autor se posiciona e convoca o leitor a perceber e aderir à sua postura — contra aquela outra, expressa entre aspas. Em suma, as aspas sinalizam distanciamento do autor e marcam uma dupla voz/duplo sentido no texto.
Aspas que marcam ironia ou subvertem o sentido da palavra ou expressão aspeada são as mais comuns na oralidade. Diferentemente do uso linear na escrita (em que se abre aspas, se escreve a palavra ou expressão que deve ser destacada graficamente e depois se fecha as aspas), a oralidade adotou a expressão “entre aspas” seguida da palavra ou expressão a ser sinalizada. Como as aspas irônicas operam no nível dos sentidos, podem ser enfatizadas (como em 10) para graduar níveis de ironia. Observe-se que, na escrita, a repetição de aspas não é comum – mas a repetição de exclamações e interrogações é: a postura enunciativa é que ganha destaque. Mais uma vez, as várias funções das aspas na escrita são restritas a um uso específico na oralidade — atrelado a uma expressão construcionalizada.
Para Bredel (2020)BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020., o uso de aspas que marcam discurso citado envolve estratégias sintáticas para integrar o que está contido entre aspas na unidade textual. Já as aspas que marcam ironia operam apenas no nível dos sentidos: se removidas as aspas, muda o sentido, mas a forma sintática se mantém. Por isso a autora considera que as aspas que marcam ironia sejam mais gramaticalizadas que as aspas que marcam discurso citado. E são justamente as aspas mais gramaticalizadas na escrita que ganham expressão em construções na oralidade.
Observa-se ainda que expressões como em 9) ou 10) podem vir acompanhadas do gesto de aspear (segundo Cirillo, 2019CIRILLO, L. The pragmatics of air quotes in English academic presentations. Journal of Pragmatics, Amsterdam, v. 142, p. 1–15, 2019.: prototipicamente realizado por dois dedos — indicador e médio — de ambas as mãos levantadas na altura entre olhos e abaixo dos ombros que se contraem duas vezes). Esse gesto, por ser repetido, não corresponde exatamente ao gesto de desenhar aspas — portanto, não estaríamos diante de um ícone. Ademais, o mesmo gesto (em inglês: air quotes) é adotado por falantes que grafam as aspas de diversas maneiras: aspas inglesas [“ ”], aspas alemãs [,, “], aspas francesas [« »] ou aspas retas [“ “] e que adotam aspas simples ou duplas seletivamente. Conforme Cirillo (2019)CIRILLO, L. The pragmatics of air quotes in English academic presentations. Journal of Pragmatics, Amsterdam, v. 142, p. 1–15, 2019., trata-se, portanto, de um gesto convencionalizado7 7 Em um episódio da série Friends, um dos personagens, Joey, não entende o gesto: https://www.youtube.com/watch?v=CgRglfwSy00. Acesso em: 5 de jan. 2022. que, na categorização gestual, corresponderia a um ‘emblema’ (como é o sinal de OK), mas que não possui referente (não funciona como substituto da palavra).
Exceto, talvez, pelos parênteses (mãos paralelas, palmas voltadas para dentro descrevendo uma meia lua em paralelo, de cima para baixo), os outros sinais de pontuação não são gestualizados8 8 Mas isso não impede humoristas de criarem uma gramática dos gestos e sons de pontuação, a exemplo de Victor Borge, que tem um número consagrado intitulado Phonetic punctuation: https://www.youtube.com/watch?v=xJiHlt8NRqk. Acesso em: 5 de jan. 2022. Outro sketch em que os sinais de pontuação são gestualizados, dessa vez por Gregório Duvivier, é O homem pontuação, disponível no canal do Porta dos Fundos: https://www.youtube.com/watch?v=OX3f_rmlz20. Acesso em: 10 de jun. 2023. . Se, na escrita, as aspas sinalizam ao leitor que o dito precisa ser interpretado de maneira divergente do sentido convencional, na oralidade, o gesto com os dedos pode assumir a função visual das aspas. Contanto que o gesto das aspas seja executado simultaneamente com a palavra ou expressão que seria grafada entre aspas (segundo Cirillo, 2019CIRILLO, L. The pragmatics of air quotes in English academic presentations. Journal of Pragmatics, Amsterdam, v. 142, p. 1–15, 2019., predominantemente nomes e adjetivos, ou seja, itens lexicais), não é necessário verbalizar as aspas (“entre aspas”). Os parênteses, em contrapartida, precisam ser verbalizados (“só um parêntese”, “vou abrir parênteses”) para que o gesto icônico dos parênteses acompanhe a fala.
A seguir, passamos a uma proposta sobre os mecanismos por trás do surgimento de tais construções e suas interpretações no português brasileiro.
Um caso de construcionalização instantânea
Os processos conhecidos como “lexicalização” ou “degramaticalização” se referem a casos em que, grosso modo, um elemento gramatical (uma palavra) é tomado e reinterpretado como um elemento lexical, como nos exemplos em português brasileiro destacados abaixo:
11)Chega desses seus senões!
16) Não me interessam os seus porquês.
em que ‘senões’ e ‘porquês’ se referem, respectivamente, a algo como “desculpas” e “razões”. Ou seja, a função gramatical adversativa de ‘senão’ e a função explicativa de ‘porque’ são identificadas e lexicalizadas, passando de conjunções para substantivos com morfologia flexional.
No caso dos sinais de pontuação, argumentamos que temos um processo diferente, já que os sinais de pontuação não são palavras (na escrita), mas sinais tipográficos. A forma fixa que os nomes dos sinais de pontuação assumem tanto na escrita como nas microconstruções analisadas aqui é uma pista de que o processo de construcionalização não é gradual (na escala temporal, compreendendo mudanças construcionais anteriores discerníveis), mas instantâneo.
Traugott e Trousdale (2021)TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021. listam alguns processos de construcionalização instantânea de construções complexas: (i) empréstimo (estrangeirismo que, ao longo do tempo, é integrado à língua de chegada e assume traços fonético-fonológicos e ortográficos dessa língua); (ii) composição (incluindo aglutinação, justaposição e cruzamento vocabular); (iii) conversão (derivação imprópria, como é o caso de ‘senões’, ‘porquês’, ‘prós’ e ‘contras’); (iv) siglas e acrônimos (em que o ponto de chegada é a escrita).
Pelo fato de os sinais de pontuação na escrita (o ponto de partida) não serem itens morfêmicos, não somos capazes de identificar o fenômeno observado e discutido aqui com nenhum dos processos propostos na literatura especializada. O ponto de chegada não é a escrita, mas a oralidade, ou seja, é o caminho inverso de acrônimos, por exemplo, em que os itens que passam pelo processo de construcionalização são palavras morfológicas (muito> mt).
Partimos do pressuposto de que mudanças linguísticas são resultantes de projeções metafóricas e metonímicas (Lakoff; Johnson, 1980LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors we live by. Chicago: Chicago University Press, 1980.), e consideramos que os sinais de pontuação nasceram na escrita e não são palavras nem possuem correspondente fonológico (não são, eles mesmos, pronunciados na leitura em voz alta quando usados num texto escrito). Ao transferir os sinais de pontuação para construções convencionalizadas na oralidade, nossa hipótese é que o falante faça um mapeamento cognitivo de determinadas funções dos sinais de pontuação no domínio da escrita e as projete para o domínio da fala (metáfora). No âmbito de um mesmo domínio conceitual (por exemplo, os usos da vírgula), pela via da contiguidade, o falante seleciona uma função proeminente (metonímia) e a transporta para a expressão construcionalizada. Já que as unidades da escrita e da oralidade são diferentes, esses sinais assumem, na oralidade, funções menos gramaticais e mais semântico-enunciativo-discursivas.
Como vimos, não é o conjunto completo de sinais gráficos de pontuação que ganha corpo na oralidade9 9 E provavelmente isso muda de uma língua para outra: em inglês, por exemplo, somente lembramos de period e air quotes em expressões construcionalizadas. : a alínea nem consta nos compêndios gramaticais, ponto e vírgula tem baixa distribuição (apresenta baixíssima frequência nos corpora examinados por Androutsopoulos, 2020ANDROUTSOPOULOS, J. Digitalisierung und soziolinguistischer Wandel: Der Fall der digitalen Interpunktion. In: MARX, K.; LOBIN, H.; SCHMIDT, A. (org.). Deutsch in sozialen Medien. Interaktiv – multimodal – vielfältig. Berlin: de Gruyter, 2020. p. 75–94., por exemplo) e, assim como o travessão, é mais dependente de gênero textual que os outros sinais. Além disso, argumentamos que o fato de nem todos os sinais de pontuação sofrerem o processo de construcionalização provavelmente está relacionado (i) com a frequência com que ocorrem (ou são salientes) na escrita, e (ii) com o acúmulo de funções de um mesmo sinal. Verificaremos estas hipóteses a seguir.
O ponto e a vírgula são os sinais mais frequentes na escrita (Crystal, 2015CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular.; Kleppa, 2021KLEPPA, L. Entre reticências e exclamações: usos de sinais de pontuação em peças publicitárias de 1952. Cadernos de Linguística, Campinas, v. 2, n. 4, p. 1–23, 2021.), o que justificaria seu uso na oralidade: “Um achado comum é a percepção de que 90% de todos os sinais de pontuação são ou pontos ou vírgulas [...]”10 10 No original: “A typical finding is to see that 90 per cent of all punctuation marks are either periods or commas […].” (Crystal, 2015, p. 207 no Kindle). (Crystal, 2015CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular., tradução nossa). A construcionalização do ponto resulta em dois esquemas de construção: um envolvendo verbos performativos (colocar/botar/pôr um ponto final) e outro envolvendo uma conjunção (e ponto (final)). A construcionalização da vírgula resulta numa construção em que ela não se insere numa microconstrução como as demais, mas representa a si mesma e sua função de sinalizar o não-fim de uma unidade textual, contradizendo o dito (tranquilo vírgula!).
O outro fator que alimenta o léxico com construções (e se aplica aos demais sinais construcionalizados) é o acúmulo funcional: quanto mais camadas além da sintática o item assumir na escrita, mais propenso é à construcionalização e à entrada como item lexical na oralidade. Como vimos no Quadro 2, apenas o ponto assume uma única função, ao passo que os outros sinais de pontuação todos acumulam funções.
Os sete sinais de pontuação que aparecem mais corriqueiramente em construções na fala, a saber: [.], [,], [?], [!], [...], [( )] e [“ ”], podem ser divididos em duas categorias quando construcionalizados:
-
sinais referenciais: [.], [?], [!], [...] são sinais de pontuação finalizadores que, quando usados na fala, se referem a um término, dúvida, ênfase ou suspensão. Não operam sobre o conteúdo que foi dito, ou seja, não desempenham qualquer operação linguística, mas têm uma contribuição que pode ser parafraseada por um verbo ou substantivo (e ponto final = e acabou; cara de interrogação = cara de dúvida, cara de exclamação = cara de espanto, suas reticências = sua hesitação).
-
sinais metalinguísticos: [,], [( )], [“ ”] são sinais de pontuação que relativizam o conteúdo a algo diferente do literal/convencional/esperado que foi dito: é o caso de falar “entre aspas” (ou gesticular), ou mesmo o uso de “vírgula” (trabalha muito vírgula!) em que se nega o que foi dito antes sem usar uma negação explícita. Já no caso de se “fazer/abrir um parêntese”, muda-se a qualidade da informação (hierarquicamente subordinada) daquilo que é emoldurado entre parênteses. Nesse sentido, os sinais metalinguísticos realizam operações sobre o conteúdo que foi dito.
Para Traugott & Trousdale (2021TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021., p. 328–329), “[...] muitas construções lexicais são referenciais: as construções nominais, em particular, estão mais sujeitas à influência de fatores sociais [...]”. No caso em análise neste texto, o que podemos apontar é a influência das práticas de escrita nas práticas orais. Coulmas (2014, pCOULMAS, F. Escrita e sociedade. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014., p. 25) afirma que “fala e escrita, embora aparentadas por serem governadas por regras, são sistemas autônomos que, uma vez criada a escrita, se desenvolvem e se influenciam reciprocamente”11 11 Parece plausível supor que uma língua que não tenha sistema de escrita também não tenha sinais de pontuação na oralidade. .
Recuperando os esquemas das construções analisadas aqui, notamos que verbos são convocados nas expressões contendo [.] e [( )]: o falante faz algo quando coloca um ponto final e quando abre parênteses (encerra o assunto/conta uma história paralela). Os sinais duplos [“ “] e [( )] admitem a preposição espacial entre para emoldurar unidades. Por fim, o sujeito (a cara) aparece relacionado aos sinais enunciativos [!] e [?].
Conclusão
Neste texto, nossa questão principal foi entender como e por que sinais de pontuação podem surgir em expressões cristalizadas na fala e o que significam. No percurso que adotamos, depois de definir critérios formais e funcionais do que são os sinais de pontuação, concordamos com Chittolina (2020CHITTOLINA, R. M. M. Laços da pontuação: escritor e leitor em um mesmo sinal. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, [S.l.], v. 18, n. 34, p. 295–311, 2020., p. 310): “Pontuar faz parte das escolhas do autor quando o mesmo se insere na escrita e, por isso, pontuar diz também sobre a inserção singular de cada um na linguagem”. Se entendemos que pontuar é um gesto autoral, compreendemos por que falantes sentem necessidade de recorrer aos sinais de pontuação para se expressar também na oralidade.
Partimos de microconstruções em que há (expressivamente) um sinal de pontuação e contrastamos suas funções com aquelas que o mesmo sinal assume na escrita. Não examinamos aqui construções em que figura mais de um sinal, como por exemplo o ponto e a vírgula combinados: escrever sem ponto nem vírgula12 12 Uma rápida busca no Google (realizada em 01/01/22) pela expressão “sem ponto nem vírgula” retornou os seguintes contextos: “Amor sem ponto nem vírgula”, “falar sem ponto nem vírgula”, “ler sem ponto nem vírgula”, “pensar sem ponto nem vírgula” e “escrever sem ponto nem vírgula”. Em todas essas microconstruções, está presente a ideia de fluência, fluxo sem restrições, de forma corrida, sem controle, sem limites. Seria interessante, em trabalhos futuros, examinar essas construções e suas propriedades. .
Percebemos que a função fonológica é inexistente (as pausas na oralidade não correspondem às divisões gramaticais); que a dimensão sintática (comum a todos os sinais de pontuação na escrita) fica difusa nas construções convencionalizadas (o ponto encerra o assunto, não mais a frase); que as funções semântica, pragmática, enunciativa e discursiva ganham destaque (sinais como parênteses ganham expressões como “fazer um parêntese” em que tanto os parênteses — os dois — como o material linguístico contido neles é referenciado); e que a função enunciativo-discursiva (ou pragmática) se torna saliente (os sinais são convocados para fazer algo). Chamamos esse processo de construcionalização instantânea porque não estamos diante de unidades atômicas, mas complexas (as microconstruções) e porque não percebemos gradualidade no processo de construcionalização (do ponto de vista diacrônico). Como não percebemos a possibilidade de flexão morfológica nos nomes dos sinais de pontuação integrados às construções, perguntamo-nos se os sinais de pontuação nas microconstruções analisadas aqui possuem estatuto de palavra morfológica.
Na escrita, todos os sinais de pontuação são usados metalinguisticamente. Quando empregados em construções cristalizadas na oralidade, os sinais finalizadores (todos) assumem valor referencial, ao passo que vírgula, aspas e parênteses permanecem exercendo uma função metalinguística. Por fim, os sinais metalinguísticos duplos (aspas e parênteses) podem ser gestualizados e usados concomitantemente com a fala. Esses resultados apontam para as diferentes gradiências de construcionalização (do ponto de vista sincrônico) que os sinais de pontuação alcançaram na oralidade.
Esperamos que este primeiro trabalho sobre sinais de pontuação em expressões convencionalizadas na oralidade, além de servir como exemplo de um caso peculiar de construcionalização, possa servir de apoio para outras pesquisas sobre esse tema.
REFERÊNCIAS
- ABBT, C. Die Auslassungspunkte. Spuren subversiven Denkens. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich?: Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 101–116.
- ANDROUTSOPOULOS, J. Digitalisierung und soziolinguistischer Wandel: Der Fall der digitalen Interpunktion. In: MARX, K.; LOBIN, H.; SCHMIDT, A. (org.). Deutsch in sozialen Medien. Interaktiv – multimodal – vielfältig. Berlin: de Gruyter, 2020. p. 75–94.
- ARAÚJO, E. A construção do livro: princípios da técnica de editoração. Rio de Janeiro: Lexikon Editora Digital, 2008.
- BAKHTIN, M. Os gêneros do discurso. In: BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 277–326
- BERNARDES, A. C. de A. Pontuando alguns intervalos da pontuação. 2002. Tese (Doutorado em Linguística) - Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2002.
- BREDEL, U. Interpunktion. Heidelberg: Universitätsverlag Heidelberg, 2020.
- BRODY, J. De V. Punctuation: art, politics and play. Durham: Duke University Press, 2008 Paginação irregular.
- CADUFF, C. Das einfache Anführungszeichen. Zeichen auf Distanz. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich? Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 153–162.
- CAVALCANTE, C. G.; SILVA, A. C. da. Ponto de exclamação como índice de autoria: análise dialógica de um livro didático universitário de língua materna. Estudos Linguísticos, São Paulo, v. 45, n. 3, p. 748–762, 2016.
- CHACON, L. Oralidade e letramento na construção da pontuação. Revista Letras, Curitiba, n. 61 esp., p. 97-122, 2003.
- CHACON, L. A pontuação e a demarcação de aspectos rítmicos da Linguagem. DELTA, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 1–16, 1997.
- CHITTOLINA, R. M. M. Laços da pontuação: escritor e leitor em um mesmo sinal. Revista Virtual de Estudos da Linguagem, [S.l.], v. 18, n. 34, p. 295–311, 2020.
- CIRILLO, L. The pragmatics of air quotes in English academic presentations. Journal of Pragmatics, Amsterdam, v. 142, p. 1–15, 2019.
- COULMAS, F. Escrita e sociedade. Tradução de Marcos Bagno. São Paulo: Parábola Editorial, 2014.
- CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular.
- CUNHA, K. Z. da; PORTO, M. M. Pausa para respirar: o papel da pontuação na leitura. In: OLIVEIRA, R. P.; QUAREZEMIN, S. (org.) Artefatos em gramática: ideias para aulas de língua. Florianópolis: DLLV/CCE/UFSC, 2020. p. 131–164.
- DAHLET, V. A pontuação e as culturas da escrita. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, n.8, p. 287–314, 2006a.
- DAHLET, V. As (man)obras da pontuação. Usos e significações São Paulo: Associação Editorial Humanitas / Fapesp, 2006b. v. 1. 302 p.
- DAHLET, V. A pontuação e sua metalinguagem gramatical. Revista Estudos da Linguagem, Belo Horizonte, v. 10, n. 1, p. 29–41, 2002.
- DAHLET, V. Pontuação, sentido e efeitos de sentido. In: SEMINÁRIO DO GEL, 45., 1998, Campinas. Anais [...]. São José do Rio Preto: UNESP/IBILCE, 1998. v. XXVII. p. 465–471.
- DAHLET, V. Pontuação, língua, discurso. In: SEMINÁRIO DO GEL, 24., 1995, São Paulo. Anais [...]. São Paulo: GEL Est. de São Paulo, 1995. v. 1. p. 337–340.
- FLUSSER, V. ?. O Estado de S. Paulo, 22 de outubro de 1965.
- GUMBRECHT, H. U. Der Doppelpunkt. Rund, kantig und umpolend. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich?: Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 61–69.
- GREGORY, S. Das Ausrufezeichen. In: LUTZ, H.; PLATH, N.; SCHMIDT, D. (org.). Satzzeichen: Szenen der Schrift. Berlin: Kultur Verlag Kadmos, 2017. p. 283–286.
- HENRIQUES, C. C. Nomenclatura gramatical brasileira: 50 anos depois. São Paulo: Parábola Editorial, 2009.
- HOUAISS, A.; VILLAR, M. de S. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
- KLEPPA, L. Para ensinar os sinais de pontuação. Revista Diadorim, Rio de Janeiro, v. 24, n. 2, p. 573–591, 2022.
- KLEPPA, L. Entre reticências e exclamações: usos de sinais de pontuação em peças publicitárias de 1952. Cadernos de Linguística, Campinas, v. 2, n. 4, p. 1–23, 2021.
- KLEPPA, L. Onze sinais em jogo. Campinas: Ed. da Unicamp, 2019.
- LAKOFF, G.; JOHNSON, M. Metaphors we live by Chicago: Chicago University Press, 1980.
- LEAL, T. F.; GUIMARÃES, G. L. Por que é tão difícil ensinar a pontuar? Revista Portuguesa de Educação, Braga, v. 15, n. 1, p. 129–146, 2002.
- MAIOLINO, A. Das Ausrufezeichen. Von sichtbaren und unsichtbaren Imperativen. In: ABBT, C.; KAMMASCH, T. (org.). Punkt, Punkt, Komma, Strich?: Geste, Gestalt und Bedeutung philosophischer Zeichensetzung. Bielefeld: Transcript Verlag, 2009. p. 27–39.
- NUNBERG, G. The linguistics of punctuation. Stanford: Center for the Study of Language and Information, 1990.
- PACHECO, V. Percepção dos Sinais de Pontuação enquanto Marcadores Prosódicos. Estudos da Língua (gem), Vitória da Conquista, v. 3, n. 1, p. 205–232, 2006.
- POTTS, C. The Logic of Conventional Implicatures Oxford: Oxford University Press, 2005.
- ROBINSON, P. The philosophy of punctuation. New Republic, New York, 26 abr. 1980.
- ROCHA, I. L. V. O sistema de pontuação na escrita ocidental: uma retrospectiva. DELTA, São Paulo, v. 13, n. 1, 1997.
- RODRIGUES, V. V.; CIDADE, D. N. Desgarramento e pontuação em textos de vestibulandos. Confluência, Rio de Janeiro, n. 61, p. 124-156, 2021.
- SCHLECHTWEG, M.; HÄRTL, H. Do we pronounce quotation?: An analysis of name-informing and non-name-informing contexts. Language and Speech, London, v. 63, n.4, p. 769-798, 2020.
- SCLIAR-CABRAL, L.; RODRIGUES, B. B. Discrepâncias entre a pontuação e as pausas. Cadernos de Estudos Linguísticos, Campinas, n. 26, p. 63–77, 1994.
- SONCIN, G.; TENANI, L. Emprego de vírgula e prosódia do português brasileiro: aspectos teórico-analíticos e implicações didáticas. Filologia e Linguística Portuguesa, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 473–493, 2015.
- TRAUGOTT, E. C.; TROUSDALE, G. Construcionalização e mudanças construcionais. Tradução de Taísa Peres de Oliveira e Angélica Furtado da Cunha. Petrópolis: Vozes, 2021.
- WATSON, C. Semicolon: The past, present, and future of a misunderstood mark. Londres: Harper Collins, 2019 Paginação irregular.
- WIRTH, U. (In Klammern). In: LUTZ, H.; PLATH, N.; SCHMIDT, D. (org.). Satzzeichen: Szenen der Schrift. Berlin: Kultur Verlag Kadmos, 2017. p. 31–35.
-
1
É importante ressaltar que não encontramos trabalhos sobre o tema na literatura especializada (i.e., sobre sinais de pontuação na fala como investigamos aqui) e, portanto, construímos nosso objeto de estudo baseado na intuição de falantes nativos, na consulta informal a falantes nativos, em buscas no Google, bem como em recursos audiovisuais, como alguns citados ao longo deste artigo. A elaboração de um corpus especificamente dedicado a dados como os que analisamos aqui é tarefa para outra pesquisa; nosso intuito é fornecer uma primeira tipologia e caminho de análise. A seção “Questões teórico-metodológicas” descreve em mais detalhes a busca e elaboração dos dados.
-
2
Esta regra se estende aos sinais de interrogação e exclamação em espanhol, que apresentam a contraparte invertida no início da sentença.
-
3
Se procurarmos por tatuagens de sinais de pontuação na internet, facilmente encontraremos ponto e vírgula: nas redes sociais, transitou a história de uma mulher que, depois de perder o pai, tatuou um ponto e vírgula no corpo para simbolizar que a sua vida não parou, que continua; variações disso são tatuagens de CONT;NUE ou da linha que representa os batimentos cardíacos interrompida por um ponto e vírgula.
-
4
A questão de fundo é que as mudanças sejam graduais, por isso fala-se em “nanopassos” ou “microconstruções” que representam arranjos linguísticos a cada recorte temporal. Em perspectiva diacrônica, o analista espera observar, a cada microconstrução, a diminuição da composicionalidade, maior produtividade e o aumento da abstração semântico-pragmática, por exemplo.
-
5
Como notou um/a dos/as pareceristas deste texto, a quem agradecemos, alguns dos casos podem ser aceitáveis numa interpretação que envolva ênfase ou ironia. Seja como for, os julgamentos de gramaticalidade representam a intuição dos autores, além de não havermos encontrado nada semelhante em nossas buscas.
-
6
No original: “A question is a question, anybody can know that a question is a question and so why add to it the question mark when it is already there when the question is already in the writing. Therefore I never could bring myself to use a question mark […].” (Crystal, 2015CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular.).
-
7
Em um episódio da série Friends, um dos personagens, Joey, não entende o gesto: https://www.youtube.com/watch?v=CgRglfwSy00. Acesso em: 5 de jan. 2022.
-
8
Mas isso não impede humoristas de criarem uma gramática dos gestos e sons de pontuação, a exemplo de Victor Borge, que tem um número consagrado intitulado Phonetic punctuation: https://www.youtube.com/watch?v=xJiHlt8NRqk. Acesso em: 5 de jan. 2022. Outro sketch em que os sinais de pontuação são gestualizados, dessa vez por Gregório Duvivier, é O homem pontuação, disponível no canal do Porta dos Fundos: https://www.youtube.com/watch?v=OX3f_rmlz20. Acesso em: 10 de jun. 2023.
-
9
E provavelmente isso muda de uma língua para outra: em inglês, por exemplo, somente lembramos de period e air quotes em expressões construcionalizadas.
-
10
No original: “A typical finding is to see that 90 per cent of all punctuation marks are either periods or commas […].” (Crystal, 2015CRYSTAL, D. Making a point: the pernickety story of English punctuation. London: Profile Books, 2015. E-book. Paginação irregular., p. 207 no Kindle).
-
11
Parece plausível supor que uma língua que não tenha sistema de escrita também não tenha sinais de pontuação na oralidade.
-
12
Uma rápida busca no Google (realizada em 01/01/22) pela expressão “sem ponto nem vírgula” retornou os seguintes contextos: “Amor sem ponto nem vírgula”, “falar sem ponto nem vírgula”, “ler sem ponto nem vírgula”, “pensar sem ponto nem vírgula” e “escrever sem ponto nem vírgula”. Em todas essas microconstruções, está presente a ideia de fluência, fluxo sem restrições, de forma corrida, sem controle, sem limites. Seria interessante, em trabalhos futuros, examinar essas construções e suas propriedades.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
11 Mar 2024 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
13 Out 2022 -
Aceito
30 Set 2023