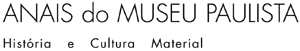RESUMO
Este artigo analisa como o Museu Histórico de Belo Horizonte consistiu em uma das primeiras manifestações da imaginação museal de Juscelino Kubitschek (1902-1976) e as singularidades desse projeto no contexto museológico brasileiro. Embora existam diversos estudos sobre a trajetória do ex-presidente do Brasil, o seu pensamento sobre museus e patrimônios ainda carece de análises aprofundadas. Desse modo, por meio de análise documental e revisão bibliográfica foram reconstruídos momentos decisivos da concepção do museu, inaugurado em 1943, as estratégias de fabricação de legados e algumas articulações do então prefeito da capital mineira em prol de consolidar seu pensamento museológico, a exemplo da relação com o jornalista Abílio Barreto, organizador da Seção de História do Arquivo Municipal de Belo Horizonte, e com o advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Conclui-se que a criação do Museu Histórico de Belo Horizonte traduz a configuração de uma imaginação museal singular. Nesse aspecto, apesar de não romper com os discursos da maioria dos museus brasileiros de sua época, traduz uma opção pela inserção da história recente que reconhece o museu como um dos espaços na disputa por projetos de futuro.
PALAVRAS-CHAVE:
Imaginação museal; Juscelino Kubitschek; Museu Histórico de Belo Horizonte
ABSTRACT
This article analyzes how the Belo Horizonte Historical Museum is a first manifestations of Juscelino Kubitschek’s museum imagination (1902-1976) and the singularities of this project in the context of the Brazilian museological context. Although there are several studies on the trajectory of the former president of Brazil, his thinking about museums and heritage still needs to be analyzed in depth. In this way, through documental analysis and bibliographic review, analyzes decisive moments of the museum’s conception, inaugurated in 1943, the strategies and some articulations of the then mayor of the capital of Minas Gerais, in order to consolidate his museological thought, were reconstructed, like the relationship with journalist Abílio Barreto, organizer of the History Section of the Municipal Archive of Belo Horizonte, and with lawyer Rodrigo Melo Franco de Andrade, director of the National Historical and Artistic Heritage Service. It concludes that the creation of the Belo Horizonte Historical Museum translates the configuration of a singular museal imagination. In this respect, despite not breaking with the speeches of most Brazilian museums of his time, he opted for the insertion of recent history, recognizing the museum as one of the spaces in the dispute for projects of the future.
KEYWORDS:
Museal imagination; Juscelino Kubitschek; Belo Horizonte Historical Museum
INTRODUÇÃO
Este artigo examina o campo museológico brasileiro a partir da investigação da imaginação museal de Juscelino Kubitschek (1902-1976) no período em que assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, em 1940, até a inauguração do Museu Histórico de Belo Horizonte, em 16 de fevereiro de 1943. O intuito é observar as características dessa imaginação em ações de musealização e patrimonialização, visando compreender como sua atuação mobilizou discursos e práticas, produzindo uma forma singular de transformar as coisas em linguagem, efetuando uma “narrativa poética das coisas”.3 3 Chagas (2003).
Essa narrativa pode ser traduzida na ideia de “imaginação museal”, formulada por Mario Chagas e compreendida como a “capacidade singular e efetiva de determinados sujeitos articularem no espaço (tridimensional) a narrativa poética das coisas”.4 4 Ibid., p. 64. É uma operação seletiva de intenções e de gestualidades para a produção de determinadas crenças a partir da manipulação de experimentações nos museus, compreendidos enquanto espaços de produção, arquivamento e circulação de memórias:
É com base nessa imaginação que os museus são produzidos, reconhecidos, lidos, inventados e reinventados. A minha sugestão é que a imaginação museal seja compreendida como a capacidade humana de trabalhar com a linguagem dos objetos, das imagens, das formas e das coisas. A imaginação museal é aquilo que propicia a experiência de organização no espaço - seja ele um território ou um desterritório - de uma narrativa que lança mão de imagens, formas e objetos, transformando-os em suportes de discursos, de memórias, de valores, de esquecimentos, de poderes etc., transformando-os em dispositivos mediadores de tempo e pessoas diferentes.5 5 Id., 2005, p. 57.
Essas impressões podem ser aplicadas a grande parte do pensamento dos intelectuais brasileiros que tiveram significativo impacto no campo do patrimônio e dos museus. Em virtude do desconhecimento de sua produção ou da dispersão das fontes, muitos permanecem silenciados. Todavia, é inegável que impactaram, e ainda impactam, as narrativas e as formas de compreensão do passado e de imaginação do futuro. Isso é significativo ao reconhecer que “a história do patrimônio é amplamente a história da maneira como uma sociedade constrói seu patrimônio”.6 6 Poulot (2009, p. 12).
A pesquisa foi estimulada pela profusão e dispersão dos escritos de Kubitschek relacionados ao tema dos museus e do patrimônio (autobiografias, discursos, mensagens e correspondências), pelas iniciativas institucionais nesse campo simbólico (solicitação de tombamentos, criação de museus e estímulo a preservação de bens culturais) e pela especificidade de seu pensamento, que vislumbrou produzir a crença em uma “memória do futuro”. O artigo integra um projeto mais amplo que pretende mapear as fontes relacionadas a atuação de Kubitschek no campo dos museus e patrimônios; compreender o contexto e as especificidades de sua imaginação museal a partir dos temas recorrentes e da construção de repertórios na relação com outros agentes; e analisar como essa imaginação museal consistiu em estratégia de produção da crença em uma “presença do futuro”.
Por meio de análise documental e da revisão bibliográfica, o artigo reconstrói momentos decisivos da concepção do Museu Histórico de Belo Horizonte e algumas articulações do então prefeito da capital mineira em prol de consolidar seu pensamento museológico, a exemplo das relações com o jornalista Abílio Barreto, organizador da seção de história do Arquivo Municipal de Belo Horizonte, e com advogado Rodrigo Melo Franco de Andrade, diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. A hipótese é que a criação do Museu Histórico de Belo Horizonte traduz a configuração de uma imaginação museal dissonante que, apesar de não romper com os discursos da maioria dos museus brasileiros da época, efetuou uma opção pela inserção da história recente, reconhecendo o museu como um dos espaços privilegiados na disputa por projetos de futuro.
BELO HORIZONTE E A CONFIANÇA NO FUTURO
Um museu de história atual da cidade assenta em Belo Horizonte como uma condecoração no peito de uma criança. Poder-se-ia dizer, com alguma malícia, que fundar agora um museu da história de Belo Horizonte equivale a encomendar, desde já, ao alfaiate, o terno de casamento de um pirralho ainda de calças curtas e gorro com nome de navio na frente. [...] No entanto, a iniciativa do prefeito Juscelino Kubitschek é digna de todos os louvores e poucos, talvez, tenham penetrado o pensamento que presidiu este empreendimento. [...] Fundando agora o seu museu, Belo Horizonte exprime sua confiança no futuro.7 7 Folha de Minas (1941, p. 3).
“Belo Horizonte exprime sua confiança no futuro”. Com essa frase, o articulista da Folha de Minas destacou, em 1941, a importância da criação de um museu na capital mineira. Meu entendimento é que esse argumento traduz a imaginação museal difundida naquele contexto pelo então prefeito Juscelino Kubitschek: o museu como narrativa para o futuro. Na verdade, consiste em uma ruptura com o discurso, ainda recorrente, do museu como espaço do passado ou como lugar de coisas velhas, suscitando um discurso inovador da instituição museológica como antecipação do futuro. Não por acaso, o texto evidencia que “a iniciativa do prefeito Juscelino Kubitschek é digna de todos os louvores e poucos, talvez, tenham penetrado o pensamento que presidiu este empreendimento”.8 8 Ibid.
Pensar o museu como lugar de antecipação do futuro propicia compreendê-lo não apenas como um lugar de memória, conforme o entendimento de Pierre Nora,9 9 Nora (1993). mas como espaço de produção de conhecimento e de utopia. Orientação que dialoga com as análises de Ingridde Santos10 10 Santos (2020). quando examinou o papel dos museus e suas relações com as formas de imaginar o futuro, demonstrando como esses espaços de experiência, então determinados pelo passado, passaram a ser instâncias de inauguração do futuro. Ao contextualizar o campo dos museus, no final do século XIX e início do XX, a pesquisadora evidencia que, especialmente os museus históricos e os museus de ciência, tiveram um papel importante para alcançar o futuro a partir do discurso de progresso, atingindo o auge “com a realização das exposições universais, que se constituíam como celebrações dos avanços alcançados pela indústria, como apogeu de um processo evolutivo na história”.11 11 Ibid., p. 38. Nessa linha de interpretação, os museus não expressariam somente imagens de futuro, ou o que se entende como sentimento de futuridade, mas seriam espaços de projeção de utopias:
Na modernidade, a imagem de futuro se apresentava como combustível da maquinaria museológica, em que a potência histórica hegemônica do progresso pôde ser percebida até nas brechas dos museus, nem sempre seguindo os seus passos, mas resistindo, conflitando com ele - resistência que, assim como a aderência, também aparece como um sintoma, como um efeito da maneira como o futuro estava sendo construído.12 12 Ibid., p. 99.
Não por acaso essa pauta se fez presente na Belo Horizonte dos anos de 1930 e 1940, tendo como centralidade a criação de um museu histórico, cuja emergência destacava a construção da modalização temporal moderna e traduzia as transformações no sentido de história. Desse modo, os museus históricos não se resumiam em arquivar o passado, mas sobretudo em registrar os episódios correntes, gerando, assim, um novo discurso baseado no desejo de progresso.13 13 Cf. Santos, op. cit.
Segundo Ulpiano Bezerra de Meneses,14 14 Meneses (1994). o museu histórico consiste em uma tipologia museológica que opera “objetos históricos”, ou seja, problemas históricos que evidenciam a dinâmica social. É uma instituição que coleta, preserva, documenta e expõe objetos transformados em documentos históricos: “Os artefatos não devem constituir objetos de investigação em si, mas vetores para a investigação de aspectos relevantes na organização, funcionamento e transformação de uma sociedade”.15 15 Id., 2003, p. 28. Já Cecília Helena de Salles Oliveira compreende os museus de história como instituições que lidam com o tempo, suas representações e a historicidade dos significados, reconhecendo que, com o decorrer dos anos, essa tipologia sofreu modificações e adquiriu sentidos matizados: “Conforme a época, protagonizando um universo de forças políticas, compartilhado por diversos agentes que com eles estabelecem intenso debate intelectual, tornando-se, concomitantemente, sujeitos e objetos de disputas sobre o passado, suas apropriações e seus usos”.16 16 Oliveira (2013, p. 105).
Nesse aspecto, é necessário considerar as heranças políticas e simbólicas, as escolhas e enquadramentos de narrativas delineadas pelos gestores no intuito de definir qual narrativa museológica seria a mais conveniente nas disputas sobre o passado ou de múltiplos passados.17 17 Cf. Sarlo (2007). Seguindo esse entendimento, a criação de um museu histórico em Belo Horizonte contribuiu para a sistematização e a legitimação de uma determinada versão da história local e nacional, de um campo de forças em torno de múltiplas narrativas e interesses a partir de processos de atribuição de sentido que estabeleceram leituras autorizadas e combateram versões concorrentes.18 18 A dissertação de Célia Regina Araújo Alves (2008) evidencia como o Museu Histórico de Belo Horizonte consistiu em uma das instituições responsáveis por forjar e legitimar uma vertente oficial de leitura da história da nova capital, tendo o extinto arraial de Curral del Rei como mito de origem. O trabalho apresenta as disputas a respeito do modo como a narrativa museológica deveria expressar esse passado, a exemplo do debate caloroso na imprensa local entre Abílio Barreto, diretor do museu, e o médico Edelweiss Teixeira, um ano antes da inauguração do museu; e as controvérsias entre Barreto e o conservador-pesquisador Raul Tassini, também funcionário do museu, em torno do reconhecimento de outras versões sobre o passado da capital. É nessa trama que foi projetado um museu histórico para Belo Horizonte, visando estabelecer uma coerência na narrativa sobre uma cidade recém criada: forjar um nexo para o passado, transformar fatos recentes em “preciosidades históricas” e fabricar sua vocação como símbolo da modernidade.
Em 1891, o Congresso Constituinte mineiro decidiu pela mudança da sede do governo, então em Ouro Preto. Em 1893, a área do arraial de Belo Horizonte foi escolhida como localidade para a construção da nova capital, inaugurada em 12 de dezembro de 1897. Planejada e construída em três anos, a cidade marcou o imaginário como símbolo dos ideais republicanos e de uma nova imagem de Minas Gerais no discurso da nação. Tornou-se, assim, “uma espécie de leitmotiv do imaginário urbano, a ideia de progresso conduzia as projeções da futura capital de Minas, em suas diferentes e até mesmo conflitantes extrações”.19 19 Julião (2011, p. 118). Em meio a esse motivo recorrente, a ideia de um museu histórico parecia incompatível.
É provável que isso tenha impactado o entendimento de grande parte da população de Belo Horizonte e, talvez, por isso, as insistentes justificativas dos articulistas e idealizadores do museu histórico sobre a plausibilidade dessa instituição em uma cidade recém-criada. Era como se os museus destoassem do ideal de modernidade ou, pelo menos, da imagem de museu amplamente difundida como lugar do passado, mais apropriada para a antiga capital. Nesses termos, o museu compreendido como antítese de uma leitura de progresso impediria a nova capital mineira de se tornar um espaço privilegiado para essa experiência, já que ela, na data da inauguração do museu, ainda não possuía meio século.
Na Belo Horizonte do período, existiam alguns museus escolares, prática muito valorizada pela Instrução Pública nos anos de 1920.20 20 Cf. Parrela (2012). Provavelmente, a ausência de museus de outra tipologia, especialmente os históricos, também justificou as desconfianças sobre a legitimidade dessa instituição em uma cidade recém-inaugurada. O Museu Paula Oliveira - batizado em homenagem ao doutor Francisco de Paula Oliveira, doador de uma coleção mineralógica-, criado por alguns membros da Comissão Construtora da Nova Capital em 24 de agosto de 1894,21 21 Cf. Barreto (1950). não existia mais naquele momento. A matéria intitulada “Bello Horisonte III”, publicada no jornal Cidade do Rio, em 13 de setembro de 1895, destacou que ele era um museu modesto, mas que possuía “algumas preciosidades - amostras de minerais, algumas raras, de grande valor, já catalogadas, com os nomes científicos, os lugares onde foram achadas, e os nomes dos ofertantes”,22 22 Bello... (1895, p. 1). evidenciando que essa primeira iniciativa era um museu de mineralogia. Por não ser um museu histórico, é provável que não tenha sofrido questionamentos ao ser fundado juntamente à capital. Já o Museu Mineiro, previsto na Lei nº 126, de 11 de julho de 1895, e criado pela Lei nº 528, de 20 de setembro de 1910, com as seções “História Natural”, “Etnografia” e “Antiguidades de Minas Gerais”, somente foi instalado em 1982.23 23 De acordo com Letícia Julião (2002), o Museu Mineiro foi instalado em 1982 com a integração de três coleções: Coleção Arquivo Público Mineiro; Coleção Pinacoteca do Estado; e Coleção Geraldo Parreiras. Nesse aspecto, também é importante reconhecer que o perfil enciclopédico do seu projeto contemplava o desejo de uma coleção de “antiguidades” relativas aos períodos da capitania, da província e do estado de Minas Gerais, não explicitando a nova capital.
Em virtude dessas questões, a insistência de Juscelino Kubitschek, prefeito no quinquênio 1940-1945, em criar um museu histórico em Belo Horizonte causou estranhamento. O próprio Juscelino, no discurso de inauguração do museu, em 1943, destacou essa excepcionalidade ao salientar que “era um acontecimento especial, porquanto nenhuma outra cidade, com apenas 45 anos, tem um museu”.24 24 Nada... (1943, p. 3). Seguindo esse raciocínio, diversas são as matérias nos jornais de Belo Horizonte que justificaram a existência de um museu na cidade com poucas décadas de existência:
A criação do Museu Municipal de Belo Horizonte veio permitir que se reúna tudo aquilo que se relacione com o passado da capital, muito embora se observe que a cidade, por contar apenas 43 anos de existência, não tenha ainda um passado cheio de fatos interessantes, marcantes de épocas diversas. Mas a esta objeção se pode antepor a afirmação de que se torna mais fácil ir organizando o museu desde já, do que deixá-lo para épocas em que se tornem mais difíceis os elementos indispensáveis à sua realização. Por isso justifica-se a iniciativa da municipalidade.25 25 Museu... (1941).
Está inaugurado o Museu de Belo Horizonte. Pode parecer aos que têm ideia superficial a respeito do que seja um museu (e esses não são poucos), que não se justifique um museu para uma cidade tão nova, mais moça do que considerável parte de seus habitantes. Museu de que? - perguntarão. Ora, se Belo Horizonte tem apenas 45 anos, Curral del Rei, a matriz de onde saiu a capital, era velhíssimo, interessando, pois, ao museu tudo quanto se referir ao arraial ou dele existir.26 26 Museu... (1943).
Por ser nova a capital, nem por isso é de importância restrita à sua história. A vida da cidade não tem seus aspectos interessantes delimitados pelo tempo. As curiosas sugestões da nossa história, nesse período de menos de cinquenta anos, estão na intensidade das realizações que promovemos, do surto espantoso do nosso progresso. Grandes acontecimentos se assinalaram nesse espaço de tempo e, embora de ontem, já se acham esquecidos. Acresce que quanto mais rapidamente se organizasse o museu da cidade mais completo seria o mesmo no futuro. A prefeitura compreendeu essa necessidade na sua verdadeira extensão.27 27 Nada..., op. cit., p. 3.
As três matérias do Estado de Minas explicitadas anteriormente dialogam com a da Folha de Minas, transcrita na epígrafe deste item. Provavelmente, os articulistas reproduziram as justificativas apresentadas pela municipalidade em resposta às críticas sobre a criação do museu. O conteúdo recorrente dos argumentos a favor da instituição diz respeito à necessidade de evitar a dispersão dos objetos, de destacar a relação entre a nova capital com o extinto arraial de Curral del Rei (povoação originária da mineração no início do século XVIII) e de sublinhar a importância de preservar a memória recente como testemunha de um desejo de modernidade. Na verdade, a articulação dessas três justificativas acompanhou os debates ao longo da década de 1940, pauta que sobreviveu à inauguração do Museu Histórico de Belo Horizonte, em 1943, e colocou em evidência aquilo que o articulista destacou como o rompimento com a “ideia superficial a respeito do que seja um museu”,28 28 Museu... (1943). delineando o surgimento de uma imaginação museal singular.
A justificativa do museu como meio para evitar a dispersão ou a destruição dos objetos foi possivelmente impactada pela atuação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Sphan) (criado pela Lei nº 378, de 13 de janeiro de 1937) que, em suas primeiras décadas de atuação, privilegiou a atuação dos mineiros e a preservação de bens móveis e imóveis coloniais em Minas Gerais. Maria Cecília Londres Fonseca29 29 Fonseca (2005). demonstra o protagonismo de Minas e dos mineiros na criação do Sphan ao sublinhar a posição do grupo e o seu papel no movimento modernista e na vida política do país nas décadas de 1920 e 1930, destacando a importância do encontro das cidades coloniais mineiras como momentos fundamentais para a valorização do barroco e da preservação dos monumentos históricos, a exemplo das viagens de Alceu Amoroso Lima e Rodrigo Melo Franco de Andrade, em 1916; de Lúcio Costa, nos anos de 1920; e de Mário de Andrade, em 1919 e 1924. Informa ainda que, para os modernistas, Minas se transformou em polo irradiador e catalizador de ideias: “Não só os mineiros, como cariocas, paulistas e outros passaram a identificar em Minas o berço de uma civilização brasileira”, concluindo que conceberam “a proteção dos monumentos históricos e artísticos mineiros - e, por consequência, do resto do país - parte da construção da tradição nacional”.30 30 Ibid., p. 92-93.
Mariza Veloso31 31 Veloso (2018). também destaca a proeminência dos mineiros no grupo de intelectuais responsáveis pela discussão da questão do patrimônio e pela criação e consolidação do Sphan, reconhecendo sua atuação formal e informal na instituição ou, conforme designou, como integrantes da “Academia Sphan”: Rodrigo Melo Franco de Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Martins de Almeida, Ascânio Lopes, Milton Campos, Francisco Campos, Abgar Renault, Gustavo Capanema, Pedro Nava, Emílio Moura, Afonso Arinos Melo Franco e João Alphonsus. A autora também demonstra como o barroco mineiro se tornou referência para os modernistas, uma espécie de matriz fundadora da nação. Desse modo, sua hipótese é que o grupo pioneiro do Sphan construiu “uma ‘teoria da temporalidade’ brasileira ao fundar, no barroco, a origem da cultura brasileira, podendo, assim, dar significado ao passado e construir a ideia de futuro. Essa concepção parece fugir do conservadorismo, na medida em que pressupõe a construção de um futuro modificado”.32 32 Ibid., p. 64. Não é sem razões que a pesquisadora compreende que, no discurso do grupo modernista, Minas é representada como civilização, e, portanto, os intelectuais fabricaram uma relação metonímica entre Minas Gerais e a nação, um Estado eminentemente barroco. O argumento é que existiria uma homologia estrutural entre as primeiras décadas do século XVIII e as do XX, o que possibilitou aos modernistas se apropriarem das ruínas barrocas: “Barroco e modernismo possuem em comum a tensão da ordem rompida e a obsessão permanente para reconstruí-la. O primeiro, por meio da religião; o segundo, por intermédio da construção da nação com base em valores estéticos e históricos”.33 33 Ibid., p. 53.
Portanto, não foi por acaso que, em 1933, Ouro Preto foi elevada à condição de monumento nacional e tombada, em 1938, como patrimônio nacional, e que, no âmbito dos bens móveis e integrados, os intelectuais do Sphan criaram em Minas Gerais o Museu da Inconfidência (Decreto-Lei n.º 965, de 20 de dezembro de 1938), em Ouro Preto; o Museu do Ouro (Decreto-Lei n.º 7.483, de 23 de abril de 1945), em Sabará; o Museu Regional de São João del-Rei, em São João del-Rei; o Museu Regional Casa dos Ottoni, no Serro; e o Museu do Diamante (Lei n.º 2.200, de 12 de abril de 1954), em Diamantina, visando evitar a dispersão dos objetos históricos e artísticos.34 34 Cf. Costa (2002). Embora no caso do Museu Histórico de Belo Horizonte existam especificidades destoantes, inclusive, da imaginação museal construída pela política museológica do Sphan, conforme demonstrarei posteriormente, sua relevância dialogou com o papel dos museus na valorização de “peças desconsideradas até essa data por sua singeleza, liberdade plástica ou caráter utilitário”.35 35 Ibid., p. 27. Certamente, a atuação do Sphan na criação do Museu da Inconfidência, na antiga capital mineira, e do Museu do Ouro, em Sabará, legitimou o intento do prefeito da capital em empreender um discurso similar, conforme matéria sobre a criação do Museu de Belo Horizonte: “Há por aí muitos aventureiros a adquirirem de particulares por dez réis de mel coado muitos objetos de apreciável valor”.36 36 Um museu... (1941).
A segunda e terceira justificativas da criação de um museu histórico em Belo Horizonte destacam a estreita relação entre o extinto arraial de Curral del Rei e a nova capital e a importância de preservar a memória recente como testemunha de um ideal de progresso. Esses, por sua vez, consistem nos principais argumentos da obra de Abílio Velho Barreto, pesquisador responsável pela organização e primeiro diretor do museu, além de um dos principais responsáveis pela escrita da história da nova capital.
De acordo com Célia Alves,37 37 Alves (2008). o Museu Histórico consolidou a versão oficial do passado de Belo Horizonte, construída por meio da narrativa de Barreto nos livros Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga e história média, publicados, respectivamente, em 1928 e 1936, vinculando os objetos e documentos a uma perspectiva evolucionista, cuja cronologia surge no arraial do Curral del Rei, passa pelo arraial de Belo Horizonte, atravessa a Comissão Construtora da Nova Capital e atinge o ápice na capital Belo Horizonte. Pensamento que dialoga com o de Maria Auxiliadora Faria, quando analisou a obra do autor: “Barreto considerava a história como processo linear, em que o tom normativo e a ideia de progresso é o fio condutor para se reconstituir o passado, as fontes documentais e, de preferência, as oficiais”38 38 Faria (1996, p. 29). .
Isso é importante quando se observa uma tentativa de estabelecer pontes entre Ouro Preto e Belo Horizonte como parte de um projeto de construção da nação. As capitais seriam duas faces de um mesmo discurso, “símbolos de um projeto identitário no qual conviviam tradição e modernidade, tornando-se fundamentais para a legitimação da arte e cultura nacionais e também para a percepção do país como moderno”.39 39 Silva (2010, p. 117). Portanto, o discurso evocado destaca uma continuidade de princípios, uma espécie de destino a ser cumprido em prol do ideário da nação:
A mudança de capital de Ouro Preto para Belo Horizonte não representou - como temiam seus contemporâneos - uma ruptura novo/velho, moderno/antigo, mas uma recomposição que resulta em outro binômio, tradição/futuro, uma vez que o passado colonial representado por Ouro Preto e pela Inconfidência Mineira não são abandonados, pelo contrário, são utilizados como uma hábil solução. Se por um lado tinha por objetivo neutralizar disputas políticas que enfraqueceram o poder do estado, por outro, conseguiram construir um discurso de consagração de Ouro Preto como cidade-relíquia, baseada no argumento de que fora ali que se forjara o sentimento de liberdade e a luta pela independência nacional.40 40 Braga (2010, p. 63).
Essa intersecção entre as duas capitais mineiras também é evidenciada na narrativa do Museu Histórico de Belo Horizonte ao dedicar sua sala inicial para Ouro Preto, disposição que será apresentada nos próximos itens. No museu, Célia Alves41 41 Alves, op. cit. reconhece que Abílio Barreto privilegiou objetos oriundos da esfera pública, provenientes das repartições da prefeitura e do estado, valorizando aqueles produzidos pela Comissão Construtora da Nova Capital e documentos mais recentes produzidos pela municipalidade. Desse modo, a seleção de uma documentação contemporânea, especialmente da década de 1940, também “indica que Barreto, no afã de valorizar a capital, a cidade moderna, lançou mão desses itens com a finalidade de demonstrar a contínua transformação do espaço urbano, entendido como progresso constante”.42 42 Ibid., p. 40-41.
Nesse aspecto, é inegável a influência de Abílio Barreto na tessitura inicial da imaginação museal de Juscelino Kubitschek. A documentação transcrita neste artigo, consultada no Arquivo Privado Abílio Barreto e no Fundo Museu Histórico, localizados no Museu Histórico Abílio Barreto, em Belo Horizonte, e no Arquivo Central do IPHAN - seção Rio de Janeiro -, evidenciam essa relação. É frequente encontrar anotações manuscritas de Juscelino, autorizando e encaminhando as propostas de Barreto, a exemplo das inseridas no “Relatório apresentado por Abílio Barreto ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte relativamente à viagem que efetuou ao Rio de Janeiro em visita aos museus daquela cidade cumprindo ordens de S. Excia”, em 20 de agosto de 1941.43 43 Cf. Barreto (1941a). Também não é incomum ofícios expedidos pelo então prefeito da capital mineira inspirados em pareceres de Barreto, chegando ao ponto de defender e abraçar seus posicionamentos quando discordantes dos apresentados por Rodrigo Melo Franco de Andrade e os técnicos do Sphan, a exemplo do ofício nº 175/42 enviado ao diretor do Sphan, em 27 de outubro de 1942,44 44 Cf. Kubitschek (1942). sobre os acervos a serem incorporados ao museu.
Portanto, é possível afirmar que as primeiras expressões da imaginação museal de Juscelino Kubitschek surgiram da sua confluência com a trajetória de Abílio Barreto. Isso não significa, por sua vez, que as ações do então prefeito da capital mineira apenas reproduziam o pensamento de Barreto, que possuía notoriedade devido à sua longeva atuação como jornalista, memorialista, servidor do Arquivo Público Mineiro e organizador do Arquivo Municipal da Prefeitura. Diversas são as matérias de jornal e entrevistas de Barreto que informam o Museu Histórico como fruto de uma iniciativa pessoal de Juscelino Kubitschek, algumas forjando, inclusive, o mito fundador de sua “sensibilidade”, em Diamantina, sua cidade natal. Outros reforçavam a criação do museu como mais uma das obras características do projeto de modernização e, nesse aspecto, “propunha a valorização do passado da cidade, que, a partir da modernização no presente, prepararia Belo Horizonte para o futuro”.45 45 Cedro (2009, p. 147). De acordo com Marcelo Cedro, ao apregoar a construção de uma nova identidade, haveria uma convergência desse projeto com a ideologia do Estado Novo46 46 “O regime que se instalara, através de um golpe, em novembro de 1937, embora se denominasse ‘novo’, caracterizava-se mais pela manutenção da ordem política já estabelecida e consolidada nas mãos da elite nacional. Apresentando-se como capaz de superar os problemas relativos ao fraco desempenho econômico e social do país e apontando soluções a partir da constituição de um governo forte e centralizador que concretizasse o Estado nacional, o Estado Novo pode ser definido a partir de três princípios presentes durante o período de 1937 a 1945: autoritarismo, centralismo e nacionalismo. [...] As políticas implantadas pelo Estado Novo estavam centradas na consolidação da nação, o que se daria a partir da inclusão do país na lógica industrial do mundo capitalista, e através da homogeneização cultural que permitiria a afirmação da brasilidade e, consequentemente, da identidade nacional” (SILVA, 2010, p. 22). : “Juscelino começaria, a partir do museu, a resgatar as origens de Belo Horizonte, que remontavam ao arraial do Curral del Rei, e as aglutinaria aos elementos da época moderna”.47 47 Cedro, op. cit., p. 149.
Na verdade, apesar de uma proposta singular, o Museu Histórico de Belo Horizonte não rompeu com “a visão positivista reinante no período, a qual prezava a ideia do passado como matriz da história”.48 48 Santos e Costa (2006b, p. 19). O museu apresentava os objetos e documentos como provas, testemunhos das elites belo-horizontinas, legitimando uma leitura positivista da história da cidade, que privilegiava “o passado no qual a elite letrada se construiu e realizou sua própria trajetória”.49 49 Alves, op. cit., p. 54. Narrativa que não destoava das instituições em que Abílio Barreto visitou para “reunir conhecimentos técnicos que servissem de orientação e base para a organização, instalação e funcionamento do Museu de Belo Horizonte”, conforme destacado no relatório enviado para Juscelino Kubitschek, em 20 de agosto de 1941: Museu Histórico Nacional, Museu de Belas Artes, Museu Nacional e Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro.50 50 Cf. Barreto (1941a).
Desse modo, é possível visualizar em Abílio Barreto e em Juscelino Kubitschek uma imaginação museal no entre-lugar. Apesar de não romperem com os discursos da maioria dos museus brasileiros de sua época, ao apresentar uma leitura celebrativa do passado, reconhecer os objetos enquanto “relíquias” (“preciosidades históricas”), selecionar determinados marcos e personagens proeminentes e enfatizar aspectos custodiais e tecnicistas, efetuaram uma opção pela inserção da história recente, reconhecendo o museu como um espaço central na disputa por projetos de futuro. É evidente que isso se deveu, em grande medida, ao fato de o museu ter “nascido quase ao mesmo tempo que a cidade”, conforme explicitado no documento elaborado por Mário Lúcio Brandão, segundo diretor do Museu Histórico de Belo Horizonte, em 12 de agosto de 1947,51 51 Brandão (1947). fator que exigiu uma reelaboração do imaginário sobre museus e do que deveria ser objeto de sua salvaguarda.
De acordo com Maria Inez Cândido e Silvana Cançado Trindade,52 52 Cândido e Trindade (2004). o museu adotou à época um conceito arrojado de objeto museológico, ao dialogar “objetos relíquias” remanescentes do antigo arraial e “ruínas precoces” oriundas das alterações urbanas da capital nascente. Na verdade, é possível visualizar a intenção de Juscelino Kubitschek e de Abílio Barreto em transformar as “ruínas precoces” em “relíquias”:
Tomada ao mesmo tempo em que o prefeito Juscelino Kubitschek fazia construir na cidade o complexo arquitetônico da Pampulha, arrojada obra de traço modernista, a decisão, ousada e certamente controvertida, de criar um museu histórico numa cidade de 44 anos foi demonstração de uma sensibilidade pouco comum, numa época em que homens públicos, em geral, eram movidos pela ideologia do progresso, nem sempre identificada com a preservação das marcas do passado. O parceiro de Juscelino nessa empreitada foi o historiador, memorialista e jornalista Abílio Velho Barreto, um colecionador atento à passagem do tempo e às mudanças provocadas pelo desenvolvimento da cidade. [...] Abílio acabou por tornar-se parceiro decisivo, imprimindo sua face ao museu que acabou, para sempre, associado à sua figura. Destacamos esses dois nomes por estarem impressos não apenas na placa inaugural do Museu Histórico de Belo Horizonte, mas também na imaginação dos belo-horizontinos. São nomes associados à criação do Museu e à preservação da memória da cidade, e muito do que foi feito pela Instituição e por ela deve-se necessariamente a profunda associação desses homens à essa vocação primordial do Museu.53 53 Pimentel (2004, p. 14).
Na verdade, é importante visualizar a criação do Museu Histórico como integrante de um projeto mais amplo das políticas culturais marcado pela modernização de Belo Horizonte, o que implica considerar também a criação do complexo da Pampulha no mesmo contexto. Segundo Marcelo Cedro,54 54 Cedro, op. cit. a construção da Pampulha significou a inserção da capital mineira no rol das cidades modernas, não somente em virtude dos impactos na estética, na circulação e no traçado da cidade. Tornou-se símbolo da modernidade ao cumprir as normas contidas na Carta de Atenas, superando os modelos modernos já existentes: “O Cassino, a Casa do Baile, a Igreja de São Francisco de Assis, as avenidas construídas e a grande área verde estavam inseridos em um complexo que pode ser considerado símbolo da modernidade tardia instaurada na cidade de Belo Horizonte”.55 55 Ibid., p. 82. A articulação da imaginação de um conjunto de artistas - o arquiteto Oscar Niemeyer, o pintor Cândido Portinari, o paisagista Burle Marx, o escultor Alfredo Ceschiatti - com as propostas de Juscelino Kubitschek obteve repercussão nacional e internacional, tornando-se, para alguns autores, um “marco de uma reflexão sobre modernidade. [...] A posterior construção da cidade moderna - Brasília - representou a continuidade de um projeto menor de modernização urbana, iniciado em Belo Horizonte, com as mesmas personagens”.56 56 Souza (1998, p. 24).
O fato é que a Pampulha foi inaugurada oficialmente em 16 de maio de 1943, ainda em construção, três meses depois da inauguração do Museu Histórico de Belo Horizonte. As ações simultâneas contribuem para a compreensão da imaginação museal nascente: o museu histórico construiria sua narrativa articulando passado e presente, com vistas ao futuro, e, para tanto, legitimaria as ações da municipalidade ao legitimar as “ruinas precoces” como parte de um projeto de modernização. Como destacou José Neves Bittencourt,57 57 Bittencourt (2004). a criação do museu estava articulada ao processo de modernização e expansão da cidade, não por acaso a sede estava localizada no Bairro Cidade Jardim, criado a partir dos princípios modernistas:
Percorrendo as salas da Fazenda Velha e desfilando diante daquelas peças e quadros antigos, que assinalam o passado e fases da evolução da capital, e, depois, chegando à varanda ampla da mesma fazenda e estendendo a vista para a cidade moderna, não se sabe o que é maior dentro de nós: se a emoção pelo que vimos lá dentro, ou pelo panorama de progresso que se descortina, banhado dessa luz admirável de Belo Horizonte. E acabamos reconhecendo que as duas emoções se confundem no entusiasmo pela obra civilizadora dos mineiros e amor à capital de Minas.58 58 Félix (1943).
Esse misto de temporalidades, ou de narrativas acionadas por esse processo, consiste em uma das marcas da imaginação museal de Juscelino Kubitschek ao longo de toda sua trajetória. Em meio a essa tessitura, ocorreu um minucioso processo de monumentalização em que Juscelino e Abílio Barreto não apenas legitimaram suas narrativas sobre o passado, o presente e o futuro da capital mineira, como também fabricaram legados à posteridade. De acordo com Luciana Heymann,59 59 Heymann (2004). os legados não são apenas uma herança material e política deixada às gerações futuras, mas entendidos como investimento social em virtude de uma determinada memória individual, transformada em exemplar ou fundadora de um projeto, ou seja, um trabalho social de produção da memória resultante da ação de “herdeiros” ou “guardiões”: “a produção de um legado implica na atualização constante do conteúdo que lhe é atribuído, bem como na afirmação da importância de sua rememoração”.60 60 Ibid., p. 3.
É nesse sentido que problematizo os agentes interessados em selecionar estratégias para a criação, manutenção e divulgação de determinadas memórias, fomentando a criação de espaços de evocação da imagem e de atualização de trajetórias consideradas exemplares, por meio de exposições, eventos e comemorações. Não desconsidero, portanto, as estratégias que os próprios agentes forjaram com vistas à criação de uma memória que sobrevivesse às suas mortes, das quais a constituição de acervos e a instauração de escritas de si são ilustrativos exemplos. Mas também me interessa perceber as apropriações posteriores dessa memória e as formas de encenação da imortalidade instituídas pelos agentes e instituições que se revestem da condição de “herdeiros” ou “guardiões”, a exemplo do Museu Histórico de Belo Horizonte. Por isso, a produção do legado se estabelece junto à produção da crença nele. Tais embates contribuem para a instituição de reverberações em torno de determinadas narrativas, ou seja, do processo de monumentalização, a exemplo de quando uma pessoa passa a integrar o “patrimônio” de uma nação ou região, tornando-se homem ou mulher-monumento.61 61 Cf. Abreu (1994).
Nesse aspecto, nos próximos itens evidenciarei os bastidores do colecionismo que deu origem ao museu, a escolha da Fazenda Velha do Leitão como sua sede e o delineamento do discurso expositivo. Para tanto, é fundamental compreender as escolhas e estratégias de Juscelino Kubitschek e Abílio Barreto no intuito de estabelecerem uma determinada leitura do passado de Belo Horizonte, visando legitimar suas ações presentes e forjar, dessa maneira, uma memória para o futuro.
A SEÇÃO DE HISTÓRIA E O MUSEU IMAGINADO
Em 1935, convidado Abílio Barreto para organizar o Arquivo Municipal, encontrou ali algumas peças históricas que estavam naturalmente indicadas para figurar em um museu. Separou-as e a elas foi reunindo outras que possuía e que lhe foram aparecendo. Em 1941, era apreciável o número desses objetos históricos, e o prefeito Juscelino Kubitschek de Oliveira, pelo Decreto nº 91, de 21 de maio, criou uma seção de história da cidade anexa àquele Arquivo, encarregando o organizador deste de organizar também a seção. Surgiu então a ideia de se transformar aquela seção em museu.62 62 Barreto (1950, p. 311).
Essas memórias foram registradas pelo jornalista e pesquisador Abílio Barreto em sua obra Resumo Histórico de Belo Horizonte (1701-1947), publicada em 1950. Na última parte do livro, Barreto apresentou anotações sobre a capital mineira na gestão do prefeito Juscelino Kubitschek. Ao relatar sobre a criação do Museu Histórico de Belo Horizonte, elegeu como mito fundador seu trabalho na organização do Arquivo Municipal, a partir de 1935, e a criação, por Kubitschek, de uma seção de história, anexa ao arquivo, em 1941, visando coletar e organizar um conjunto de “objetos históricos” que, segundo suas palavras, eram “naturalmente indicadas para figurar em um museu”.
Abílio Barreto nasceu em Diamantina, em 1883. Em 1895, aos doze anos de idade, se mudou com a família para Belo Horizonte, trabalhando como comerciário, distribuidor de jornais e contínuo na 9ª Divisão da Comissão Construtora da Nova Capital. Posteriormente, trabalhou como tipógrafo na Imprensa Oficial e como oficial na Secretaria de Finanças, até ser transferido, em 1924, para o Arquivo Público Mineiro. Em 1935, Abílio Barreto tornou-se diretor do Arquivo Municipal de Belo Horizonte, na gestão do prefeito Otacílio Negrão de Lima (1935-1938).63 63 Cf. Abreu (1996).
Na verdade, é importante destacar os dez anos em que Barreto trabalhou no Arquivo Público Mineiro até sua aposentadoria, em 1934. Nesse período, além da organização de documentos e livros, o servidor estadual teve contato frequente com objetos que também integravam o acervo daquela instituição. Isso pode ser observado na trajetória do Arquivo Público Mineiro que, em sua lei de criação (Lei n. 126, de 11 de julho de 1895), estabelecia que a instituição estadual deveria receber e conservar documentos, entendidos como “papéis e objetos”, além de reunir, em uma sala especial do arquivo, um acervo com vistas à criação de um museu: “quadros e estátuas, mobílias, gravuras, estofos, bordados, rendas, armas, objetos de ourivesaria, baixos relevos, esmaltes, obras de cerâmica e quaisquer manifestações de arte no estado, desde que tenham valor propriamente artístico ou histórico”. De acordo com Ivana Parrela,64 64 Parrela (2007). apesar do museu não ter sido criado, o Arquivo recolheu objetos desde os primeiros anos de sua existência. Ao evidenciar a política de recolhimento e preservação de 1910 a 1938, a pesquisadora demonstrou que “esteve bastante atrelada às relações pessoais dos seus diretores, tanto aos documentos quanto aos objetos tridimensionais, embora não possam ser negligenciados os diversos apelos em cartas circulares a várias repartições do Estado e a particulares”.65 65 Ibid., p. 96. Destaca, nesse aspecto, doações de diversos objetos históricos e artísticos nas primeiras décadas do século XX.66 66 Isso ocorre ao ponto de na matéria “Belo Horizonte também tem o seu museu”, publicada no Diário da Tarde, em 16 de março de 1940, o articulista confundir a coleção exposta no Arquivo Público Mineiro com um museu: “O Arquivo Público Mineiro, por exemplo, ainda é muito ignorado dos próprios mineiros. [...] Deslumbrado ficará quem transpuser o seu largo portão, verificando que Belo Horizonte possui, também, o seu museu histórico. Na primeira sala estão expostos canhões, prensa de cunhar moedas, coroas, relógios antiguíssimos, e mais um infinidades de objetos, além de farto documentário fotográfico, atestando, pitorescamente, toda a tradição de Minas Gerais” (BELO..., 1940).
Desse modo, quando Abílio Barreto assumiu a direção do Arquivo Municipal de Belo Horizonte, em 1935, ele já possuía contato com coleções de objetos considerados “históricos”, integrantes da coleção do Arquivo Público Mineiro. Certamente teve a sensibilidade para visualizar no Arquivo da Prefeitura “algumas peças históricas que estavam naturalmente indicadas para figurar em um museu” e, conforme registrou, “a elas foi reunindo outras que possuía e que lhe foram aparecendo”.67 67 Barreto (1950, p. 311). Nesse aspecto, é importante reconhecer, nas primeiras décadas do século XX, o “trânsito de funcionários e acervos entre as repartições do estado e do município”.68 68 Parrela (2012, p. 209).
O Arquivo Municipal de Belo Horizonte se originou, em 1895, da Secretaria da Comissão Construtora da Nova Capital, que tinha por responsabilidade a organização do Arquivo Geral dos Papéis da Comissão. Após a criação da Prefeitura da Cidade de Minas (posteriormente, de Belo Horizonte), período entre 1898 e 1901, esses documentos foram mantidos pela municipalidade, tendo concluído a organização do arquivo em 1912. Em virtude de seu crescimento, o arquivo, localizado até então em um espaço nos fundos do prédio da prefeitura, foi transferido, em 1922, para o porão.69 69 Cf. Parrela (2004). Nesse contexto, Abílio Barreto assumiu a direção do Arquivo Municipal, experiência que, somada à anterior com o Arquivo Público do Estado, contribuiu para sua atividade como memorialista da nova capital, localizando os documentos fundamentais para a elaboração dos seus livros, conforme atestou nas “Ponderações iniciais” de Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história média: “História fonte, elaborada com elementos fragmentados e volante dos arquivos, a história de Belo Horizonte não poderia deixar de ser coletora e o repositório dessa documentação”.70 70 Barreto (1936, p. 9).
Em meio à sua dupla atividade profissional nos arquivos - como organizador e pesquisador -, Barreto também se deparou com os objetos históricos neles contidos. No caso do Arquivo Municipal, não é incomum entrevistas em que ele relata ter se deparado com esses objetos logo quando assumiu a direção:
Desde 1935, quando fui chamado pela Prefeitura para dirigir o expurgo e organização do Arquivo Municipal, que se ressentia da falta desse trabalho desde a época da mudança da capital, encontrando ali um molho de chaves das últimas casas do extinto arraial de Belo Horizonte, antigo Curral del Rei, e alguns outros objetos e documentos dignos de figurar em um Museu, entrevi a possibilidade e a conveniência da criação de um instituto cultural. [...] Guardei aquelas velhas peças com esse ainda vago objetivo. Naturalmente, a esses objetos se foram juntando outros, que recolhia sempre e tratava de manter em exposição à entrada do Arquivo, como uma espécie de propaganda. [...] Perseverando sempre na aquisição e conservação de preciosas cousas para o imaginado museu, já por esse tempo era bem apreciável o número e a qualidade dos objetos que possuíamos em uma sala anexa ao Arquivo da Prefeitura.71 71 Mensagem... (1943, p. 1, grifo nosso).
O depoimento de Barreto revela sua ação colecionista durante os nove anos em que dirigiu o Arquivo Municipal, acrescentando “preciosas cousas” ao acervo de objetos remanescentes do extinto arraial de Curral del Rei. O intuito era a criação de uma instituição cultural ou, conforme destacou na entrevista, integrar o “imaginado museu”, prova disso são os objetos colocados “em exposição à entrada do Arquivo, como uma espécie de propaganda”. O fato é que essa atividade, que inicialmente parecia se voltar para a reunião de objetos relacionados exclusivamente ao antigo arraial, passou a ser realizada sob a orientação de Barreto que, por sua vez, alterou os critérios de seleção para além das “velhas peças” então existentes na coleção.
Quando assumiu a direção do Arquivo Municipal e ampliou a coleção de objetos nele existente, ao ponto da coleção ocupar uma sala anexa ao arquivo, Abílio Barreto já havia publicado Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga e estava finalizando o segundo volume, dedicado ao que ele reconhecia como uma “história média”, lançado em 1936. Nesse aspecto, os critérios utilizados para a seleção e leitura dos documentos apresentados nos livros também impactaram a seleção de objetos que integravam a coleção. Assim como os documentos escritos, os objetos eram visualizados como “provas”, utilizando-os para atestar sua narrativa histórica em uma perspectiva linear, “organizada ou ordenada [nenhum dos dois termos são inocentes] pelo autor, segundo uma periodização cronológica tradicional [história antiga, história média...], própria de uma história evolucionista, tipicamente positivista, em vigor à época, no Brasil”.72 72 Salgueiro (1996, p. 36). Nesse entendimento, a cultura material reunida por Barreto no Arquivo da Prefeitura, reproduzia, em grande medida, o seu entendimento de “memória histórica” em torno de Belo Horizonte. Desse modo, aos objetos relacionados à cidade de Ouro Preto, ao arraial de Curral del Rei e ao arraial de Belo Horizonte, já existentes no arquivo, somaram-se os oriundos da Comissão Construtora da Nova Capital e de Belo Horizonte. É possível, nessa leitura, compreender que os critérios de acumulação seguiram a sistematização de seu “resumo histórico” da nova capital, apresentada em cinco grandes temas: I - O arraial; II - O problema da mudança da capital; III - Primeiro período de construção da cidade; IV - Segundo período da construção da cidade; V - A cidade.73 73 Cf. Barreto (1950).
Em outras palavras, é possível reconhecer que a atitude colecionista de Barreto ampliou o entendimento de documento histórico (ou de “preciosidades históricas” como ele se referia) e, ao mesmo tempo, os objetos a serem expostos em seu “imaginado museu”. Era como se a cultura material autenticasse o documento escrito contido no arquivo e vice-versa, como se ambos pudessem comprovar a versão oficial do passado encenada nas obras de Abílio Barreto.
Nesse aspecto, a intenção de criar um museu em Belo Horizonte acompanhava Abílio Barreto desde 1935, já na gestão do prefeito Octacílio Negrão de Lima (1935-1938). Em entrevista, Barreto afirmou que, ao dar conhecimento da existência das “preciosidades históricas” no Arquivo Municipal, o prefeito se comprometeu em “estudar as possibilidades da fundação de um museu na capital”, embora ele questionasse se “teria Belo Horizonte, capital de ontem, material em quantidade e qualidade suficientes para um instituto dessa natureza”.74 74 Mensagem..., op. cit., p. 1. O memorialista ainda sublinhou que, apesar de sua “constante argumentação no sentido de provar que não nos faltava tal material e de mostrar a inteira oportunidade da providência, a ideia ficou em estado de hibernação”.75 75 Ibid., p. 2.
Barreto continuou como diretor do Arquivo Municipal na gestão do prefeito José Oswaldo de Araújo (1938-1940). Segundo suas informações, “ao ensejo de voltarem ao domínio da Prefeitura o sobrado em ruína e as terras da Fazenda Velha do Leitão, repontou no espírito do Prefeito o pensamento de se fundar ali um Museu Histórico”, chegando a ser tomadas “providências preliminares; mas, por motivos diversos, estagnou-se de novo aquele pensamento”.76 76 Ibid., p. 1. Na verdade, é possível perceber essas “providências preliminares” no relatório que Abílio Barreto enviou ao inspetor do Expediente e Comunicação, em 3 de janeiro de 1940:
Entre as cousas que existiam no Arquivo e as ainda da Câmara Municipal, existiam alguns quadros, bustos, plantas e mapas, chaves das últimas casas do arraial de Belo Horizonte e a primeira grinalda metálica que fora depositada na sepultura do Cemitério do Bonfim. Tínhamos reservado uma sala anexa ao Arquivo, onde íamos reunindo esses e outros objetos preciosos para o futuro museu que viesse a organizar em Belo Horizonte. Mas a sala a tal fim destinada foi ocupada pela seção de material de expediente, e os objetos aí existentes foram transportados para um salão do quarto pavimento da Prefeitura, terminada, então, a nossa responsabilidade pela guarda e conservação desses objetos.77 77 Barreto (1940).
O fato é que, conforme descreveu Barreto, “estagnou-se o pensamento” sobre o “museu imaginado” para Belo Horizonte, chegando ao ponto dos objetos reunidos no arquivo serem transferidos para um salão no quarto pavimento da prefeitura. Abílio Barreto reconheceu que essa transferência simbolizou o término de sua responsabilidade sobre a preservação dos objetos até então reunidos, não sem antes realizar uma última tentativa de organizar, com Otávio Penna, o museu.78 78 Cf. Alves, op. cit. Em matéria publicada no periódico Mensagem, ele informou sobre a retomada da ideia da criação do museu quando Juscelino Kubitschek foi nomeado prefeito de Belo Horizonte pelo interventor de Minas Gerais, Benedito Valadares, em 1940: “O alto e clarividente espírito do dr. Juscelino Kubitschek de Oliveira que, ao primeiro golpe de vista sobre o empreendimento imaginado [o museu], entusiasmou-se pela ideia e determinou mesmo a sua concretização”.79 79 Mensagem..., op. cit., p. 1.
Juscelino Kubitschek coordenava a área de urologia no Hospital Militar de Belo Horizonte. Foi convidado, em 1933, para assumir a chefia de gabinete do governador Benedito Valadares, responsável por seu ingresso no cenário político. Em 1934, foi eleito deputado federal, trajetória interrompida com o fechamento do Legislativo, em 1937, pelo presidente Getúlio Vargas.80 80 Cf. Cedro, op. cit. De acordo com Marcelo Cedro,81 81 Ibid. Juscelino não aceitou inicialmente o convite de Benedito Valadares para assumir a Prefeitura de Belo Horizonte devido à decepção com a arbitrariedade do Estado Novo ao extinguir o Congresso. Todavia, antes mesmo de sua resposta, sua nomeação foi publicada no Diário Oficial em 16 de abril de 1940, tendo sido empossado dois dias depois. Durante seu mandato como prefeito da capital mineira, “contribuiu para a modernização da cidade e para a sua integração ao ideário de progresso implementado pelo Estado Novo”.82 82 Ibid., p. 23.
É interessante captar aqui a imaginação museal de Juscelino Kubitschek no início de sua vida pública. Conforme demonstrado, apesar da ideia de criar um museu de história ter sido estimulada durante anos por Abílio Barreto, os dois gestores anteriores não conseguiram concretizar o intento. Desse modo, é importante sinalizar a criação do Museu Histórico de Belo Horizonte como um projeto pessoal de Juscelino, integrando-o ao seu projeto de reinvenção da capital mineira. Nesse aspecto, se destaca o Decreto nº 91, de 26 de maio de 1941, em que o prefeito criou a seção de história como núcleo inicial do museu da cidade:
Decreto nº 91, de 26 de maio de 1941. Cria a seção de história, núcleo do Museu da Cidade. O prefeito de Belo Horizonte, usando de atribuições legais, resolve criar, na Inspetoria do Expediente, anexa ao arquivo, e sem aumento de pessoal, a seção de história, como núcleo do museu da cidade, a ser instalado na Fazenda Velha, no Córrego do Leitão, competindo à mesma, além da informação sobre tudo o que diga respeito ao passado de Belo Horizonte, a coleta, classificação e conserva de cousas ao mesmo ligadas. Mando, portanto, a quem o conhecimento e execução do presente decreto pertencerem, que o cumpra e faça cumprir tão inteiramente como nele se contém. Belo Horizonte, 26 de maio de 1941. - O prefeito Juscelino Kubitschek. Publicado e registrado nesta Inspetoria do Expediente e Comunicações aos vinte e seis do mês de maio de mil novecentos e quarenta e um. O inspetor - João Lúcio Brandão.83 83 Belo Horizonte (1941).
A criação da Seção de História consistiu na oficialização do museu imaginado por Abílio Barreto, agora sob a legitimação de Juscelino. O Decreto, ao explicitar que a seção de história seria a responsável pela coleta, classificação e conservação de objetos que integrariam o futuro Museu da Cidade, além de sugerir a tipologia de museu histórico, estabelecia o responsável pelo projeto de definição de uma narrativa para a cidade, visto que a criou na inspetoria anexa ao Arquivo Municipal, sob a direção de Barreto. Outra informação relevante é sobre o lugar onde seria instituído o futuro museu: na Fazenda Velha, no Córrego do Leitão, considerado o “único prédio inalterado existente do antigo arraial” de Curral del Rei, argumento apresentado, inclusive, nas obras de Barreto.84 84 Barreto (1950, p. 311).
Competia, assim, aos funcionários do Arquivo Municipal da Prefeitura organizar os objetos existentes e obter novas doações para a Seção de História. Após a publicação do Decreto, os jornais noticiaram que os funcionários iniciaram a coleta de livros, objetos de arte e de interesse histórico, informando a existência de “um rico candelabro da velha matriz de Boa Viagem, as chaves de várias casas do arraial de Curral del Rei, a urna contendo a pedra fundamental do antigo edifício dos Correios” e que, além desses, “muitos objetos interessantes têm sido postos à disposição do prefeito para o futuro museu da cidade”.85 85 Lançados... (1941).
Já tinha o município, em sua seção de arquivo, a urna de bronze com vários documentos, tirados da pedra fundamental do antigo prédio do Correios e Telégrafos que foram doados pela Sul América; com a coroa de bronze que foi colocada na primeira sepultura do Bonfim, ou seja, no túmulo da senhorita Berta De Jaegher cujo pai mandou buscar o ornamento na Bélgica; com uma coleção de chaves das últimas casas do extinto arraial; com uma coleção de cadernetas de campo da Comissão Construtora da capital; com o fac-símile do decreto de inauguração da nova capital; grande cópia de documentos da Comissão Construtora, retratos, quadros e fotografias da cidade, em várias fases, constituindo tudo em bom início para os mostruários, dependendo agora do espírito de colaboração dos mineiros que tenham objetos relacionados com Belo Horizonte, para que os organizadores do Museu possam obter copioso material.86 86 Museu... (1941).
Em meio à ampliação, pesquisa e organização do acervo integrante da Seção de História, em 4 de agosto de 1941, Abílio Barreto efetuou uma viagem para visitar os museus do Rio de Janeiro seguindo ordens de Juscelino Kubitschek. O objetivo era conhecer formas de organização e outros conhecimentos técnicos visando a instalação e funcionamento do Museu Histórico de Belo Horizonte. Juscelino enviou uma carta de apresentação aos diretores do Museu Histórico Nacional, Museu de Belas Artes, Museu Nacional e Casa de Rui Barbosa solicitando que apresentassem os procedimentos museológicos para Barreto. Ao relatar suas impressões das visitas técnicas,87 87 Barreto (1941a). Barreto destacou que o Museu Histórico Nacional era o que mais se enquadrava nos moldes do museu imaginado para a capital mineira, certamente devido às similaridades com a tipologia do acervo.88 88 De acordo com Célia Alves (2008, p. 43), a visita ao Museu Histórico Nacional impactou Abílio Barreto não somente no delineamento da museografia a ser desenvolvida nas salas do Museu de Belo Horizonte, mas no mesmo tipo de documentação. Informa que o memorialista preenchia manualmente as fichas-guia, anotações que eram datilografadas, em sua maioria, pela funcionária Maria d’Apparecida Hermeto: “A descrição do acervo foi feita, criteriosamente, por Abílio Barreto durante os anos em que trabalhou na organização e consolidação do MHBH, entre 1941 e 1946. Registrou até o objeto de número 568, correspondente a um aparelho radiofônico”.
Todavia, apesar dos pontos de contato, que impactou a documentação e a forma de expor os objetos, é importante destacar algumas diferenças entre os dois museus. No caso do Museu Histórico Nacional, Gustavo Barroso, seu diretor, reverberou um paradigma, hoje considerado tradicional, que reitera a museologia como estudo da finalidade e organização de museus, conjunto de estudos que a compreende e relaciona aos objetivos e instrumentalização deles, conhecido como “estudos de museus”. Essa perspectiva está centrada no museu enquanto instituição e em suas coleções, enfatizando a análise da gênese e evolução dos museus e aplicação de técnicas. Trata-se de uma perspectiva que se aproxima de orientações positivistas baseadas em métodos objetivos de experimentação, descrição e verificação.89 89 Cf. Van Mensch (1994). Nesse sentido, o intuito dessa imaginação cseria eleger os vultos significativos para uma determinada memória do poder e, por meio de objetos a eles relacionados, estabelecer “narrativas épicas que pretendem atualizar o panteão nacional e povoar a memória com gestos singulares e heroicos”.90 90 Chagas (2003, p. 76). Buscava, assim, promover um culto ao passado que privilegiasse os grandes fatos e seus respectivos responsáveis, o que reforçaria “laços com uma atitude romântica em relação à ‘nação’”.91 91 Santos (1989, p. 13).
Teria no museu o seu espaço de celebração e culto. Construída com o sangue dos heróis e com o poder das famílias da elite tradicional a nação era alguma coisa dada e acabada, a que restava apenas amar, preservar e defender contra as ameaças internas e externas, que, a rigor, constituíam oportunidades especiais para o exercício da bravura heroica. O museu, destinado também às elites - aqueles que estavam aptos para o conhecimento e para o comando, para o saber e para o poder -, serviria para ensinar pela mediação simbólica das coisas a amar, preservar e defender a nação e a memória dos heróis que confirmavam e conformavam-se com o passado nacional. Através da criação de uma rede “complexa de mediações simbólicas” o Museu exercia o seu papel normativo e, antes que se pudesse pensar que havia um outro caminho, avançava com a pedagogia do “dedo em riste”. Ele apontava o herói como exemplo, o objeto testemunho como mediador de símbolos e valores (éticos e estéticos) e ao visitante ele parecia repetir as palavras do velho Antônio Felino Barroso: a tradição “[...] deve ser sagrada, porque é a alma duma Pátria. Não pode haver pátria sem tradição”.92 92 Chagas (2003, p. 114).
No Museu de Belo Horizonte, a imaginação museal tecida por Abílio Barreto tinha como pontos de contato a ideia do museu como espaço de celebração e culto, heroicizando personagens da elite tradicional e a valorização da tradição. Apesar disso, um dos pontos que merecem destaque diz respeito a um afastamento do “culto da saudade”, ou seja, uma perspectiva diferenciada de pensar o passado. Desse modo, a imaginação museal de Barreto não dialogava exclusivamente com a concepção nostálgica de passado defendida por Barroso. No caso do museu, certamente devido à influência direta de Kubitschek e das concepções do Estado Novo, se aproximava da dos modernistas e do discurso de progresso, do passado revisitado, criando vínculos com o presente e tornando-se referência ao futuro, expressando um desejo de permanente atualização: “A dicotomia antigo e novo marca indelevelmente a história desta cidade. O que surge como radicalmente novo, seja em termos de ideias, posturas e realizações, parece ficar velho no momento seguinte, quando se advoga sua substituição”.93 93 Pimentel (1997, p. 61).
O relatório da viagem de Barreto aos museus do Rio de Janeiro, elaborado em 20 de agosto de 1941,94 94 Barreto (1941a). sublinhou, dentre vários temas, que os museus eram instalados em “edifícios históricos e tradicionais”, optando por mobiliário “antigo, recordando tanto quanto possível, o arranjo e o gosto das habitações de épocas passadas”. Destacou, ainda, que “documentos preciosos” e “pequenos objetos de valor devem ser instalados em mostruários envidraçados”, além de diversos procedimentos de documentação (guia numerada, livro de registro, fichas e etiquetas), conforme modelos apresentados em livros e folhetos que recebeu dos diretores. Em suas conclusões, Barreto sublinhou que a Fazenda do Leitão, escolhida para sediar o museu, era apropriada, e que seria necessário contratar um quadro de especialistas em museus (chefe de seção organizador, secretário e conservador, agente-pesquisador), além de datilógrafo, porteiro e servente. Por fim, recomendou uma alteração na vinculação administrativa da seção nuclear do museu, solicitando que ela fosse subordinada diretamente ao prefeito.
Em resposta ao relatório, Juscelino Kubitschek inseriu de próprio punho as seguintes orientações: “Autorizo as medidas de ordem burocrática propostas no relatório junto, cujo autor merece, pelos seus dotes invulgares de devotado servidor da cidade, todas as homenagens e atenções da Administração Municipal”, concluindo que autorizava também que se entrasse “em entendimento com o diretor de obras que lhe proponha as medidas que julgar oportunas para a urbanização do trecho em que se encontra o museu”.95 95 Ibid..
Paralelamente, a imprensa difundia o trabalho de pesquisa e organização das “preciosidades de Belo Horizonte” realizado na “seção histórica” sob a coordenação de Abílio Barreto. Destacava os objetos e documentos existentes no Arquivo da Prefeitura com o intuito de estimular novas doações para a ampliação da coleção do futuro museu e, desde essas primeiras informações sobre o acervo, eram evidentes a valorização de artefatos originários do antigo arraial de Curral del Rei e os referentes à Comissão Construtora da Nova Capital. Portanto, são emblemáticas as imagens da coleção de chaves das últimas casas do arraial (representando as ruínas do passado) e a de cadernetas de campo da Comissão Construtora (representando as casas a serem projetadas), espécie de pontes que conectavam as distintas temporalidades.
Barreto manteve-se no posto de organizador e, assim, assinava os documentos administrativos. Responsabilizou-se pela produção da documentação museológica, atividade que, entre outras, fundamentava não só a formação, mas a conservação do acervo e permitia o uso dessa herança cultural no sentido de patrimônio histórico: o reconhecimento oficial de um bem cultural. Nesse aspecto, ao caracterizar o objeto preenchendo as fichas-guia, uma documentação museológica, sempre que julgava oportuno, remetia o objeto em estudo à sua obra Belo Horizonte. Dessa forma, reconstituía o passado a partir de objetos autênticos e inseria-os na história por ele narrada, criando, assim, uma prática para o Museu. Uma maneira de configurar a preciosidade histórica por meio da documentação museológica.96 96 Alves, op. cit., p. 42.
Essa lógica - ao articular os metadados dos objetos e as memórias publicadas por Barreto - pautou o trabalho desenvolvido na seção, conforme se observa no “Relatório elaborado por Abílio Barreto encarregado da Seção de História, ao Exmo. dr. Juscelino Kubitschek, digníssimo Prefeito da Capital, referente ao exercício de 1942”.97 97 Barreto (1942a). O documento arrola os objetos reunidos até 21 de dezembro daquele ano, uma extensa listagem que apresenta alguns objetos relacionados a Ouro Preto e à Inconfidência Mineira; maquetes, representações artísticas e objetos remanescentes dos arraiais de Curral del Rei e de Belo Horizonte; e fotografias, documentos e objetos relacionados à construção da nova capital. A lista indica muitos objetos procedentes da Câmara Municipal, do Senado mineiro, da Santa Casa de Misericórdia, dos Correios e Telégrafos e da Prefeitura, além de doações de particulares e aquisições por compra. Nesse relatório se destacam doações que evidenciam estratégias de monumentalização de alguns personagens: doações do próprio Abílio Barreto, incluindo os “dois volumes encadernados em madeira, da obra ‘Belo Horizonte: memória histórica e descritiva’, com dedicatória deste e do editor, [o] sr. Antônio Guerra, à Câmara Municipal, em 1936”; objetos relacionados aos políticos do Estado Novo, como o “retrato do governador Benedito Valadares” e a “fita simbólica cortada pelo presidente Getúlio Vargas na solenidade de abertura definitiva da avenida do Contorno”, em 1940.
Consolidava-se, assim, um colecionismo que articulava fatos de um passado distante e do tempo presente, esboçando outra imaginação museal: “Confirmava a tradição [...] [e] servia para encaminhar o tempo presente, indicando a superação de um passado pacato e rotineiro, destinado a uma simplicidade constante, até alcançar o presente de novidades e progressos da capital de Minas Gerais”.98 98 Alves, op. cit., p. 101. Mas ainda era necessário restaurar o sobrado da Fazenda do Leitão, considerado o último remanescente do arraial de Curral del Rei, local escolhido por Juscelino Kubitschek para sediar seu imaginado museu.
O FUTURO MUSEU NA FAZENDA VELHA
O futuro museu deverá ser instalado na antiga Fazenda Velha, do Córrego do Leitão, do lado oposto ao bairro de Lourdes. Esta fazenda, além de ser de construção antiga, é a última casa do antigo Curral del Rei, ficando de pé até hoje como uma reminiscência do antigo arraial. Nenhuma outra construção existe, pois todas elas se foram, ou desmanchadas para dar lugar às construções modernas, ou desapareceram sob a ação do tempo. Só a Fazenda Velha ficou. E é justamente ali que se instalará o museu do município.99 99 Museu... (1941).
Essas palavras resumem grande parte das matérias jornalísticas publicadas em 1941 relacionadas à criação do Museu Histórico de Belo Horizonte. Após as justificativas da importância de um museu na capital mineira, o texto destaca que ele seria instalado na Fazenda Velha, do Córrego do Leitão, reconhecida como o último imóvel remanescente do antigo arraial de Curral del Rei.
Os documentos consultados indiciam que, na década anterior, a Fazenda Velha não estava cogitada como sede do museu imaginado para Belo Horizonte, conforme detalhado em matéria de 26 de novembro de 1937: “O museu será instalado no prédio novo da Prefeitura, sendo de grande efeito turístico a sua abertura. Conterá tudo o que possa interessar ao visitante. Coisas do Curral del Rey, da Cidade de Minas, de Bello Horizonte. Coisas de todo o Estado”.100 100 Um museu... (1937). Desse modo, apesar da proposta temática ter permanecido, seguindo as orientações de Abílio Barreto esboçadas ainda no Arquivo Municipal, o intuito inicial era instalá-lo no Palácio da Municipalidade, prédio art déco inaugurado em 21 de outubro de 1937. Provavelmente, a transferência do arquivo e a organização dos objetos nele existentes para o novo prédio da Prefeitura sugeria a instalação do museu e sua abertura ao público, o que de fato não aconteceu.
A informação de que o velho sobrado da Fazenda do Leitão seria preservado e transformado em sede do futuro museu começa a ser timidamente ventilada na imprensa a partir de 1940, ano em que Juscelino Kubitschek assumiu a Prefeitura de Belo Horizonte. Tudo indica que a escolha do imóvel e do local consistiu em decisão pessoal de Kubitschek, visto que a valorização da fazenda remanescente da época do ouro articularia o passado de Belo Horizonte à tradição marcada pela Inconfidência Mineira e pela saga bandeirante, projetando um “destino de progresso” para a nova capital, nos moldes do discurso de nação encampado pelo Estado Novo:
No pórtico do Instituto Histórico de Ouro Preto gravei a divisa - “Inter-esto, si praeteritum diligae”. Não pode entrar quem não amar o passado. [...] Do antigo Curral d’El-Rey creio que só existe a casa avarandada da Fazenda do Córrego do Leitão, fim da rua Santa Catharina, que pertenceu ao coronel Elyseu Jardim. Há mais de 30 anos foi plantado de piteiras o terreno que lhe fica em frente. Tive a satisfação de saber que o governador Valladares Ribeiro e o prefeito Juscelino Kubitschek pretendem conservar essa casa que, dentro de um jardim, ficará no coração de Bello Horizonte, no centro do mais moderno bairro, a lembrar o passado ao presente, formando lindo contraste arquitetônico e urbanístico.101 101 Racioppi (1940).
Foi abaixo a poética ermidinha de Boa Viagem. Foi tudo abaixo de roldão: o cemitério, o cercado, os muros do primevo arraial, o sobradão silencioso de Bernardo Vaz de Melo. Ficou de pé, atalaia dos tempos, a histórica Fazenda do Leitão. Lá longe, onde não estremeça do seu sono as buzinas dos automóveis e as campainhas dos cinemas. Vai transformar-se em museu. Um prefeito moço, governador da cidade mais moça, com quem contraiu núpcias de inteligência e trabalho, esse dinâmico Juscelino Kubitschek que tanto ama o progresso como adora a tradição, está juntando o que pode, as régias sobras do Curral del Rei, para que Belo Horizonte as remire, garrida e ufana, no espelho de seus avós, aço de lei emoldurado em ouro.102 102 Penalva (1941, p. 5).
As matérias sugerem a preservação do sobrado oitocentista no interior do mais moderno bairro belo-horizontino como “lindo contraste arquitetônico e urbanístico” e forma de unir o presente ao passado, de unir “progresso” e “tradição”, transformando Belo Horizonte como espelho de um passado de resistência, “emoldurado em ouro” “dentro de um jardim”, referindo-se ao moderno bairro Cidade Jardim. Conforme destacou Denise Bahia,103 103 Bahia (2011). o bairro, assim como a Pampulha, teve sua concepção urbanística “baseada nos modelos norte-americanos de ‘cidade jardim’, pois enfoca o bairro, e não a cidade como um todo; não prioriza uma solução mais articulada e relacional dos problemas, mas enfatiza a questão estética e a ambiência local na articulação do desenho urbano”.104 104 Ibid., p. 118. Portanto, reconhece que o bairro inaugurou “com sua arquitetura moderna e ambiência - decorrentes de uma nova inter-relação entre o edifício, os vazios circundantes no lote e na rua -, um novo padrão urbanístico, novas formas de morar e de ‘bem viver’ na cidade”.105 105 Ibid.
A Fazenda Velha consistia em sobrevivente dos tempos do Curral del Rei e do próprio projeto de modernização. De acordo com José Neves Bittencourt,106 106 Bittencourt (2004). é importante contextualizar a criação do Museu Histórico de Belo Horizonte nos discursos do Estado Novo e do Sphan, período de investimento nos museus de caráter nacional e regional, evidenciando os vestígios do passado no projeto de reconfiguração do Estado nacional. Segundo o autor, Kubitschek pretendeu realizar o mesmo projeto em uma escala miniaturizada, arrancando Belo Horizonte da República Velha. Entende, assim, que preservar a Fazenda Velha e seu sobrado em ruínas relacionava-se com a busca do passado empreendida pelos modernistas em âmbito nacional e, ao mesmo tempo, resolvia um problema: “A cidade republicana tinha, na época de sua fundação, tratado de arrasar os próprios antecedentes e, naquele momento, não conseguiu encontrar ligações visíveis com o passado que se construía, de modo sistemático, para a nação”.107 107 Ibid., p. 40. Portanto, o casarão em uma área ainda predominantemente rural evocaria a ligação da cidade moderna com um passado remoto: “Exemplar de um ‘saber-fazer mineiro’, um tipo de técnica construtiva ‘típica e mesmo originária de Minas Gerais’, era também a prova viva daquele passado profundo que criava uma tradição” e, desse modo, o casarão materializaria uma “mineiridade atávica”.108 108 Ibid., p. 44.
Portanto, preservar o passado era uma forma de valorizar a mineiridade e projetá-la no futuro. Esse ideal dialogava com o projeto memorialista empreendido por Abílio Barreto em suas obras, especialmente nas pesquisas que deram origem ao Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga (1928). O intuito era construir um passado para Belo Horizonte fundado no ciclo do ouro e na saga bandeirante a partir de um mito fundador: a criação do arraial de Curral del Rei pelo bandeirante paulista José Leite da Silva Ortiz, em 1701.
Esse empreendimento foi analisado por Célia Alves109 109 Alves, op. cit. quando examinou a narrativa histórica e a prática memorialista de Barreto. Segundo a pesquisadora, a narrativa valorizava os feitos dos bandeirantes como uma redescoberta do Brasil, articulava a história de Minas Gerais à nobiliarquia paulista, criando um passado exemplar para Belo Horizonte, tão caro ao Estado Novo. Apresenta, nesse aspecto, estreito diálogo com o historiador Affonso de Taunay, ao fabricar uma identidade para Minas, ligando-a “ao passado paulista capaz de sustentar não somente o tempo passado, mas abrir perspectivas para projetos políticos do presente. A tradição fornecia elementos de sustentação histórica”.110 110 Ibid., p. 83. A autora destaca as correspondências entre Barreto e Taunay entre 1927 e 1934, indicando fontes e contatos que sustentaram os argumentos do memorialista mineiro no intuito de legitimar a relação entre o Curral del Rei e as ações dos bandeirantes paulistas. Nesse aspecto, conclui que “a influência de Taunay contribuiu para que Barreto mantivesse sua escrita afinada a uma base documental, com o intuito de se alcançar a memória histórica: a ‘verdade histórica’ em sua forma científica”.111 111 Ibid., p. 81.
Os diálogos com Taunay estão explícitos nas obras de Abílio Barreto, em especial suas pesquisas sobre o bandeirante João Leite da Silva Ortiz. Em Belo Horizonte: memória histórica e descritiva, Barreto, em um movimento de dupla legitimação, explicita um elogio do historiador:
Do capítulo XLVI, p. 333, da História da cidade de São Paulo - 2º tomo - de Afonso Taunay, no tomo sexto dos Anais do Museu Paulista, sob as epígrafes - João Leite da Silva Ortiz - sua atividade de morador no Curral del Rei -, informes novos de Abílio Barreto sobre a sua biografia: - “Na excelente e minuciosa obra de Abílio Barreto, Belo Horizonte - memória histórica e descritiva, encontram-se fartos pormenores sobre João Leite da Silva Ortiz. Com enorme afinco, procurou o autor mineiro, de brilhante bagagem literária e histórica, no arquivo de seu Estado, quanto documento territorial se lhe pode deparar, conseguindo excelentes resultados, pois, de sua rebusca aturada, provieram descobertas valiosas”.112 112 Barreto (1996, p. 69).
Nesse aspecto, Barreto procurava documentos e testemunhos materiais desse passado, e a Fazenda Velha em ruínas (Figura 1) atestaria a saga bandeirante no antigo Curral del Rei. Portanto, seria um local oportuno para abrigar o futuro museu, já que exibia “não só o passado, mas o tempo presente, marcado pelo crescimento da cidade moderna, conforme uma concepção otimista de progresso compartilhada tanto pelo prefeito Juscelino Kubitschek como pelo organizador do museu, Abílio Barreto”.113 113 Alves, op. cit., p. 113.
Antiga sede da Fazenda Velha do Leitão em ruínas, sem data. Fonte: MG 005 01 01 INT (Pasta 1/Env.01), Documento nº F037045, Arquivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro.
A sede da Fazenda do Córrego do Leitão se tornava metonímia das metamorfoses e símbolo de um passado que garantiu um presente marcado pelo ideal de modernidade. Embora a Fazenda Velha remeta ao antigo Curral del Rei, o velho casarão foi construído em 1883. Em relatório enviado para Juscelino Kubitschek, em 1942, Abílio Barreto apresentou um resumo da trajetória do que ele intitulou como “A futura sede do museu”.114 114 Barreto (1942a). Segundo suas pesquisas, o sobrado havia sido construído por Cândido Lúcio da Silveira em substituição a uma casa baixa, em ruínas, ali existente, em terras herdadas por sua esposa em 1883. Em 1894, as terras foram desapropriadas pela Comissão Construtora da Nova Capital, ocasião em que foram entregues ao agrônomo francês Leon Quet, e, em 1899, para a criação do Núcleo Colonial Afonso Pena, tendo como sede o casarão. No relatório, informa que, após abrigar uma plantação de piteiras, as terras foram transferidas ao governo federal para a construção de um posto zootécnico e uma enfermaria veterinária. Por fim, destaca que grande parte das terras, incluindo o casarão, voltaram ao domínio da prefeitura de Belo Horizonte. De acordo com Célia Alves,115 115 Alves, op. cit. a União teve a posse da área até 26 de setembro de 1938, quando foi doada ao Estado de Minas Gerais e adquirida pela municipalidade. Ademais, informa que, na ocasião, o prefeito José Oswaldo de Araújo demonstrou interesse em instalar um museu naquela localidade, ideia que não se efetivou. Destaca, por fim, que as áreas agrícolas foram incorporadas pela área suburbana, originando novos bairros.
Na verdade, os novos bairros se tornariam lugares imaginados para traduzir o ideal de progresso ou o projeto de modernização na capital mineira. De acordo com Karime Cajazeiro,116 116 Cajazeiro (2010). um desses bairros seria o Cidade Jardim Fazenda Velha, projetado pelo engenheiro Lincoln Continentino no final dos anos de 1930 e lançado na gestão de Kubitschek. O bairro teria um parque, atravessado pelo Córrego do Leitão, envolvendo a sede da Fazenda Velha. Nas palavras de Juscelino Kubitschek, a sua intenção era “dotar a cidade de um bairro modelo - uma experiência de conúbio das vantagens da vida rural com as felicidades urbanas”,117 117 Kubitschek (1976, p. 52). concluindo que “seria a Cidade Jardim - uma área privilegiada, com residências sombreadas por árvores e situadas nos centros dos respectivos terrenos, sem divisas asfixiantes”.118 118 Ibid.
Juscelino assumiu a prefeitura de Belo Horizonte dois anos depois que a titularidade das terras da antiga Fazenda do Leitão e o seu sobrado em ruínas haviam retornado ao município. O Decreto nº 91, de 26 de maio de 1941, que criou a Seção de História, núcleo do Museu da Cidade, oficializou que o casarão seria a futura sede do museu.119 119 Belo Horizonte, op. cit. Em depoimento, Abílio Barreto informou que, devido ao péssimo estado de conservação do prédio, a prefeitura contatou o Sphan, na pessoa de Rodrigo Melo Franco de Andrade, visando a restauração do imóvel para a adequada implantação do museu.120 120 Cf. Mensagem..., op. cit.
Todavia, esse contato ocorreu antes mesmo do decreto que criou a Seção de História. Em 1940, nos primeiros meses do governo, matérias de jornal relataram as articulações entre Rodrigo Melo Franco e o governo do estado “no sentido de serem iniciados os trabalhos de restauração da Casa Fazenda do Leitão”.121 121 Notícias... (1940, p. 6). O diretor do Sphan estava em Belo Horizonte para inspecionar as obras do órgão em Minas, o Museu do Ouro, em Sabará, “cujos serviços devem estar quase terminados”,122 122 Ibid. e o Museu da Inconfidência, em Ouro Preto.
No segundo volume de seu livro de memórias, A escalada política, Juscelino Kubitschek123 123 Kubitschek (1976). destacou que um dia foi procurado na prefeitura por um grupo de engenheiros sobre a construção de uma rua na Cidade Jardim que deveria passar pela Fazenda Velha, descrita como um “pardieiro”, situado em uma das margens do Córrego Leitão. Após destacar que a sede da fazenda integrava um conjunto de nove imóveis, dos quais oito haviam sido demolidos, a reconheceu como uma “relíquia histórica”, visto que a reconhecia como a única construção remanescente do Império em Belo Horizonte:
Quando os engenheiros me falaram da necessidade de se demolir a Fazenda Velha, fiquei preocupado. Na mesma hora telefonei a Rodrigo Melo Franco de Andrade, responsável pela Diretoria do Patrimônio Histórico Nacional, solicitando-lhe que viesse a Belo Horizonte. Uma semana mais tarde expliquei-lhe o problema, manifestando minha apreensão de que, no futuro, outro prefeito pudesse sacrificar a Fazenda Velha. Rodrigo Melo tranquilizou-me. “Não se preocupe. Vou providenciar imediatamente o tombamento do imóvel”. Enquanto se processava no Rio o tombamento, procurei restaurar a fazenda. Não só restaurá-la, mas proporcionar-lhe a perspectiva a que fazia jus, em face de sua importância histórica. Desapropriei a área circundante, de forma a deixá-la isolada, no centro de um parque. Quanto à Fazenda Velha, em si, mandei restaurá-la, devolvendo-lhe a característica novecentista, com o assoalho em diversos níveis, os moirões à mostra nas paredes e o forro de telha vã em algumas de suas peças. Em seguida, assinei um decreto, convertendo-a em museu.124 124 Ibid., p. 53.
As obras no sobrado ocorreram entre 1941 e 1942. Em 9 de setembro de 1941, Abílio Barreto informou a Juscelino, em ofício,125 125 Barreto (1941b). que as ações de restauração ainda dependeriam de mais alguns meses de trabalho para, assim, instalar o museu. Reconheceu que os três salões da parte inferior do prédio eram adequados, mas que seria necessário demolir algumas paredes do pavimento superior, visando obter outros três salões. No mesmo ofício, sugeriu ao prefeito reformulações no entorno do casarão, especialmente a criação de um “parque rústico, de acordo com o prédio e que dê ideia de uma propriedade rural ao extinto arraial de Belo Horizonte, antigo Curral d’El Rey”,126 126 Ibid. terreno que deveria ser fechado por muros ou cercas de fazenda e arborizado com plantas da região. Além disso, solicitou ao prefeito que conversasse com o diretor do Sphan visando alterar o traçado urbano dos trechos adjacentes ao sobrado e definir um plano urbanístico definitivo para aquela área. Em 15 de setembro, Kubitschek escreveu para Rodrigo Melo Franco de Andrade, reproduzindo as sugestões do organizador do museu. A seção técnica do Sphan, na pessoa do arquiteto José de Souza Reis, enviou ao prefeito um parecer127 127 Cf. Reis (1942). informando estar de acordo com a alteração do plano urbanístico, porém, em desacordo com a demolição das paredes, evitando a descaracterização da disposição original do prédio. Ponderou que o cercamento do prédio deveria ser discutido após a deliberação sobre os limites do terreno. No parecer,128 128 Ibid. Juscelino inseriu de próprio punho a frase “Abílio, veja só!”, denotando a cumplicidade de ambos nas deliberações a respeito do futuro museu.
A intenção da prefeitura era que o sobrado abrigasse apenas os objetos relacionados ao arraial de Curral del Rei e ao arraial de Belo Horizonte, devendo ser construídos prédios novos para abrigar os acervos referentes à nova capital. Barreto recomenda que Juscelino Kubitscheck manifeste a intenção da prefeitura em construir os novos prédios, mantendo, assim, a intenção original de se construir os pavilhões futuramente e dotar a capital de um Museu da Cidade de Belo Horizonte. Seguindo essas orientações, Kubitschek escreveu ao diretor do Sphan, em 27 de outubro de 1942: “Mandei reservar junto à Fazenda Velha do Leitão terrenos bastantes para futuras construções de pavilhões em estilo e em tamanho adequados para as seções do museu referentes à capital. [...] Juscelino Kubitschek, prefeito”.129 129 Kubitschek (1942).
Em ofício130 130 Andrade (1942). enviado a Juscelino, em 25 de novembro de 1942, Rodrigo Melo Franco de Andrade se manifestou contra a construção desses novos pavilhões: “Não quer parecer muito feliz a construção de pavilhões destinados a uma das seções do estabelecimento, no terreno reservado em torno à Fazenda Velha do Leitão”, alegando que a arquitetura rural seria prejudicada com novas construções em sua proximidade, ainda que em estilo próximo. Concluindo, assim, que não seria acertado anexar ao sobrado “construções que ou contrastariam com aquele, por suas características modernas, ou representariam ali o papel de joias falsas junto da verdadeira”. Na verdade, a proposta da construção de pavilhões no terreno colocou em evidência a temática do entorno e do denominado “falso histórico”, temas caros aos intelectuais do Sphan, visando preservar a paisagem e a autenticidade do imóvel.
Ofício datado de 1º de dezembro do mesmo ano indica a continuidade dos debates em torno do tema. Por discordar profundamente dos argumentos, Abílio Barreto sugeriu que o prefeito não respondesse às ponderações de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Encerra o documento informando que “se a Fazenda Velha do Leitão está engastada no coração do moderníssimo bairro de Lourdes, sem inconveniente algum, não sei por que haverá inconveniente, em se construir ali mais um edifício para o museu propriamente da Cidade”.131 131 Barreto (1942b). No documento, Juscelino inseriu um “De acordo”.132 132 Ibid.
As obras de restauração do sobrado foram conduzidas pelo arquiteto Sylvio Vasconcelos, representando o Sphan em Minas, e supervisionadas por Abílio Barreto. Barreto havia solicitado a inserção de uma escada interna, unindo os dois pavimentos, o que foi atendido. O prédio estava restaurado e em condições adequadas para a instalação do futuro museu (Figura 2). Em 25 de setembro de 1942, Barreto escreveu para Juscelino informando que havia recebido as chaves do sobrado e concluiu: “Desejo muito que V. Excia. marque um dia e hora para visitar comigo a Fazenda Velha do Leitão, a fim de melhor ajustarmos alguns detalhes para a perfeita instalação do Museu”.133 133 Barreto (1942c).
Sede da antiga Fazenda Velha do Leitão após restauração, 1942. Fonte: MG 005 01 01 INT (Pasta 1/Env.01), Documento n.º F027749, Arquivo Central do IPHAN - Seção Rio de Janeiro.
Todavia, a ideia da construção de novos espaços no entorno do sobrado ou em outras localidades da capital, vez ou outra surgia em ofícios e entrevistas de Abílio Barreto, mesmo após a inauguração do museu. Em 18 de abril de 1943, ele enviou ao prefeito uma correspondência com um croqui assinado por Raul Tassini com o projeto do novo pavilhão destinado ao Museu da Cidade, enquanto o sobrado seria destinado a seção exclusiva do arraial. De acordo com Célia Alves,134 134 Alves, op. cit. o projeto valorizava traços da arquitetura eclética que fundamentaram a construção dos prédios da Comissão Construtora da Nova Capital: “Se destacaria na construção de quatro colunas que seriam localizadas entre duas maiores, indo do primeiro até o segundo andar. Entre o alinhamento das quatro colunas estariam os bustos de Afonso Pena, Bias Fortes, Aarão Reis, Francisco Bicalho e Hermílio Alves”,135 135 Ibid., p. 45. além de, na parte superior da fachada, haver “uma escultura com representação do passado e do presente”.136 136 Ibid.
Apesar do projeto não ter sido concretizado, é emblemática a sua proposta no sentido de construir um pavilhão eclético nos arredores do casarão, desmembrando a coleção do museu por um critério temporal. A inserção de uma escultura representando passado e presente também denota esse intuito de valorizar o passado para evidenciar a importância do presente, monumentalizando personagens considerados significativos para a nova capital: Afonso Pena e Bias Fortes, presidentes do Estado de Minas; e Aarão Reis, Francisco Bicalho e Hermílio Alves, engenheiros da Comissão Construtora da Nova Capital. Dentre os projetos não concretizados também se destacam a intenção de Abílio Barreto, com a anuência de Juscelino, de construir, em 1941, uma capela em frente ao museu, visando abrigar mobiliário e objetos sacros procedentes da Matriz de Boa Viagem, sugerindo os nomes de Oscar Niemeyer e Burle Marx para a elaboração do projeto; e o convite a Niemeyer, em 6 de maio de 1944, para projetar novos pavilhões para o museu.137 137 Cf. Cândido (2003).
Apesar dos debates, a antiga sede da Fazenda Velha do Leitão constituiu no único espaço para abrigar o museu, nas primeiras décadas de seu funcionamento. Desde a sua inauguração, em 1943, foi concebida, inclusive, como acervo do museu, conforme relatou em entrevista Abílio Barreto: “O prédio da velha fazenda, que é, por sua vez, uma peça e das mais preciosas do Museu”.138 138 Mensagem..., op. cit., p. 1. Esse entendimento também foi destacado por Maria Inêz Cândido139 139 Cf. Cândido (2003). ao afirmar que Barreto e Juscelino Kubitschek “defenderam, desde o primeiro momento, a ideia de que a antiga sede da Fazenda do Leitão deveria ser tratada e valorizada como peça do acervo, certamente a mais emblemática do museu, o que lhe daria a prerrogativa de se tornar o registro número I no livro de tombo”.140 140 Ibid., p. 11.
Conforme escreveu Kubitschek141 141 Kubitschek (1976). em suas memórias, a restauração da Fazenda Velha e sua transformação em museu consistiram em uma forma de evitar sua demolição. Do mesmo modo, destacou suas tratativas com Rodrigo Melo Franco de Andrade no sentido de promover o tombamento do imóvel - que ocorreria oito anos depois, em 1951142 142 O sobrado remanescente da Fazenda Velha do Córrego do Leitão foi tombado pelo Sphan em 29 de março de 1951, conforme atesta ofício de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Neste documento, consta seguinte anotação manuscrita de Carlos Drummond de Andrade, chefe da seção de história: “Inscrito sob o nº 282, a fls. 48, do Livro do Tombo Histórico, nesta data. Em 29. III. 1951. C. Drummond. Chefe da S. H.” (ANDRADE, 1951). -, evitando, assim, que algum prefeito o destruísse no futuro. Na verdade, a preservação do antigo sobrado e a criação do Museu Histórico de Belo Horizonte consistem em testemunhos materiais de uma das primeiras ações de preservação do patrimônio na capital mineira e uma das bases para compreender a configuração inicial da imaginação museal de Juscelino Kubitschek.
A NOVA CAPITAL NO MUSEU?
O pensamento desta Prefeitura é dotar a capital de um museu não somente coletor e conservador, de cousas históricas do arraial de Belo Horizonte, antigo Curral d’El-Rei, mas também preciosidades históricas da cidade de Belo Horizonte. [...] Juscelino Kubitschek, prefeito.143 143 Kubitschek (1942).
Com essas palavras, o prefeito de Belo Horizonte enviou, em 27 de outubro de 1942, um ofício a Rodrigo Melo Franco de Andrade.144 144 Ibid. O documento demonstra a configuração da imaginação museal de Juscelino Kubitschek na deliberação por conjugar as “cousas históricas do arraial” e as “preciosidades históricas da cidade”, defendendo a inserção das memórias do tempo presente na exposição do Museu Histórico de Belo Horizonte. Na verdade, desde as primeiras tentativas de implantação, matérias de jornal destacaram a intenção de apresentar um discurso linear que contemplasse a trajetória da localidade onde foi construída a nova capital, do arraial até a contemporaneidade, além de informações de todo o estado: “Conterá tudo que possa interessar ao visitante. Coisas do Curral del Rey, da Cidade de Minas, de Bello Horizonte, coisas de todo o estado”.145 145 Um museu... (1937).
Conforme destaquei anteriormente, esse discurso dialoga com o projeto memorialista de Abílio Barreto apresentado em Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga e história média, publicadas, respectivamente, em 1928 e 1936. Segundo Maria Auxiliadora Faria146 146 Faria (1996). é importante destacar a periodização escolhida por Barreto, aplicando para Belo Horizonte a da história universal nos moldes de Diogo de Vasconcelos em História antiga das Minas Gerais e História média das Minas Gerais, publicadas em 1901 e em 1918. Para a pesquisadora, “havia em ambos o desejo de redimensionar a relação tempo-espaço numa periodização que, sem obedecer aos cânones da ciência histórica, perscrutasse as especificidades da região”.147 147 Ibid., p. 28. Nessa perspectiva, conclui que os conceitos de História Antiga e Medieval “foram superpostos à realidade mineira como tentativa de capturar as coisas antigas, os antecedentes, o que veio antes, o processo de formação, enfim. A História Moderna e Contemporânea estaria, por certo, reservado o cotidiano mais próximo às experiências vivenciadas pelos autores”.148 148 Ibid. Esse argumento pode ser visualizado em outro livro de Abílio Barreto, Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947), em que descreve aspectos iniciais do que seria a “História Contemporânea, a partir de 1898”, ou o “período novíssimo”, e destaca a intenção de construir “um índice, um roteiro para o historiador do futuro”.149 149 Barreto (1950, p. 14).
Em grande medida, essa intenção de Abílio Barreto, impactada pelo projeto de Juscelino Kubitschek, foi transportada para a configuração do museu de história que deveria contemplar as memórias construídas a partir da inauguração da nova capital mineira, não por acaso ela constitua em marco do “período novíssimo”. Não foi sem motivos que foi transferida para o futuro museu uma parte dos documentos da Comissão Construtora da Nova Capital, que o próprio Barreto havia organizado no Arquivo Municipal. A intenção era reunir nele as “fontes fidedignas” que legitimariam o discurso a ser apresentado.150 150 Cf. Alves, op. cit.
Paralelo às ações de restauração do sobrado que havia sido sede da antiga Fazenda do Leitão, Juscelino e Abílio Barreto também solicitaram orientações ao Sphan para a configuração do discurso museológico. Barreto informou que havia realizado uma viagem ao Rio de Janeiro para “ter um entendimento direto com o ilustre diretor do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional relativamente à organização do novo instituto, pelo fato de nos ter ele prometido a sua valiosa colaboração”,151 151 Barreto (1942a). concluindo que desse encontro foi deliberado que o museu “seria constituído somente de cousas históricas ou artísticas locais e seria denominado Museu Histórico de Belo Horizonte”.152 152 Ibid. Essas informações indiciam o impacto do Sphan na seleção das tipologias históricas e artísticas, além da existência de uma disputa por enquadramentos temporais e espaciais. Ao longo de 1942, diversos documentos demonstram divergências entre os técnicos do Sphan e Abílio Barreto, técnicos da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, impasses institucionais revelados nas correspondências entre Juscelino Kubitschek e Rodrigo Melo Franco de Andrade.
Nesses termos, em ofício datado de 25 de novembro de 1942, o diretor do Sphan escreveu para Juscelino informando que os técnicos estavam à disposição da Prefeitura de Belo Horizonte “para o estudo de qualquer questão relacionada com a exposição das peças que constituem as coleções do Museu e, bem assim, acerca da organização técnica do mesmo”.153 153 Andrade (1942). Na verdade, ofícios anteriores sublinham um desconforto dos técnicos do Sphan com a proposta apresentada pela prefeitura de Belo Horizonte, que havia reunido acervos relacionados ao arraial de Curral del Rei, à história recente de Belo Horizonte e ao passado de Minas Gerais e do Brasil.
Em 19 de maio de 1942, Abílio Barreto encaminhou ao prefeito uma listagem com os objetos divididos nessas três seções, solicitando que fosse repassada ao Sphan visando subsidiar as orientações técnicas. Um mês depois, Barreto viajou para o Rio de Janeiro para tratar diretamente com Rodrigo Melo Franco de Andrade sobre a implantação do museu e obter orientações para a implantação da exposição museológica. Apesar dos documentos sugerirem um acordo entre a proposta, a seção técnica do Sphan emitiu um posicionamento desfavorável, conforme parecer de José de Souza Reis encaminhado por Rodrigo Melo de Andrade:
Dos objetos reunidos no arquivo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, cuja relação examinamos, aqueles que fazem parte da 1ª lista (objetos originários de Curral d’El Rei) são, a nosso ver, os que apresentam maior interesse para constituírem o futuro museu da casa do Leitão. Os objetos relacionados na 2ª lista (originários da nova capital de Minas Gerais) compreendem: peças de interesse histórico da construção da nova cidade [...]. Ora, a casa da Fazenda Velha, construção de tipo rural, da época do arraial de Curral d’El Rei, não nos parece o local adequado para a instalação de um museu que historie a cidade nova. Os objetos originários da nova capital, de época relativamente recente, destoariam visivelmente do ambiente da casa do Leitão, construção rústica em todos os seus elementos. [...] parece-nos mais indicado aproveitá-la principalmente para a reunião das peças provenientes do Curral d’El Rei e outras contemporâneas da época de sua construção e originárias da mesma zona de Minas Gerais. Trazer, cronologicamente, a documentação até a fundação da cidade nova é, pensamos, a solução mais exequível.154 154 Reis (1942).
Esse trecho do parecer evidencia a imaginação museal apresentada pelos modernistas no Sphan e que estava na base das propostas de implantação do Museu da Inconfidência, em Ouro Preto, e do Museu do Ouro, em Sabará. O duplo desconforto consistia em musealizar objetos de “época relativamente recente” e da musealização ocorrer em um prédio do século XIX. Defendia-se uma coerência histórica entre continente e conteúdo e, portanto, o museu histórico poderia ser designado de Museu do de Curral del Rei, evidenciando, assim, um diálogo com os outros dois museus recém implantados pelo Sphan em Minas Gerais.
Juscelino, sabedor de que a proposta do Sphan destoava do que havia planejado, de próprio punho escreveu no parecer: “Ao Abílio Barreto peço tomar conhecimento e minutar a resposta”. Barreto prontamente o respondeu:
Pelo que sei em face das conversações que tive com V. Exc. e pelos termos do Decreto nº 91, de 1941, não tenho dúvidas sobre ter sido sempre o seu pensamento ao fundar a seção nuclear do Museu da cidade, a criação de um instituto em que se reunissem objetos originários do arraial de Belo Horizonte antigo Curral d’El-Rei e da cidade de Belo Horizonte, nova capital de Minas, dispostos em secções distintas, de acordo com as diferentes fases por que tem passado a localidade durante mais de dois séculos, até ser o que é presentemente. Sei mais que, como na ocasião em que V. Exc. deu início a essa benemérita iniciativa a Fazenda Velha do Leitão era o único prédio que restava do extinto arraial, foi ele o escolhido, não obstante as suas proporções exíguas em relação ao fim objetivado e à natureza rústica da sua construção, que o tornava apenas aproveitável para a primeira parte do nosso museu, isto é a seção referente ao arraial. Mas V. Exc. tratando, desde logo, de remediar para o futuro essa deficiência e relativa impropriedade, resolveu que o museu teria uma grande área de terrenos em torno da velha fazenda, na qual seriam construídos, oportunamente pavilhões adequados em estilo e em tamanho para as secções referentes à nova capital. [...] Portanto, parece-me estar definitivamente firmado que o nosso museu não será apenas destinado a receber e conservar objetos históricos do arraial extinto, mas será um Museu de Belo Horizonte, compreendendo todas as fases de sua existência de mais de dois séculos e fadado a prestar iguais serviços pelo tempo adiante. [...] Arquivo, 11 de agosto de 1942. Abílio Barreto.155 155 Barreto (1942d).
Em 27 de outubro, Juscelino Kubitschek oficiou ao diretor do Sphan, reproduzindo os argumentos apresentados por Abílio Barreto. Encerrou o impasse e defendeu a manutenção dos diferentes tempos de Belo Horizonte - separados em seções - no Museu Histórico de Belo Horizonte. Orientação que integra a proposta de regulamento do museu, elaborada por Abílio Barreto em 1942, reforçando que cada uma dessas seções seria acompanhada de um arquivo especial cujos documentos comprovariam a autenticidade dos objetos. De acordo com Marcelo Cedro,156 156 Cedro (2007). esse fato demonstra o caráter paradoxal da administração juscelinista em relação ao Estado Novo e, sublinho, também com relação a imaginação museal apresentada pelo Sphan: convergia com o discurso preservacionista, mas divergia no modo como se pensava em implantar a preservação. Desse modo, extrapolava a preservação de elementos relacionados ao período colonial, valorizando objetos e construções neoclássicas, da época da construção de Belo Horizonte: “Juscelino Kubitschek, ao absorver a metodologia estado-novista de preservação, também criava seus próprios critérios na valorização da memória da cidade. [...] conciliou a memória belo-horizontina com o ideário de progresso e modernidade”.157 157 Ibid., p. 140-141.
Juscelino autorizou que o Museu Histórico de Belo Horizonte fosse aberto à visitação no dia 1º de janeiro de 1943. Todavia, sua inauguração ocorreu somente no dia 18 de fevereiro do mesmo ano. A matéria do Estado de Minas intitulada “Nada se perderá de agora em diante na história de Belo Horizonte”158 158 Nada..., op. cit., p. 3. relatou que a inauguração ocorreu às 14 horas e reuniu numerosas pessoas, destacando a presença de intelectuais, de jornalistas, do prefeito Juscelino Kubitschek e do governador do estado, Benedito Valadares (Figuras 3 e 4). Destacou também o discurso do prefeito, que afirmou ser aquele museu o “depositário do passado da capital, cujo progresso vertiginoso nos últimos dez anos se fazia sentir em todos os setores”, salientando, por fim, que a inauguração constituía em acontecimento especial, devido “nenhuma outra cidade, com apenas 45 anos, tem um museu, e que nada se perderá de agora em diante da história de Belo Horizonte”. Na verdade, é interessante perceber que a ideia de passado mobilizada englobava um passado recente, ao ponto de incorporar os acontecimentos presentes e a partir daquele momento nada mais se perder. Do mesmo modo, associa a criação do museu como uma das ações características do “progresso vertiginoso” vivenciado na capital mineira.
Inauguração do Museu Histórico de Belo Horizonte, em 18 de fevereiro de 1943. Fonte: BH.ALB.02/004 - Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto.
Abílio Barreto, Benedito Valadares e Juscelino Kubitschek na inauguração do Museu Histórico de Belo Horizonte, em 18 de fevereiro de 1943. Fonte: BH.COT.1943/007 - Acervo do Museu Histórico Abílio Barreto.
A disposição das seções do museu dialogava com a proveniência dos objetos e com a cronologia que guiou Abílio Barreto na elaboração de suas obras e na coleta do acervo. Do mesmo modo, apesar de Barreto e Juscelino Kubitschek informarem ao Sphan o intuito de expor apenas peças do arraial do Curral del Rei e de Belo Horizonte, o museu também apresentou uma seção dedicada as “cousas de Minas”, destinando uma sala para Ouro Preto, o que permitiu, nesse aspecto, um diálogo entre a velha e a nova capital e, ao mesmo tempo, uma aproximação com as escolhas de valorização do passado nacional empreendidas pelos modernistas.159 159 Cf. Veloso, op. cit. Em consulta ao catálogo de salas, Célia Alves160 160 Cf. Alves, op. cit. destacou que o percurso de visitação iniciava pela Sala Ouro Preto (29 objetos), vinculando o museu à história de Minas Gerais, seguia pela Sala arraial do Curral del Rei (60 objetos) e Sala arraial de Belo Horizonte (50 objetos), passando pela Sala Comissão Construtora da Nova Capital (65 objetos) e concluindo na Sala Belo Horizonte (406 objetos). Evidenciava-se, assim, que “uma sequência cronológica ordenava a narrativa museológica, estabelecendo a conexão entre da cidade de Belo Horizonte com tempos remotos, terminando em seu destino maior: a transformação em capital de Minas Gerais”.161 161 Ibid., p. 54. Na verdade, observando a quantidade de objetos nas salas, é notório o destaque dado à história do tempo presente, contrariando as orientações apresentadas pelo Sphan e configurando, naquele contexto, uma singularidade na imaginação museal relativa aos museus históricos.
No mesmo aspecto, é oportuno observar a presença de objetos que sintetizavam e amalgamavam a trajetória de Juscelino à de Belo Horizonte, metonímias de sua relação com a nova capital em um interessante processo de monumentalização. Desse modo, era possível localizar na exposição uma escrivaninha doada pelo prefeito, trazida de Diamantina e produzida por seu bisavô, João Nepomuceno Kubitschek;162 162 Cf. Kubitschek (1976). a tesoura e a fita utilizadas por Juscelino, Benedito Valadares e Getúlio Vargas na inauguração das obras da Pampulha; e fotografias dos locais onde seriam construídas a Cidade Jardim e as linhas de bonde para a Pampulha.163 163 Cf. Alves, op. cit. A leitura cronológica da exposição, conforme destacou Célia Alves, apresentava uma mensagem construída pedagogicamente: “exaltava a mudança de um passado rústico e retrógrado, o arraial do Curral del Rei, para a cidade planejada e construída nos parâmetros da ciência e do progresso”.164 164 Ibid., p. 56.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Museu Histórico de Belo Horizonte é fruto de uma das primeiras manifestações da imaginação museal de Juscelino Kubitschek, tornando-se uma experiência fundadora que, conforme ele mesmo pontuou,165 165 Kubitschek (1976). consistiu não apenas em um meio de salvar a Fazenda Velha, mas em sua transformação em um símbolo: “Hoje, naquela floresta de edifícios modernos - que é Belo Horizonte - [converteu-se em] uma romântica nota do passado, lembrando tempos heroicos [...] [e] o arrojo dos mineiros”.166 166 Ibid., p. 55.
As articulações em torno da concepção e organização do museu evidenciam uma imaginação museal singular. Nesse aspecto, apesar de não romper com os discursos da maioria dos museus brasileiros da época, o Museu Histórico de Belo Horizonte traduz uma opção pela inserção da história recente, que reconheceu o museu como um dos espaços na disputa por projetos de futuro.
Não por acaso, Thaís Pimentel167 167 Pimentel (2004). reconhece que Juscelino Kubitschek e Abílio Barreto estão profundamente associados à criação do museu e à preservação da memória de Belo Horizonte. Sublinha, no caso de Abílio, que o Museu Histórico de Belo Horizonte permaneceu associado diretamente à sua figura, ao ponto de, em 1967, ser rebatizado como Museu Histórico Abílio Barreto. No caso de Juscelino, a pesquisadora destaca que, a instituição por ele criada, guardou poucos registros “de seu próprio tempo à frente da prefeitura municipal. O acervo [...] sobre o período JK na prefeitura de Belo Horizonte é pouco expressivo; à exceção da publicação de 1942, relativa à gestão 1940/1941”.168 168 Id., 2002, p. 24. Na verdade, a própria existência do Museu consiste em legado de seu tempo à frente de Belo Horizonte, fundamentado “numa ‘tradição’ que, esta sim, acompanhava a cidade: a da modernidade como marca e destino”.169 169 Santos e Costa (2006a, p. 224).
É justamente em virtude dessa possibilidade de organizar no espaço uma narrativa poética, tornando-se uma forma de mediar temporalidades e agências distintas, que o trabalho explicitou aspectos iniciais da imaginação museal de Juscelino Kubitschek de Oliveira. Acredito que este exercício investigativo possibilita visualizar diferentes dramaturgias da memória no campo da museologia, perspectiva significativa no caso brasileiro, ao reconhecer a importância de compreender “como determinados intelectuais oriundos de áreas de conhecimento distintas da museologia pensam e operacionalizam o que pensam (quando a operacionalização acontece) no campo dos museus e da museologia”.170 170 Chagas (2015, p. 24).
FONTES MANUSCRITAS
- ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Ofício nº 1152 enviado a Juscelino Kubitschek. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.
- ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Documento enviado à Seção de História do Sphan. Rio de Janeiro, 29 de março de 1951. 1 f. Datilografado. Série Inventário, I.MG-0009.01, Arquivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro, 1951.
- BARRETO, Abílio. Relatório elaborado por Abílio Barreto encarregado da Seção de História, ao Exmo. Dr. Juscelino Kubitschek, digníssimo Prefeito da Capital, referente ao exercício de 1942. Belo Horizonte, 1942. 9 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942a.
- BARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 1 de dezembro de 1942. 1 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942b.
- BARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 25 de setembro de 1942. 1 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942c.
- BARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 11 de agosto de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942d.
- BARRETO, Abílio. Relatório apresentado por Abílio Barreto ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte relativamente à viagem que efetuou ao Rio de Janeiro em visita aos museus daquela cidade cumprindo ordens de S. Excia. Belo Horizonte, 20 de agosto de 1941. 8 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1941a.
- BARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 9 de setembro de 1941. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1941b.
- BARRETO, Abílio. Relatório apresentado ao senhor Inspetor do Expediente e Comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 3 de janeiro de 1940. Datilografado. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1940.
- BRANDÃO, Mario Lúcio. Museu Histórico de Belo Horizonte: dados estatísticos. Belo Horizonte, 12 de agosto de 1947. 4 f. Datilografado. Série Inventário, I.MG-0009.01, Arquivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro, 1947.
- KUBITSCHEK, Juscelino. Ofício nº 175/42 enviado a Rodrigo Melo Franco de Andrade. Belo Horizonte, 27 de outubro de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.
- REIS, José de Souza. Cópia do parecer da Seção Técnica, Casa da Fazenda do Leitão em Belo Horizonte. Rio de Janeiro, 1942. 1 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.
FONTES IMPRESSAS
- BELO Horizonte também tem o seu museu. Diário da Tarde, Belo Horizonte, 16 mar. 1940.
- BELLO Horisonte III. Cidade do Rio, Rio de Janeiro, n. 214, ano 10, p. 1, 13 set. 1895.
- BELO HORIZONTE. Decreto nº 91, de 20 de maio de 1941. Cria a Secção de História, núcleo do museu da cidade. Belo Horizonte: Inspetoria do Expediente e Comunicações, 1941.
- FÉLIX, Gato. Belo Horizonte e o seu Museu. Diário da Tarde, Belo Horizonte, 25 fev. 1943.
- FOLHA DE MINAS. Belo Horizonte, 5 jun. 1941, p. 3.
- LANÇADOS os fundamentos da criação do Museu de Belo Horizonte. Folha de Minas, Belo Horizonte, 3 abr. 1941.
- MENSAGEM entrevista o Dr. Abílio Barreto sobre o Museu Histórico de Belo Horizonte. Mensagem, Belo Horizonte, 15 jun. 1943.
- MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 jun. 1941.
- MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 fev. 1943.
- NADA se perderá de agora em diante da história de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, p. 3, 19 fev. 1943.
- NOTÍCIAS de Minas. A Noite, Rio de Janeiro, n. 10.212, ano 29, p. 6, 16 jul. 1940.
- PENALVA, Gastão. A Fazenda do Leitão. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ano 30, n. 10.384, p. 5, 8 jan. 1941.
- RACIOPPI, Vicente. Praeteritum Dilige. Estado de Minas, Belo Horizonte, 10 jul. 1940.
- UM MUSEU para Belo Horizonte. O Diário, Belo Horizonte, 8 mar. 1941.
- UM MUSEU na Prefeitura para guardar as relíquias da capital mineira. [S. l.: s. n.], 26 nov. 1937.
LIVROS, ARTIGOS E TESES
- ABREU, José Cláudio de Almeida. Breve notícia sobre a vida e a produção literária de Abílio Barreto. In: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 41-50.
- ABREU, Regina. Emblemas da nacionalidade: o culto a Euclides da Cunha. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 66-85, 1994.
- ALVES, Célia Regina Araújo. Preciosas memórias, belos fragmentos: Abílio Barreto e Raul Tassini: a ordenação do passado na formação do acervo do Museu Histórico de Belo Horizonte (1935-1956). 2008. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.
- BAHIA, Denise Marques. A arquitetura política e cultural do tempo histórico na modernização de Belo Horizonte (1940-1945). 2011. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.
- BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história média. Belo Horizonte: Livraria Rex, 1936.
- BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996.
- BARRETO, Abílio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950.
- BITTENCOURT, José Neves. MHBH, MHAB, MhAB: o sítio da Fazenda Velha do Leitão, seus diversos prédios e seus museus, 1943-2000. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 35-58.
- BRAGA, Vanuza Moreira. Viagens ao passado: os intelectuais e a sacralização de Ouro Preto. Revista Mosaico, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 58-75, 2010.
- CAJAZEIRO, Karime Gonçalves. A cidade jardim belo-horizontina e o campo do patrimônio cultural: representações, modernidade e modos de vida. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.
- CÂNDIDO, Maria Inês. MHAB: 60 anos de história. A construção do lugar e a criação da memória. Fundação e consolidação do Museu: 1935/1946. In: MHAB: 60 anos de história. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2003. p. 9-12.
- CÂNDIDO, Maria Inês; TRINDADE, Silvana Cançado. O acervo de objetos do MHAB: formação, caracterização e perspectivas. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 143-166.
- CEDRO, Marcelo. A administração JK em Belo Horizonte e o diálogo com as artes plásticas e a memória: um laboratório para sua ação nos anos 1950 e 1960. ArtCultura, Uberlândia, v. 9, n. 14, p. 127-142, 2007.
- CEDRO, Marcelo. JK desperta BH (1940-1945): a capital de Minas Gerais na trilha da modernização. São Paulo: Annablume, 2009.
- CHAGAS, Mario de Souza. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de Mário de Andrade. Chapecó: Argos, 2015.
- CHAGAS, Mario de Souza. Imaginação museal: museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. 2003. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.
- CHAGAS, Mario de Souza. Pesquisa museológica. MAST Colloquia, Rio de Janeiro, v. 7, p. 51-64, 2005.
- COSTA, Lygia Martins. De Museologia, arte e políticas de patrimônio. Rio de Janeiro: Iphan, 2002.
- FARIA, Maria Auxiliadora. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: à guisa de uma análise crítica. In: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 27-32.
- FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.
- HEYMANN, Luciana Quillet. Cinquenta anos sem Vargas: reflexões acerca da construção de um “legado”. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 28, 2004, Caxambu. Anais [...]. São Paulo: Anpocs, 2004. p. 1-16.
- JULIÃO, Letícia. Colecionismo mineiro. In: Colecionismo mineiro. Belo Horizonte: Superintendência de Museus, 2002. p. 19-75.
- JULIÃO, Letícia. Sensibilidades e representações urbanas na transferência da capital de Minas Gerais. História, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 114-147, 2011. DOI: 10.1590/S0101-90742011000100006.
» https://doi.org/10.1590/S0101-90742011000100006 - KUBITSCHEK, Juscelino. A escalada política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976.
- MENESES, Ulpiano Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 2, p. 9-42, 1994. DOI: 10.1590/S0101-47141994000100002.
» https://doi.org/10.1590/S0101-47141994000100002 - MENESES, Ulpiano Bezerra de. Fontes textuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, p. 11-36, 2003. DOI: 10.1590/S0102-01882003000100002.
» https://doi.org/10.1590/S0102-01882003000100002 - NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, 1993.
- OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. O tempo presente e os sentidos do museu de história. Revista História Hoje, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 103-123, 2013. DOI: 10.20949/rhhj.v2i4.89.
» https://doi.org/10.20949/rhhj.v2i4.89 - PARRELA, Ivana. A lógica e o labirinto. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, v. 43, n. 1, p. 92-105, 2007.
- PARRELA, Ivana. Arquivo, gestão de documentos e preservação da memória da cidade. In: Anuário estatístico de Belo Horizonte: 2003. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2004. v. 1, p. 93-102.
- PARRELA, Ivana. Patrimônio documental e escrita de uma história da pátria regional: Arquivo Público Mineiro 1895-1937. São Paulo: Annablume, 2012.
- PIMENTEL, Thaís Veloso Cougo. Belo Horizonte ou o estigma da cidade moderna. Varia História, Belo Horizonte, n. 18, p. 61-68, 1997.
- PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Crônica da revitalização de um museu público: dez anos no MHAB. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 13-34.
- PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do Mito. In: Juscelino prefeito: 1940-1945. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2002. p. 19-24.
- POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no ocidente. São Paulo: Estação Liberdade, 2009.
- SALGUEIRO, Heliana Angotti. A “volta” da História. In: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 35-40.
- SANTOS, Gilvan Rodrigues dos; COSTA, Thiago Carlos. O futuro do passado da cidade: a formação do núcleo original do acervo Museu Histórico de Belo Horizonte. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. 38, p. 213-230, 2006a.
- SANTOS, Gilvan Rodrigues dos; COSTA, Thiago Carlos. Pensando o futuro da história da cidade: a formação das coleções do MHAB. In: Belo Horizonte: tempo e movimentos da cidade capital. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2006b. p. 15-19.
- SANTOS, Ingridde Engel Alves dos. Imagens do futuro nos museus: das máquinas do porvir às moradas de sonhos coletivos. 2020. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2020.
- SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. História, tempo e memória: um estudo sobre museus a partir da observação feita no Museu Imperial e no Museu Histórico Nacional. 1989. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1989.
- SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.
- SILVA, Glaci Terezinha Braga da. A materialização da nação através do patrimônio: o papel do SPHAN no regime estadonovista. 2010. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.
- SOUZA, Eneida Maria de. Imagens da modernidade. In: SOUZA, Eneida Maria de (org.). Modernidades tardias. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 19-30.
- VAN MENSCH, Peter. O objeto de estudo da museologia. Rio de Janeiro: Unirio, 1994.
- VELOSO, Mariza. O tecido do tempo: o patrimônio cultural no Brasil e a Academia Sphan: a relação entre modernismo e barroco. Brasília, DF: Editora da UnB, 2018.
-
1
Pesquisa financiada com Bolsa de Produtividade em Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq).
-
3
Chagas (2003CHAGAS, Mario de Souza. Imaginação museal: museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. 2003. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003.).
-
4
Ibid., p. 64.
-
5
Id., 2005CHAGAS, Mario de Souza. Pesquisa museológica. MAST Colloquia, Rio de Janeiro, v. 7, p. 51-64, 2005., p. 57.
-
6
Poulot (2009POULOT, Dominique. Uma história do patrimônio no ocidente. São Paulo: Estação Liberdade, 2009., p. 12).
-
7
Folha de Minas (1941FOLHA DE MINAS. Belo Horizonte, 5 jun. 1941, p. 3., p. 3).
-
8
Ibid.
-
9
Nora (1993NORA, Pierre. Entre memória e história: a problemática dos lugares. Projeto História, São Paulo, n. 10, p. 7-28, 1993.).
-
10
Santos (2020SANTOS, Ingridde Engel Alves dos. Imagens do futuro nos museus: das máquinas do porvir às moradas de sonhos coletivos. 2020. Dissertação (Mestrado em Comunicação) - Faculdade de Comunicação, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 2020.).
-
11
Ibid., p. 38.
-
12
Ibid., p. 99.
-
13
Cf. Santos, op. cit.
-
14
Meneses (1994MENESES, Ulpiano Bezerra de. Do teatro da memória ao laboratório da História: a exposição museológica e o conhecimento histórico. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 2, p. 9-42, 1994. DOI: 10.1590/S0101-47141994000100002.
https://doi.org/10.1590/S0101-4714199400... ). -
15
Id., 2003MENESES, Ulpiano Bezerra de. Fontes textuais, cultura visual, história visual. Balanço provisório, propostas cautelares. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 23, n. 45, p. 11-36, 2003. DOI: 10.1590/S0102-01882003000100002.
https://doi.org/10.1590/S0102-0188200300... , p. 28. -
16
Oliveira (2013OLIVEIRA, Cecília Helena de Salles. O tempo presente e os sentidos do museu de história. Revista História Hoje, São Paulo, v. 2, n. 4, p. 103-123, 2013. DOI: 10.20949/rhhj.v2i4.89.
https://doi.org/10.20949/rhhj.v2i4.89... , p. 105). -
17
Cf. Sarlo (2007SARLO, Beatriz. Tempo passado: cultura da memória e guinada subjetiva. São Paulo: Companhia das Letras, 2007.).
-
18
A dissertação de Célia Regina Araújo Alves (2008ALVES, Célia Regina Araújo. Preciosas memórias, belos fragmentos: Abílio Barreto e Raul Tassini: a ordenação do passado na formação do acervo do Museu Histórico de Belo Horizonte (1935-1956). 2008. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.) evidencia como o Museu Histórico de Belo Horizonte consistiu em uma das instituições responsáveis por forjar e legitimar uma vertente oficial de leitura da história da nova capital, tendo o extinto arraial de Curral del Rei como mito de origem. O trabalho apresenta as disputas a respeito do modo como a narrativa museológica deveria expressar esse passado, a exemplo do debate caloroso na imprensa local entre Abílio Barreto, diretor do museu, e o médico Edelweiss Teixeira, um ano antes da inauguração do museu; e as controvérsias entre Barreto e o conservador-pesquisador Raul Tassini, também funcionário do museu, em torno do reconhecimento de outras versões sobre o passado da capital.
-
19
Julião (2011JULIÃO, Letícia. Sensibilidades e representações urbanas na transferência da capital de Minas Gerais. História, São Paulo, v. 30, n. 1, p. 114-147, 2011. DOI: 10.1590/S0101-90742011000100006.
https://doi.org/10.1590/S0101-9074201100... , p. 118). -
20
Cf. Parrela (2012PARRELA, Ivana. Patrimônio documental e escrita de uma história da pátria regional: Arquivo Público Mineiro 1895-1937. São Paulo: Annablume, 2012.).
-
21
Cf. Barreto (1950BARRETO, Abílio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950.).
-
22
Bello... (1895BELLO Horisonte III. Cidade do Rio, Rio de Janeiro, n. 214, ano 10, p. 1, 13 set. 1895., p. 1).
-
23
De acordo com Letícia Julião (2002JULIÃO, Letícia. Colecionismo mineiro. In: Colecionismo mineiro. Belo Horizonte: Superintendência de Museus, 2002. p. 19-75.), o Museu Mineiro foi instalado em 1982 com a integração de três coleções: Coleção Arquivo Público Mineiro; Coleção Pinacoteca do Estado; e Coleção Geraldo Parreiras.
-
24
Nada... (1943NADA se perderá de agora em diante da história de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, p. 3, 19 fev. 1943., p. 3).
-
25
Museu... (1941MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 jun. 1941.).
-
26
Museu... (1943MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 fev. 1943.).
-
27
Nada..., op. cit., p. 3.
-
28
Museu... (1943MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 20 fev. 1943.).
-
29
Fonseca (2005FONSECA, Maria Cecília Londres. O patrimônio em processo: trajetória da política federal de preservação no Brasil. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2005.).
-
30
Ibid., p. 92-93.
-
31
Veloso (2018VELOSO, Mariza. O tecido do tempo: o patrimônio cultural no Brasil e a Academia Sphan: a relação entre modernismo e barroco. Brasília, DF: Editora da UnB, 2018.).
-
32
Ibid., p. 64.
-
33
Ibid., p. 53.
-
34
Cf. Costa (2002COSTA, Lygia Martins. De Museologia, arte e políticas de patrimônio. Rio de Janeiro: Iphan, 2002.).
-
35
Ibid., p. 27.
-
36
Um museu... (1941UM MUSEU para Belo Horizonte. O Diário, Belo Horizonte, 8 mar. 1941.).
-
37
Alves (2008ALVES, Célia Regina Araújo. Preciosas memórias, belos fragmentos: Abílio Barreto e Raul Tassini: a ordenação do passado na formação do acervo do Museu Histórico de Belo Horizonte (1935-1956). 2008. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008.).
-
38
Faria (1996FARIA, Maria Auxiliadora. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: à guisa de uma análise crítica. In: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 27-32., p. 29).
-
39
Silva (2010SILVA, Glaci Terezinha Braga da. A materialização da nação através do patrimônio: o papel do SPHAN no regime estadonovista. 2010. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010., p. 117).
-
40
Braga (2010BRAGA, Vanuza Moreira. Viagens ao passado: os intelectuais e a sacralização de Ouro Preto. Revista Mosaico, Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 58-75, 2010., p. 63).
-
41
Alves, op. cit.
-
42
Ibid., p. 40-41.
-
43
Cf. Barreto (1941aBARRETO, Abílio. Relatório apresentado por Abílio Barreto ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte relativamente à viagem que efetuou ao Rio de Janeiro em visita aos museus daquela cidade cumprindo ordens de S. Excia. Belo Horizonte, 20 de agosto de 1941. 8 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1941a.).
-
44
Cf. Kubitschek (1942KUBITSCHEK, Juscelino. Ofício nº 175/42 enviado a Rodrigo Melo Franco de Andrade. Belo Horizonte, 27 de outubro de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.).
-
45
Cedro (2009CEDRO, Marcelo. JK desperta BH (1940-1945): a capital de Minas Gerais na trilha da modernização. São Paulo: Annablume, 2009., p. 147).
-
46
“O regime que se instalara, através de um golpe, em novembro de 1937, embora se denominasse ‘novo’, caracterizava-se mais pela manutenção da ordem política já estabelecida e consolidada nas mãos da elite nacional. Apresentando-se como capaz de superar os problemas relativos ao fraco desempenho econômico e social do país e apontando soluções a partir da constituição de um governo forte e centralizador que concretizasse o Estado nacional, o Estado Novo pode ser definido a partir de três princípios presentes durante o período de 1937 a 1945: autoritarismo, centralismo e nacionalismo. [...] As políticas implantadas pelo Estado Novo estavam centradas na consolidação da nação, o que se daria a partir da inclusão do país na lógica industrial do mundo capitalista, e através da homogeneização cultural que permitiria a afirmação da brasilidade e, consequentemente, da identidade nacional” (SILVA, 2010SILVA, Glaci Terezinha Braga da. A materialização da nação através do patrimônio: o papel do SPHAN no regime estadonovista. 2010. Dissertação (Mestrado em História) - Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010., p. 22).
-
47
Cedro, op. cit., p. 149.
-
48
Santos e Costa (2006bSANTOS, Gilvan Rodrigues dos; COSTA, Thiago Carlos. Pensando o futuro da história da cidade: a formação das coleções do MHAB. In: Belo Horizonte: tempo e movimentos da cidade capital. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2006b. p. 15-19., p. 19).
-
49
Alves, op. cit., p. 54.
-
50
Cf. Barreto (1941aBARRETO, Abílio. Relatório apresentado por Abílio Barreto ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte relativamente à viagem que efetuou ao Rio de Janeiro em visita aos museus daquela cidade cumprindo ordens de S. Excia. Belo Horizonte, 20 de agosto de 1941. 8 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1941a.).
-
51
Brandão (1947BRANDÃO, Mario Lúcio. Museu Histórico de Belo Horizonte: dados estatísticos. Belo Horizonte, 12 de agosto de 1947. 4 f. Datilografado. Série Inventário, I.MG-0009.01, Arquivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro, 1947.).
-
52
Cândido e Trindade (2004CÂNDIDO, Maria Inês; TRINDADE, Silvana Cançado. O acervo de objetos do MHAB: formação, caracterização e perspectivas. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 143-166.).
-
53
Pimentel (2004PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Crônica da revitalização de um museu público: dez anos no MHAB. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 13-34., p. 14).
-
54
Cedro, op. cit.
-
55
Ibid., p. 82.
-
56
Souza (1998SOUZA, Eneida Maria de. Imagens da modernidade. In: SOUZA, Eneida Maria de (org.). Modernidades tardias. Belo Horizonte: UFMG, 1998. p. 19-30., p. 24).
-
57
Bittencourt (2004BITTENCOURT, José Neves. MHBH, MHAB, MhAB: o sítio da Fazenda Velha do Leitão, seus diversos prédios e seus museus, 1943-2000. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 35-58.).
-
58
Félix (1943FÉLIX, Gato. Belo Horizonte e o seu Museu. Diário da Tarde, Belo Horizonte, 25 fev. 1943.).
-
59
Heymann (2004HEYMANN, Luciana Quillet. Cinquenta anos sem Vargas: reflexões acerca da construção de um “legado”. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 28, 2004, Caxambu. Anais [...]. São Paulo: Anpocs, 2004. p. 1-16.).
-
60
Ibid., p. 3.
-
61
Cf. Abreu (1994ABREU, Regina. Emblemas da nacionalidade: o culto a Euclides da Cunha. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 24, n. 1, p. 66-85, 1994.).
-
62
Barreto (1950BARRETO, Abílio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950., p. 311).
-
63
Cf. Abreu (1996ABREU, José Cláudio de Almeida. Breve notícia sobre a vida e a produção literária de Abílio Barreto. In: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 41-50.).
-
64
Parrela (2007PARRELA, Ivana. A lógica e o labirinto. Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte, v. 43, n. 1, p. 92-105, 2007.).
-
65
Ibid., p. 96.
-
66
Isso ocorre ao ponto de na matéria “Belo Horizonte também tem o seu museu”, publicada no Diário da Tarde, em 16 de março de 1940, o articulista confundir a coleção exposta no Arquivo Público Mineiro com um museu: “O Arquivo Público Mineiro, por exemplo, ainda é muito ignorado dos próprios mineiros. [...] Deslumbrado ficará quem transpuser o seu largo portão, verificando que Belo Horizonte possui, também, o seu museu histórico. Na primeira sala estão expostos canhões, prensa de cunhar moedas, coroas, relógios antiguíssimos, e mais um infinidades de objetos, além de farto documentário fotográfico, atestando, pitorescamente, toda a tradição de Minas Gerais” (BELO..., 1940BELO Horizonte também tem o seu museu. Diário da Tarde, Belo Horizonte, 16 mar. 1940.).
-
67
Barreto (1950BARRETO, Abílio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950., p. 311).
-
68
Parrela (2012PARRELA, Ivana. Patrimônio documental e escrita de uma história da pátria regional: Arquivo Público Mineiro 1895-1937. São Paulo: Annablume, 2012., p. 209).
-
69
Cf. Parrela (2004PARRELA, Ivana. Arquivo, gestão de documentos e preservação da memória da cidade. In: Anuário estatístico de Belo Horizonte: 2003. Belo Horizonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2004. v. 1, p. 93-102.).
-
70
Barreto (1936BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história média. Belo Horizonte: Livraria Rex, 1936., p. 9).
-
71
Mensagem... (1943MENSAGEM entrevista o Dr. Abílio Barreto sobre o Museu Histórico de Belo Horizonte. Mensagem, Belo Horizonte, 15 jun. 1943., p. 1, grifo nosso).
-
72
Salgueiro (1996SALGUEIRO, Heliana Angotti. A “volta” da História. In: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 35-40., p. 36).
-
73
Cf. Barreto (1950BARRETO, Abílio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950.).
-
74
Mensagem..., op. cit., p. 1.
-
75
Ibid., p. 2.
-
76
Ibid., p. 1.
-
77
Barreto (1940BARRETO, Abílio. Relatório apresentado ao senhor Inspetor do Expediente e Comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte. Belo Horizonte, 3 de janeiro de 1940. Datilografado. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1940.).
-
78
Cf. Alves, op. cit.
-
79
Mensagem..., op. cit., p. 1.
-
80
Cf. Cedro, op. cit.
-
81
Ibid.
-
82
Ibid., p. 23.
-
83
Belo Horizonte (1941BELO HORIZONTE. Decreto nº 91, de 20 de maio de 1941. Cria a Secção de História, núcleo do museu da cidade. Belo Horizonte: Inspetoria do Expediente e Comunicações, 1941.).
-
84
Barreto (1950BARRETO, Abílio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950., p. 311).
-
85
Lançados... (1941LANÇADOS os fundamentos da criação do Museu de Belo Horizonte. Folha de Minas, Belo Horizonte, 3 abr. 1941.).
-
86
Museu... (1941MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 jun. 1941.).
-
87
Barreto (1941aBARRETO, Abílio. Relatório apresentado por Abílio Barreto ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte relativamente à viagem que efetuou ao Rio de Janeiro em visita aos museus daquela cidade cumprindo ordens de S. Excia. Belo Horizonte, 20 de agosto de 1941. 8 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1941a.).
-
88
De acordo com Célia Alves (2008ALVES, Célia Regina Araújo. Preciosas memórias, belos fragmentos: Abílio Barreto e Raul Tassini: a ordenação do passado na formação do acervo do Museu Histórico de Belo Horizonte (1935-1956). 2008. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008., p. 43), a visita ao Museu Histórico Nacional impactou Abílio Barreto não somente no delineamento da museografia a ser desenvolvida nas salas do Museu de Belo Horizonte, mas no mesmo tipo de documentação. Informa que o memorialista preenchia manualmente as fichas-guia, anotações que eram datilografadas, em sua maioria, pela funcionária Maria d’Apparecida Hermeto: “A descrição do acervo foi feita, criteriosamente, por Abílio Barreto durante os anos em que trabalhou na organização e consolidação do MHBH, entre 1941 e 1946. Registrou até o objeto de número 568, correspondente a um aparelho radiofônico”.
-
89
Cf. Van Mensch (1994VAN MENSCH, Peter. O objeto de estudo da museologia. Rio de Janeiro: Unirio, 1994.).
-
90
Chagas (2003CHAGAS, Mario de Souza. Imaginação museal: museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. 2003. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003., p. 76).
-
91
Santos (1989SANTOS, Myrian Sepúlveda dos. História, tempo e memória: um estudo sobre museus a partir da observação feita no Museu Imperial e no Museu Histórico Nacional. 1989. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1989., p. 13).
-
92
Chagas (2003CHAGAS, Mario de Souza. Imaginação museal: museu, memória e poder em Gustavo Barroso, Gilberto Freyre e Darcy Ribeiro. 2003. Tese (Doutorado em Ciências Sociais) - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003., p. 114).
-
93
Pimentel (1997PIMENTEL, Thaís Veloso Cougo. Belo Horizonte ou o estigma da cidade moderna. Varia História, Belo Horizonte, n. 18, p. 61-68, 1997., p. 61).
-
94
Barreto (1941aBARRETO, Abílio. Relatório apresentado por Abílio Barreto ao Sr. Prefeito de Belo Horizonte relativamente à viagem que efetuou ao Rio de Janeiro em visita aos museus daquela cidade cumprindo ordens de S. Excia. Belo Horizonte, 20 de agosto de 1941. 8 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1941a.).
-
95
Ibid..
-
96
Alves, op. cit., p. 42.
-
97
Barreto (1942aBARRETO, Abílio. Relatório elaborado por Abílio Barreto encarregado da Seção de História, ao Exmo. Dr. Juscelino Kubitschek, digníssimo Prefeito da Capital, referente ao exercício de 1942. Belo Horizonte, 1942. 9 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942a.).
-
98
Alves, op. cit., p. 101.
-
99
Museu... (1941MUSEU de Belo Horizonte. Estado de Minas, Belo Horizonte, 11 jun. 1941.).
-
100
Um museu... (1937UM MUSEU na Prefeitura para guardar as relíquias da capital mineira. [S. l.: s. n.], 26 nov. 1937.).
-
101
Racioppi (1940RACIOPPI, Vicente. Praeteritum Dilige. Estado de Minas, Belo Horizonte, 10 jul. 1940.).
-
102
Penalva (1941PENALVA, Gastão. A Fazenda do Leitão. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, ano 30, n. 10.384, p. 5, 8 jan. 1941., p. 5).
-
103
Bahia (2011BAHIA, Denise Marques. A arquitetura política e cultural do tempo histórico na modernização de Belo Horizonte (1940-1945). 2011. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2011.).
-
104
Ibid., p. 118.
-
105
Ibid.
-
106
Bittencourt (2004BITTENCOURT, José Neves. MHBH, MHAB, MhAB: o sítio da Fazenda Velha do Leitão, seus diversos prédios e seus museus, 1943-2000. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 35-58.).
-
107
Ibid., p. 40.
-
108
Ibid., p. 44.
-
109
Alves, op. cit.
-
110
Ibid., p. 83.
-
111
Ibid., p. 81.
-
112
Barreto (1996BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996., p. 69).
-
113
Alves, op. cit., p. 113.
-
114
Barreto (1942aBARRETO, Abílio. Relatório elaborado por Abílio Barreto encarregado da Seção de História, ao Exmo. Dr. Juscelino Kubitschek, digníssimo Prefeito da Capital, referente ao exercício de 1942. Belo Horizonte, 1942. 9 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942a.).
-
115
Alves, op. cit.
-
116
Cajazeiro (2010CAJAZEIRO, Karime Gonçalves. A cidade jardim belo-horizontina e o campo do patrimônio cultural: representações, modernidade e modos de vida. 2010. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) - Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2010.).
-
117
Kubitschek (1976KUBITSCHEK, Juscelino. A escalada política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976., p. 52).
-
118
Ibid.
-
119
Belo Horizonte, op. cit.
-
120
Cf. Mensagem..., op. cit.
-
121
Notícias... (1940NOTÍCIAS de Minas. A Noite, Rio de Janeiro, n. 10.212, ano 29, p. 6, 16 jul. 1940., p. 6).
-
122
Ibid.
-
123
Kubitschek (1976KUBITSCHEK, Juscelino. A escalada política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976.).
-
124
Ibid., p. 53.
-
125
Barreto (1941bBARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 9 de setembro de 1941. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1941b.).
-
126
Ibid.
-
127
Cf. Reis (1942REIS, José de Souza. Cópia do parecer da Seção Técnica, Casa da Fazenda do Leitão em Belo Horizonte. Rio de Janeiro, 1942. 1 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.).
-
128
Ibid.
-
129
Kubitschek (1942KUBITSCHEK, Juscelino. Ofício nº 175/42 enviado a Rodrigo Melo Franco de Andrade. Belo Horizonte, 27 de outubro de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.).
-
130
Andrade (1942ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Ofício nº 1152 enviado a Juscelino Kubitschek. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.).
-
131
Barreto (1942bBARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 1 de dezembro de 1942. 1 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942b.).
-
132
Ibid.
-
133
Barreto (1942cBARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 25 de setembro de 1942. 1 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942c.).
-
134
Alves, op. cit.
-
135
Ibid., p. 45.
-
136
Ibid.
-
137
Cf. Cândido (2003CÂNDIDO, Maria Inês. MHAB: 60 anos de história. A construção do lugar e a criação da memória. Fundação e consolidação do Museu: 1935/1946. In: MHAB: 60 anos de história. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2003. p. 9-12.).
-
138
Mensagem..., op. cit., p. 1.
-
139
Cf. Cândido (2003CÂNDIDO, Maria Inês. MHAB: 60 anos de história. A construção do lugar e a criação da memória. Fundação e consolidação do Museu: 1935/1946. In: MHAB: 60 anos de história. Belo Horizonte: Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 2003. p. 9-12.).
-
140
Ibid., p. 11.
-
141
Kubitschek (1976KUBITSCHEK, Juscelino. A escalada política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976.).
-
142
O sobrado remanescente da Fazenda Velha do Córrego do Leitão foi tombado pelo Sphan em 29 de março de 1951, conforme atesta ofício de Rodrigo Melo Franco de Andrade. Neste documento, consta seguinte anotação manuscrita de Carlos Drummond de Andrade, chefe da seção de história: “Inscrito sob o nº 282, a fls. 48, do Livro do Tombo Histórico, nesta data. Em 29. III. 1951. C. Drummond. Chefe da S. H.” (ANDRADE, 1951ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Documento enviado à Seção de História do Sphan. Rio de Janeiro, 29 de março de 1951. 1 f. Datilografado. Série Inventário, I.MG-0009.01, Arquivo Central do Iphan - Seção Rio de Janeiro, 1951.).
-
143
Kubitschek (1942KUBITSCHEK, Juscelino. Ofício nº 175/42 enviado a Rodrigo Melo Franco de Andrade. Belo Horizonte, 27 de outubro de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.).
-
144
Ibid.
-
145
Um museu... (1937UM MUSEU na Prefeitura para guardar as relíquias da capital mineira. [S. l.: s. n.], 26 nov. 1937.).
-
146
Faria (1996FARIA, Maria Auxiliadora. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: à guisa de uma análise crítica. In: BARRETO, Abílio. Belo Horizonte: memória histórica e descritiva: história antiga. Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro, 1996. p. 27-32.).
-
147
Ibid., p. 28.
-
148
Ibid.
-
149
Barreto (1950BARRETO, Abílio. Resumo histórico de Belo Horizonte (1701-1947). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1950., p. 14).
-
150
Cf. Alves, op. cit.
-
151
Barreto (1942aBARRETO, Abílio. Relatório elaborado por Abílio Barreto encarregado da Seção de História, ao Exmo. Dr. Juscelino Kubitschek, digníssimo Prefeito da Capital, referente ao exercício de 1942. Belo Horizonte, 1942. 9 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942a.).
-
152
Ibid.
-
153
Andrade (1942ANDRADE, Rodrigo Melo Franco de. Ofício nº 1152 enviado a Juscelino Kubitschek. Rio de Janeiro, 25 de novembro de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.).
-
154
Reis (1942REIS, José de Souza. Cópia do parecer da Seção Técnica, Casa da Fazenda do Leitão em Belo Horizonte. Rio de Janeiro, 1942. 1 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942.).
-
155
Barreto (1942dBARRETO, Abílio. Correspondência enviada ao prefeito Juscelino Kubitschek. Belo Horizonte, 11 de agosto de 1942. 2 f. Datilografado. Dossiê MHAB/Idealização e Organização. Museu Histórico Abílio Barreto, Acervo Textual, 1942d.).
-
156
Cedro (2007CEDRO, Marcelo. A administração JK em Belo Horizonte e o diálogo com as artes plásticas e a memória: um laboratório para sua ação nos anos 1950 e 1960. ArtCultura, Uberlândia, v. 9, n. 14, p. 127-142, 2007.).
-
157
Ibid., p. 140-141.
-
158
Nada..., op. cit., p. 3.
-
159
Cf. Veloso, op. cit.
-
160
Cf. Alves, op. cit.
-
161
Ibid., p. 54.
-
162
Cf. Kubitschek (1976KUBITSCHEK, Juscelino. A escalada política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976.).
-
163
Cf. Alves, op. cit.
-
164
Ibid., p. 56.
-
165
Kubitschek (1976KUBITSCHEK, Juscelino. A escalada política. Rio de Janeiro: Bloch, 1976.).
-
166
Ibid., p. 55.
-
167
Pimentel (2004PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Crônica da revitalização de um museu público: dez anos no MHAB. In: PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo (org.). Reinventando o MHAB: o museu e seu novo lugar na cidade (1993-2003). Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2004. p. 13-34.).
-
168
Id., 2002PIMENTEL, Thaís Velloso Cougo. Prefácio do Mito. In: Juscelino prefeito: 1940-1945. Belo Horizonte: Museu Histórico Abílio Barreto, 2002. p. 19-24., p. 24.
-
169
Santos e Costa (2006aSANTOS, Gilvan Rodrigues dos; COSTA, Thiago Carlos. O futuro do passado da cidade: a formação do núcleo original do acervo Museu Histórico de Belo Horizonte. Anais do Museu Histórico Nacional, Rio de Janeiro, v. 38, p. 213-230, 2006a., p. 224).
-
170
Chagas (2015CHAGAS, Mario de Souza. Há uma gota de sangue em cada museu: a ótica museológica de Mário de Andrade. Chapecó: Argos, 2015., p. 24).
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
25 Mar 2022 -
Data do Fascículo
2022
Histórico
-
Recebido
12 Fev 2021 -
Aceito
11 Jun 2021