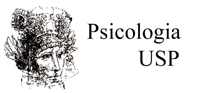Resumos
Este artigo se inicia com a proposição de que as travestis, em especial as de baixa renda, excedem as classificações normativas associadas ao gênero e sexualidade presentes em nossa sociedade, o que as torna objeto de intensa discriminação. Em seguida, busca refletir sobre a história de vida comum a elas, de violência no contexto familiar e escolar, e sobre a assimilação da identidade do “viado” ou ”bicha”, a mais antiga em sua “colcha de retalhos” identitária. A migração para a cidade grande e a entrada na prostituição acarretam a inserção em um universo diferenciado, próprio às travestis, o que é aqui interpretado como um processo de ressocialização. Ao final, busca-se refletir sobre um dos contextos relacionais presentes em seu universo - sua relação com seus companheiros fixos, ou “maridos” - que as leva à incorporação da figura da mulher submissa como um de seus fragmentos identitários constituintes.
Travestis; Identidade; Preconceito; Gênero
This article starts proposing that travestis, especially the low-income ones, exceed the normative classification associated with gender and sexuality within the Brazilian society, which subjects them to intense discrimination. Subsequently, it decribes their life history, full of family and school violence, where we may see the assimilation of the viado (passive homossexual) identity, which is the oldest fragment in their “patchwork” identity. The migration to the big cities, along with the practice of prostitution, leads them to a new world, unique to travestis, which is analysed as a process of ressocialization. Finally, a reflection is made about one of the context related to their world - the relationship with their ”husbands” (companions) - where we may see the incorporation of the image of the submissive woman as one of their identity fragments.
Travestis; Identity; Prejudice; Gender
Este artículo se inicia con la proposición de que las travestidas, en particular las de bajos recursos, exceden las clasificaciones normativas asociadas al género y sexualidad presentes en nuestra sociedad, lo que las hace objeto de intensa discriminación. A continuación, busca reflexionar sobre la historia de vida que les es común, de violencia en el ámbito familiar y escolar, y sobre la asimilación de la identidad de “joto” o “maricón”, la más antigua en su “mosaico” identitario. La migración hacia las grandes ciudades y la entrada en la prostitución conllevan la inserción en un universo distinto, propio de las travestidas, lo que aquí es interpretado como un proceso de resocialización. Al final, se busca reflexionar sobre uno de los contextos relacionales presentes en su universo - su relación con sus compañeros fijos o “esposos” - que las conduce a la incorporación de la figura de la mujer sumisa como uno de sus fragmentos identitarios constitutivos.
Travestidos; Identidad; Discriminación; Género
Cet article commence par la proposition que les travestis, surtout ceux de faibles revenus, excèdent les classements normatifs associés au genre et à la sexualité présents dans notre société, ce qui en fait un objet de discrimination intense. Par la suite, il cherche à refléter sur leur histoire de vie commune, de violence dans le contexte familial et scolaire, et sur l’assimilation de l’identité de viado (“pédé“), la plus ancienne dans leur patchwork identitaire. La migration vers la métropole et le début dans la prostitution entraînent leur insertion dans uns univers différentié, propre aux travestis, ce qui est interprété ici comme un processus de resocialisation. À la fin, l’on tente de réfléchir sur un des contextes relationnels présents dans leur univers - leur rapport avec leurs compagnons fixes, c’est à dire leurs maridos (“maris“) - ce qui les mène à l’incorporation de la figure de la femme soumise telle qu’un de leurs fragments identitaires constituants.
Travestis; Identité; Discrimination; Genre
ARTIGOS ORIGINAIS
Alguns aspectos da construção do gênero entre travestis de baixa renda1 1 Artigo derivado de Tese de Doutorado Dragões: gênero, corpo, trabalho e violência na formação da identidade entre travestis de baixa renda, orientada por Yvette Piha Lehman e defendida em 10/05/2007 junto ao Departamento de Psicologia Social e do Trabalho da Universidade de São Paulo, com finaciamento da CAPES.
Some aspects of gender construction amongst low-income travestis
Quelques aspects de la construction du genre entre travestis de faibles revenus
Algunos aspectos de la construcción del género entre travestidas de bajos recursos
Marcos Roberto Vieira Garcia
Universidade Federal de São Carlos
RESUMO
Este artigo se inicia com a proposição de que as travestis, em especial as de baixa renda, excedem as classificações normativas associadas ao gênero e sexualidade presentes em nossa sociedade, o que as torna objeto de intensa discriminação. Em seguida, busca refletir sobre a história de vida comum a elas, de violência no contexto familiar e escolar, e sobre a assimilação da identidade do viado ou bicha, a mais antiga em sua colcha de retalhos identitária. A migração para a cidade grande e a entrada na prostituição acarretam a inserção em um universo diferenciado, próprio às travestis, o que é aqui interpretado como um processo de ressocialização. Ao final, busca-se refletir sobre um dos contextos relacionais presentes em seu universo sua relação com seus companheiros fixos, ou maridos - que as leva à incorporação da figura da mulher submissa como um de seus fragmentos identitários constituintes.
Palavras-chave: Travestis. Identidade. Preconceito. Gênero.
ABSTRACT
This article starts proposing that travestis, especially the low-income ones, exceed the normative classification associated with gender and sexuality within the Brazilian society, which subjects them to intense discrimination. Subsequently, it decribes their life history, full of family and school violence, where we may see the assimilation of the viado (passive homossexual) identity, which is the oldest fragment in their patchwork identity. The migration to the big cities, along with the practice of prostitution, leads them to a new world, unique to travestis, which is analysed as a process of ressocialization. Finally, a reflection is made about one of the context related to their world - the relationship with their husbands (companions) - where we may see the incorporation of the image of the submissive woman as one of their identity fragments.
Keywords: Travestis. Identity. Prejudice. Gender.
RÉSUMÉ
Cet article commence par la proposition que les travestis, surtout ceux de faibles revenus, excèdent les classements normatifs associés au genre et à la sexualité présents dans notre société, ce qui en fait un objet de discrimination intense. Par la suite, il cherche à refléter sur leur histoire de vie commune, de violence dans le contexte familial et scolaire, et sur lassimilation de lidentité de viado (pédé), la plus ancienne dans leur patchwork identitaire. La migration vers la métropole et le début dans la prostitution entraînent leur insertion dans uns univers différentié, propre aux travestis, ce qui est interprété ici comme un processus de resocialisation. À la fin, lon tente de réfléchir sur un des contextes relationnels présents dans leur univers leur rapport avec leurs compagnons fixes, cest à dire leurs maridos (maris) - ce qui les mène à lincorporation de la figure de la femme soumise telle quun de leurs fragments identitaires constituants.
Mots-clés: Travestis. Identité. Discrimination. Genre.
RESUMEN
Este artículo se inicia con la proposición de que las travestidas, en particular las de bajos recursos, exceden las clasificaciones normativas asociadas al género y sexualidad presentes en nuestra sociedad, lo que las hace objeto de intensa discriminación. A continuación, busca reflexionar sobre la historia de vida que les es común, de violencia en el ámbito familiar y escolar, y sobre la asimilación de la identidad de joto o maricón, la más antigua en su mosaico identitario. La migración hacia las grandes ciudades y la entrada en la prostitución conllevan la inserción en un universo distinto, propio de las travestidas, lo que aquí es interpretado como un proceso de resocialización. Al final, se busca reflexionar sobre uno de los contextos relacionales presentes en su universo su relación con sus compañeros fijos o esposos que las conduce a la incorporación de la figura de la mujer sumisa como uno de sus fragmentos identitarios constitutivos.
Palabras-clave: Travestidos. Identidad. Discriminación. Género.
Introdução
Este artigo é parte de uma pesquisa mais ampla, direcionada ao entendimento da formação da identidade entre travestis de baixa renda (Garcia, 2007). O contato com este segmento foi possibilitado por uma intervenção na área de promoção de saúde, que se realizou em uma instituição pública da área da saúde, na região central de São Paulo. Esta ocorreu por meio de encontros semanais onde eram discutidos vários temas pertinentes ao cotidiano das travestis participantes. As reflexões daí surgidas possibilitaram a realização do estudo citado, dividido em quatro eixos principais: a construção do gênero, a transformação do corpo (Garcia, 2008a), o universo da prostituição e a violência cotidiana (Garcia, 2008b). Nele, a identidade das travestis é entendida como uma colcha de retalhos, formada a partir da incorporação de diferentes fragmentos identitários, tendo como principais o da mulher submissa, do viado, da puta, do malandro, da mulher sedutora e do bandido (Garcia, 2009). No presente artigo, é desenvolvido o primeiro destes eixos, o da construção do gênero, ainda que por vezes se faça referências aos demais. Com relação às identidades por elas assimiladas, são discutidas a do viado e da mulher submissa.
As travestis, ao lado de transexuais, de transformistas, de drag-queens (drag-kings) e de crossdressers, são referidos na literatura recente pelo termo transgêneros, que se refere a modalidades de experiências e subjetividades, nas quais se insere a ambiguidade de gêneros, na medida em que criam identidades sociais não facilmente classificáveis como masculinas ou femininas. São objeto de interesse acadêmico exatamente pelo fato de desnaturalizarem a noção de gênero, evidenciando a possibilidade de esta categoria ser entendida como fruto de um processo de construção coletiva, formada pela relação que determinadas comunidades estabelecem com o sistema de gêneros existente em uma dada sociedade.
Pesquisas transculturais a respeito da sexualidade mostram que a binariedade de gêneros está distante de ser algo universal, como podemos observar nos estudos sobre o berdache entre os indígenas norte-americanos (Roscoe, 1994) e sobre os hijras na Índia (Nanda, 1994). Trata-se, neste caso, de sociedades que se estruturaram a partir da aceitação da existência de um terceiro gênero, além daqueles que corresponderiam ao masculino e feminino nas sociedades ocidentais. A existência contemporânea de diferentes modalidades de transgêneros, contudo, parece evidenciar mais a proliferação de novas identidades na contemporaneidade, algumas delas tendo borradas as separações entre masculinidade e feminilidade, do que propriamente o surgimento de um terceiro gênero. Nas sociedades ocidentais, pelo contrário, a binariedade parece se impor de forma bastante evidente. Como adverte Lewins (1995, p. 159) o desejo de que a sociedade não seja dualista não pode obscurecer a percepção de que estamos em uma gendered society. Atribuir, portanto, às travestis ou a alguma outra identidade transgenérica o poder de viver fora desta divisão binária seria considerá-las como estando fora da sociedade, algo que não seria pertinente em uma visão psicológica que privilegia a interação homem/sociedade como fundamental para se entender a constituição do ser humano.
A Relação com o Estranho
Uma das possibilidades de reflexão sobre o lugar que as travestis ocupam em relação ao sistema de gêneros existente no Brasil é fazê-lo a partir do impacto que causam comumente nas pessoas. Recordo de maneira clara o primeiro encontro do Grupo de travestis de que tomei parte. Embora tivesse tido experiência de trabalho prévia com travestis, em contexto individualizado, e tivesse tido por vezes sensações de estranhamento, essas em nada eram comparáveis à que vivenciei em meu primeiro dia no Grupo. Enquanto as pessoas que vivem nas grandes cidades estão, em maior ou menor grau, acostumadas a ver travestis nas ruas, devidamente vestidas e montadas, nos encontros estas estavam quase sempre em trajes cotidianos, sem a preocupação de ressaltar os traços femininos. Embora algumas mesmo assim se aproximassem do padrão feminino de aparência, causando menos estranhamento, a maioria apresentava uma mistura de traços masculinos e femininos, ou, dito de forma mais apropriada, de traços hipermasculinos e hiperfemininos. Não se tratava assim de uma androginia, onde há uma predominância de traços que não se remetem de forma evidente aos masculinos ou femininos, mas de uma mistura de traços que remetem claramente aos dois gêneros. Se os traços femininos diziam respeito principalmente aos cabelos, gestuais e às formas corporais modificadas por hormônio e silicone, os masculinos diziam respeito ao porte físico e feições faciais, que entre aquelas travestis de baixa renda se assemelhavam, não por acaso, aos de segmentos populares que transmitem um modelo de masculinidade evidenciado no corpo. Pode-se pensar que as dragões2 2 Termo de auto-referência utilizado pelas travestis do Grupo, que fazia referência à falta de beleza e/ou à aparência pouco feminina de muitas delas. Tal termo contrastava com o termo deusa, referido ás travestis consideradas mais bonitas e de aparência mais feminina, usualmente de segmentos de renda mais alto, uma vez que são mais valorizadas no mercado da prostituição. geraram em mim naquele momento uma vivência típica de relação com o monstruoso3 3 Esta é uma sensação que se desfaz gradualmente com a convivência com o grupo, mas parece ser bastante comum entre as pessoas não familiarizadas com travestis, como pude observar diversas vezes. .
Foucault (2001), em seu curso de 1975 no College de France, intitulado Les Anormaux, trata do tema da monstruosidade de forma bastante instigante. Observa que, da Idade Média ao início do século XVII, o monstro é entendido como uma mistura, seja de dois reinos, como o animal e humano (homem/touro), de duas espécies (por exemplo, porco com cabeça de carneiro), de dois indivíduos (siameses) ou de dois sexos (hermafrodita, mulher barbada). A partir do final do século XVIII, passa a ser visto cada vez mais como uma figura que questiona não somente as leis da natureza, mas também as da sociedade, combinando o impossível com o proibido. O monstro não é contra a lei, na medida em que a lei sequer o prevê. Ele é o impensado, o fora-da-lei. Dessa forma suscita entre as pessoas não a imposição da lei, mas a supressão pura e simples. Por representar o modelo ampliado de todas as imperfeições e irregularidades possíveis, o monstro configura-se para o autor como a forma natural da contranatureza (Foucault, 2001, p. 70).
No século XIX, a figura do monstro para Foucault (2001) se funde à do indivíduo a ser corrigido e à do masturbador, gerando o indivíduo anormal, que passa a ser um monstro cotidiano, um monstro banalizado (Foucault, 2001, p. 71). A Medicina e o Direito passam a buscar o que há de monstruoso em cada anormal. O processo de domesticação da figura monstruosa pelas concepções médicas pode ser observado no caso do hermafroditismo. Neste momento histórico, não mais se concebe o hermafroditismo como mistura verdadeira de dois sexos, mas sim como algo que envolve sempre a predominância de um deles, com o outro sendo mero apêndice. Passa-se a conceber a Natureza como sujeita a deslizes e imperfeições que necessitam ser catalogadas a partir da classificação das anomalias.
No caso específico das diferentes modalidades de transgêneros, a psiquiatrização destas identidades evidencia o processo de domesticação do monstruoso descrito por Foucault. A décima revisão da CID-10 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e de Problemas Relacionados à Saúde - produzida pela Organização Mundial da Saúde - OMS) criou definições relativas às modalidades de transgêneros. Elas se referem a tipos específicos de distúrbios que podem ocorrer na infância - o Transtorno de identidade sexual na infância -, ou na vida adulta - o Transexualismo, o Travestismo bivalente e o Travestismo fetichista - todos claramente delimitados entre si (OMS, 1993). Observamos neste caso a catalogação da condição dos indivíduos que atravessam os limites imaginados da definição dos gêneros em masculino e feminino, que passam a ser entendidos como portadores de anomalias perfeitamente classificáveis segundo critérios estritos.
A teórica feminista Judith Butler (1993), que se dedica a pensar a construção dos gêneros nas sociedades contemporâneas, tendo a obra de Foucault como uma de suas referências, observa que os sistemas de saber e poder criam territórios de inteligibilidade, mas também seu exterior. Há sempre algo que é excluído pelos domínios de inteligibilidade presentes em uma dada sociedade (p. xi), ou seja, há sempre algo de fora daquilo que sabemos e definimos a partir da razão. Se entendemos a Natureza, assim como as ciências que dela se ocupam, como a Biologia, como criações discursivas, a definição do que é natural necessariamente cria o que é não-natural, os domínios do grotesco, do monstruoso, ou, se utilizarmos o termo foucaultiano, do contranatural. Butler (1993, p. 190) chama de abjetas as organizações da sexualidade que excedem à estruturação ditada pelas normas, que são barradas de inteligibilidade cultural. Essa abjeção é uma consequência da forma como o sistema de gêneros nas sociedades ocidentais se organiza, a partir do que a autora denomina matriz heterossexual. Tal matriz implica no entendimento da masculinidade e da feminilidade como binárias e oposicionais e na concepção de que estas entidades se atraem mutuamente, uma vez que o desejo é entendido como sendo sempre heterossexual.
Argumento semelhante é desenvolvido por Haraway (1992), a partir do conceito de inappropriate/d others de Minh-ha4 4 Minh-ha, T. T. (1989). Woman, native, other. Writing postcoloniality and feminism. Indianápolis: Indiana University Press. , que se refere ao posicionamento daqueles que não ocupam o lugar do self ou do outro oferecidos pelas narrativas ocidentais modernas de identidade. Estes outros inapropriados não cabem nas taxonomias e estão deslocados dos mapas acessíveis que especificam os tipos de atores e de narrativas existentes, estando, portanto, fora dos territórios da racionalidade. Daí o duplo sentido do termo: são inapropriados por não serem apropriados pelos domínios de inteligibilidade existentes e por não ocuparem as posições de sujeito apropriadas, o que gera intensa marginalização.
Seguindo-se esta discussão, consideramos aqui que a travesti pode ser entendida como uma figura que excede às classificações normativas associadas ao gênero e sexualidade presentes em nossa sociedade. Tornada possível pela apropriação particular de algumas tecnologias médicas, a travesti parece corresponder ao ressurgimento da figura monstruosa descrita por Foucault, não classificada ou prevista pelo aparato médico-jurídico. Da mesma forma, configura-se como um outro inapropriado, por reivindicar um lugar social não reconhecido como legítimo, pertencendo aos domínios do abjeto, daquilo que se situa, em larga medida, fora dos sistemas de saber e poder estabelecidos. Ao fazê-lo, as travestis nos desafiam, nos desconstroem, nos suscitam eliminação pura e simples, como as figuras monstruosas descritas por Foucault, mas também permitem que nos questionemos sobre quais os campos de saber e poder que construímos.
O desejo de eliminação das travestis, por ocuparem um lugar que excede a inteligibilidade cultural da matriz heterossexual, era claramente perceptível nos relatos das travestis do Grupo. Se utilizamos com frequência o termo homofobia para designar o preconceito e a discriminação voltada a indivíduos com preferência homoerótica, podemos utilizar o termo transfobia como mais apropriado para designar tais fenômenos, ainda mais intensos, em relação às travestis. Entre elas a transfobia se apresentava envolta em formas extremas de violência, manifestadas na relação estabelecida com a polícia, com os clientes e dentro do próprio grupo, dentre outras. Mott (2000) busca catalogar os inúmeros assassinatos de travestis no Brasil, em sua grande maioria crimes sem investigação e punição dos responsáveis.
Em relação às travestis, é bastante provável que a violência a elas direcionada tenha como um de seus determinantes o fato das mesmas não ocuparem um local definido nos catálogos identitários reconhecidos na sociedade brasileira5 5 Clastres (2003), em seu clássico ensaio de 1966 O Arco e o Cesto, mostra de forma magistral a diferença entre estar no lugar social errado e não estar em lugar algum. Em seu estudo sobre os índios nômades amazônicos Guayaki, observa que há entre estes uma divisão absoluta entre os papéis dos homens e das mulheres em relação ao trabalho, onde os primeiros caçam e coletam recursos naturais da floresta enquanto as últimas se dedicam à fabricação de instrumentos, ao cuidado dos filhos e ao transporte dos bens familiares. Tal divisão gera uma outra, entre um espaço masculino, a floresta, e um feminino, o acampamento, e se reflete no uso do arco como um instrumento masculino e do cesto como feminino, instrumentos estes que não devem ser tocados por uma pessoa do sexo que não lhes corresponde. Em tal sociedade, o autor descreve dois indivíduos que não ocupavam o lugar social esperado. Um deles, no entanto, ocupava o lugar feminino, vivendo entre as mulheres, mantendo os cabelos mais longos e executando somente trabalhos femininos, sendo proprietário de um cesto. Por isso, não despertava nenhuma atenção especial. O outro, ao contrário, era considerado pane - o que naquela sociedade significava ter o azar na caça - não acompanhava os outros homens em suas expedições e não possua arco, o que fazia com que não conseguisse uma esposa. Era eliminado do círculo dos homens, sem, entretanto, com isso integrar-se ao das mulheres (p. 127), tornando-se objeto de desprezo por parte de todos. Por não ocupar um lugar social identificável, para o autor, esse indígena introduzia no sistema Guayaki um elemento de desordem, sendo, por isso, objeto de escárnio naquela cultura. . Tal fato suscita reações adversas mais intensas do que as direcionadas aos segmentos que ocupam um lugar periférico, ainda que estigmatizado, como ocorre, por exemplo, no caso de homossexuais não-transgêneros ou prostitutas. Silva (1993, p. 109), nesse sentido, considera que as travestis sofrem perseguição não pela ocupação de um lugar feminino, mas pela pretensão à transitividade e por escapar à classificação social.
Infância e Adolescência
Traçar uma história de vida comum às travestis é algo que necessita ser problematizado por duas razões. A primeira delas refere-se às generalizações indevidas que podem ser feitas, uma vez que certamente há diferenças profundas em relação a sua história familiar e de vida. A segunda refere- se ao fato de estarmos lidando com um discurso sobre o passado. Ao considerarmos o tornar-se travesti como um processo de ressocialização é lícito supor que o passado descrito é reinterpretado para se harmonizar com a realidade presente, havendo a tendência a retrojetar no passado vários elementos que não eram acessíveis naquela época (Berger & Luckmann, 1985, p. 215). Respeitadas estas limitações, contudo, a abordagem da história da infância e adolescência é importante, na medida em que elas determinam para as futuras travestis a assunção da identidade de viado ou bicha, que se configura como um elemento importante a constituir a identidade travesti posterior.
Nos relatos das travestis pesquisadas eram frequentes os episódios que mostravam o desajustamento delas em relação ao que era esperado de um menino em suas famílias e comunidades de origem. A preferência por companhias e brincadeiras tipicamente femininas e o afastamento do grupo de meninos eram repetidamente evocadas. A impressão que esses relatos me deram desde o princípio foi a de que estes futuros travestis viviam em um universo dominado pelas mães, tias e outras familiares do sexo feminino6 6 A localização pelo desejo de transformação ainda na infância é citada por Benedetti (2000). Para Silva (1993, p. 146), contudo, a história de vida é convocada como um dos elementos para a construção de uma mulher, ao lado de outros como o corpo ou a forma de se vestir, o que sugere a possibilidade de ressignificação do passado, citada anteriormente. .
O pertencimento a um universo marcadamente feminino parece ser relevante para se entender o posicionamento social destes futuros travestis. Não estamos aqui afirmando que estes meninos viraram travestis por causa de suas famílias. Tal consideração só faria sentido em uma abordagem essencialista, voltada à compreensão da etiologia familiar de um distúrbio, nos moldes da abordagem de Stoller (1982) a respeito do transexualismo7 7 Para Stoller (1982) o transexualismo corresponde a uma não-superação da fase simbiótica em que o menino se identifica com a mãe, o que o leva a se comportar permanentemente como menina. Caracteriza-se, portanto, pelo prolongamento da fase simbiótica e pela ausência do conflito edípico, uma vez que não há a castração. . Por outro lado, não podemos desprezar tal influência como irrelevante. Algumas travestis do Grupo mostravam em seus relatos uma ruptura precoce com as expectativas relacionadas ao sexo masculino, que era inclusive tolerada pela família:
S. contou que sempre teve cabelo comprido na infância devido a uma promessa que sua mãe havia feito quando grávida. Aos sete anos, momento em que a promessa se encerrava, S. se recusou a cortar o cabelo. Pressionado pela família, concordou em cortá-lo, desde que o deixassem compridinho (fez o gesto mostrando que teria ficado na altura dos ombros).
Um dos pontos em que um possível lugar ambíguo de gênero dentro da família podia ser observado e que tem a vantagem de não ser algo passível de ressignificação, como as memórias da infância é o da própria nomeação das crianças. Embora nos encontros não fossem identificadas pelos nomes de homem, que constavam em seus documentos, as travestis os diziam em alguns contextos e muitos destes nomes eram ambíguos em relação à qual sexo poderiam se referir8 8 Infelizmente, por motivos éticos, os nomes de homem delas não podem ser reproduzidos aqui. . As próprias travestis atribuíam às vezes a escolha de seus nomes a um desejo familiar de se ter uma menina como filha.
Outro fato que chamou minha atenção em relação à estrutura familiar era o de ser significativo o número de famílias em que havia mais de uma travesti, o que pode estar relacionado a um lugar de ambiguidade atribuído aos meninos nas mesmas:
B chegou atrasada e ao sentar logo gritou: Primo!, para outra travesti que estava vindo pela primeira vez. A situação foi engraçadíssima. B. disse em certo momento: não acredito que você também virou bicha!. Depois as duas contaram que vêm de uma família com muitas travestis. Perguntei quantas e elas listaram treze (!!!) travestis, entre tias e primas.
Se parecia haver certa aceitação em relação aos meninos futuros-travestis por parte das mulheres da casa, os homens, em sua grande maioria, os rejeitavam. Desde pequenos, eram objeto de escárnio dos irmãos, primos e colegas. Cedo começavam as ofensas, as alcunhas de bicha ou viado e também as agressões. Episódios de violência sexual, muitas vezes intrafamiliar, pareciam ser comuns nesse período9 9 É importante aqui ressaltar a importância de não universalizar a questão do abuso sexual e de não estigmatizar ainda mais a travesti em função de sua possível ocorrência. A patologização da infância a partir de análises psicologizantes é citada como comum nos discursos relacionados à prostituição na França por Welzer-Lang (1994, p. 69) e na São Paulo do início do século XX por Rago (1991, p. 21). . De forma bastante contraditória, o abuso sexual era tido como um castigo merecido pelo menino efeminado por parte dos abusadores10 10 Trevisan (2000, p. 417) cita como recorrente no Brasil este tipo de castigo sexual ao menino efeminado. :
S. me chamou em separado depois do encontro e falou que estava com um problema de cabeça. Lembrava continuamente de uma situação de abuso pelo pai na sua infância. Disse que muitas vezes em que estava dando para alguém se lembrava desta situação e não conseguia tirar da cabeça.
As experiências sexuais voluntárias eram referidas também como sendo bastante precoces. Iniciavam-se com o troca-troca, prática comum no Brasil e que se caracteriza por um menino esfregar o pênis - em alguns casos penetrá-lo - no ânus do outro, com a posterior inversão dos papéis (Parker, 1995, p. 245). A preferência pelo papel passivo levava esses meninos a serem preferidos como parceiros de troca-troca, realizando-o muito frequentemente. Alguns deles já tinham vida sexual intensa e regular ao redor dos 10 ou 11 anos. Entre estas práticas, as mais comuns eram as de sexo oral ativo, sexo anal passivo e masturbação de algum outro jovem da mesma idade ou um pouco mais velho.
A efeminação e a realização de práticas homoeróticas acabavam muitas vezes por ser objeto de comentários nas comunidades em que viviam. As reminiscências das vivências escolares entre as travestis do Grupo, por exemplo, eram entrecortadas pela lembrança de episódios de intensa discriminação, o que levava muitas delas a abandonar o estudo também precocemente. Isso contribuía para gerar um aumento da perseguição por parte da família. Quando este processo se intensificava, grande parte dos futuros travestis acabava por buscar outro local de moradia ou eram expulsos, saindo de sua cidade de origem muitas vezes bastante jovens (por volta de 14 ou 15 anos).
A busca pela cidade grande ainda no início da adolescência é citada como comum entre travestis por Benedetti (2000, p. 97), Kulick (1998, p. 79) e Pelúcio (2005). Possibilita ao mesmo tempo a liberdade frente às pressões da família, permitindo a expressão da própria sexualidade, e a obtenção de ganhos financeiros, considerados difíceis no local de origem, não somente pelas poucas possibilidades de trabalho existentes, o que motiva a migração de muitos segmentos sociais pelo Brasil afora, mas pelo estigma que passa a pesar sobre o jovem bicha. Essa conjunção é apontada por Green (2000, pp. 34-35, 255) e Parker (2002, pp. 251-252) como frequente entre homens com preferências homoeróticas no Brasil. A migração para a cidade grande, porém, traz como importante consequência o frequente isolamento social fruto do rompimento com a família entre estes indivíduos.
O Viado (Bicha)
Se na cidade de origem a identidade de viado ou bicha já era atribuída às travestis investigadas, na cidade grande tal identidade passava a ser ainda mais fortalecida, pela convivência próxima a outros homossexuais, que passavam a fornecer uma rede social de apoio alternativa à família. Pode-se afirmar, neste sentido, que muitas das travestis passaram por um período de vida anterior em que basicamente se reconheciam e eram reconhecidas como viados ou bichas
Kulick (1998) considera que as travestis de Salvador que estuda se identificam como as verdadeiras bichas ou viados, no sentido de que levam às últimas consequências tal identidade. Esta proposta, embora interessante, é, em nosso entendimento, insuficiente para contemplar a identidade travesti. O mais apropriado, neste caso, seria considerar a identidade de viado como um dos componentes de sua identidade travesti, talvez o mais antigo deles. O uso dos termos bicha e viado como autorreferência ou para referência mútua entre elas não significa desta forma que elas se identificam de forma absoluta com tais termos, mas parece ser antes uma reminiscência de períodos anteriores da vida de cada uma.
Os termos bicha e viado têm origem, em uma classificação dos indivíduos com preferências homoeróticas entre ativos e passivos, classificação esta hegemônica no Brasil até os anos 70 do século passado e ainda bastante presente em diversas regiões brasileiras. Tais termos correspondem à polaridade passiva. Parker (1992) coloca a figura do viado como o contraponto à figura do pai e do machão na cultura sexual brasileira, constituindo uma ameaça, ao lado da figura do corno, ao ideal da masculinidade centrado na idéia de força, poder, violência, agressão, virilidade e potência sexual (Parker, 1992, p. 74).
Ao se identificarem desta maneira, as travestis pesquisadas se identificavam também com a idéia de passividade e de efeminação que seria próprios dos viados ou bichas. Ao fazê-lo, colocavam-se muitas vezes de forma antagônica aos ativos, desqualificando-os. Era frequente entre elas a crítica a homossexuais de aparência mais máscula, especialmente àqueles que se relacionavam sexualmente de forma passiva. Para elas, eram homossexuais que não conseguiam se assumir, e, portanto, não o eram por inteiro:
Em meio à discussão da eleição para prefeito [onde um dos candidatos era Marta Suplicy, conhecida defensora dos direitos das minorias sexuais], D afirmou categoricamente que jamais votaria em uma mulher que era a favor de homem ficar beijando homem.
De forma semelhante, havia uma frequente desvalorização dos clientes, especialmente dos chamados mariconas, homossexuais mais velhos e, como veremos, dos maridos que se mostrassem sexualmente passivos em algum momento.
Tornando-se Travesti
Na história de vida contada várias vezes nos encontros, a chegada à cidade grande estava associada também ao ingresso na prostituição11 11 Os jovens bichas e viados tinham esta como uma das únicas alternativas financeiras. Essa fortíssima associação entre travestis e prostituição, reconhecida por todos os pesquisadores de seu universo, se deve a várias razões: ao frequente afastamento da família, que leva à impossibilidade de recorrer a ela frente a uma situação de desemprego; ao impedimento do acesso a algumas ocupações típicas de segmentos populares, motivado pelo preconceito contra homossexuais efeminados (Kulick, 1998, p. 118); à baixa qualificação profissional, devido ao pouco investimento pessoal ou familiar no estudo (Ferreira, 2003, p. 118), também afetado, como vimos, pela discriminação no cotidiano escolar; ao fato da prostituição lhes proporcionar, além de dinheiro, um campo de experiências prazerosas, especialmente ligado ao fato de se sentirem desejadas por homens, que, desta forma, lhes conferem um status de mulher. . Valorizados no mercado sexual por sua juventude, não era difícil para as futuras travestis conseguirem seus primeiros clientes. Nessa atividade, entravam contato mais próximo com as travestis já feitas. No Grupo, esse contato era descrito com riqueza de detalhes. Correspondia à porta de entrada para um novo universo:
V. referiu que se lembra de forma muito clara do momento em que chegou à [capital de estado nordestino]. Disse, retomando uma cara de espanto: Quando eu vi aquelas bichas, com aqueles bundão, aqueles peitão, eu disse para mim mesma - é isso que eu quero ser
Essa mudança de mundos parece corresponder de forma bastante próxima à descrição da alternação, proposta por Berger e Luckmann (1985). Esta é definida como um processo onde há uma transformação significativa da realidade subjetiva, exigindo para isso processos de ressocialização.
Para os autores referidos, uma das condições sociais importantes para a alternação refere-se à possibilidade de dispor de uma estrutura efetiva de plausibilidade, isto é, de uma base social que sirva de laboratório da transformação (Berger e Luckmann, 1985, p. 208). Intrínseca a essa estrutura está a forte identificação afetiva com os demais integrantes da mesma e uma intensa concentração significante dentro do grupo que corporifica a estrutura de plausibilidade (p. 209).
Tais elementos estavam certamente presentes em sua realidade. Estas só se tornavam travestis de fato quando entravam no universo habitado por outras. Embora existissem neste outros atores sociais importantes, é principalmente pela relação das travestis umas com as outras que este universo passava a adquirir determinados contornos. Como mostra Weeks (2000), o surgimento de uma identidade que se coloca contra as normas heterossexuais de nossa cultura pressupõe a possibilidade de algum tipo de espaço social e apoio social ou rede que dê sentido às necessidades individuais (Weeks, 2000, p. 69).
Um dos elementos a serem destacados a este respeito é a atitude de complacência e cuidado que as travestis tinham grande parte das vezes em relação às novatas, não obstante o risco que estas apresentam às já feitas12 12 O termo feita é utilizado para designar a travesti que já estava inserida na nova realidade, tendo inclusive passado pelas transformações corpóreas que acompanham tal processo. , uma vez que a juventude é, como vimos, extremamente valorizada no mundo da prostituição. Presenciei muitas ocasiões onde esta atitude se manifestou nos encontros:
F. trouxe uma colega no grupo. Perguntaram sua idade: 16 anos. Embora vestida com roupas femininas, ainda não tomava hormônio nem tinha injetado silicone. Imediatamente o novata virou o centro das atenções. Todas queriam dar conselhos a ela em relação às transformações corporais, principalmente incentivando-a a começar logo a tomar hormônios, pois assim o hormônio feminino inibiria o desenvolvimento de pêlos e de formas masculinas. Pensei neste instante que imaginavam para ela um futuro de deusa
Esta disposição de ajuda às novatas certamente facilitava o ingresso das futuras travestis no universo das feitas e materializava-se, muitas vezes, na figura da madrinha, que tinha uma importância grande entre as travestis estudadas. Correspondia àquela que inseria outra mais nova na cidade grande, auxiliando-a nos truques da profissão e na transformação corporal. Embora não seja impossível a existência de algum interesse financeiro, de participação nos lucros do trabalho da jovem travesti, o interesse maior da madrinha parecia ser o de retribuição: o de ajudar alguém como foi um dia ajudada. Nesse caso era comum uma postura maternal, de fazer a cria melhor que a criadora13 13 A relação com a madrinha é também citada por Benedetti (2000, p. 99), Ferreira (2003, p. 119) e Pelúcio (2005) .
Outra figura importante do universo das travestis estudadas era a da cafetina. Diferentemente da conotação que o termo tem na prostituição feminina, a cafetina é uma travesti mais velha, que mantém uma espécie de pensão, quase sempre exclusiva para travestis. Enquanto algumas moravam junto com outras travestis estudadas travestis investigadas viviam nessas pensões. Essa modalidade de moradia era mais comum entre as mais jovens e isso parecia se dar por dois motivos: o fato destas geralmente terem uma renda maior, o que possibilitava maior dispêndio financeiro, e o de isso garantir uma inserção menos perigosa nos pontos de prostituição, na medida em que as cafetinas eram figuras respeitadas, devido à idade e/ou à força empregada. As moradoras geralmente ficavam referidas pelo nome da cafetina, como no frequente termo as meninas da J., por exemplo. A pensão da cafetina é um lugar importante de sociabilidade e aprendizado do universo travesti14 14 Citado também por Benedetti (2000, p. 28), entre as travestis de Porto Alegre. .
Em sua relação com as cafetinas e as demais moradoras, as travestis buscavam muitas vezes a reprodução dos relacionamentos familiares. A exemplo da figura da madrinha, a cafetina parecia ser investida de um lugar maternal, o que algumas vezes gerava profundas decepções entre elas, quando passavam a ser pressionadas nos momentos em que não conseguiam pagar as diárias, evidenciando um interesse apenas financeiro por parte das cafetinas. Algumas chegavam a aplicar golpes nas moradoras:
P. e A. chegaram visivelmente chateadas. P. contou que a cafetina com quem moravam tinha ido embora de repente, levando consigo o dinheiro que elas haviam pedido para guardar. Valores que me impressionaram por serem elevados: R$ 30.000,00 no caso de P. e R$ 10.000,00 no de A.. Estranhei que tivessem corrido o risco de se deixar tal quantia nas mãos da cafetina. Mais tarde, A. disse: O pior não foi o dinheiro, o pior foi ela levar também as minhas bonecas e começou a chorar.
as travestis estudadas travestis do Grupo, mas é comum a grupos marginalizados socialmente, como mostra Green (2000, p. 290), em relação ao universo homoerótico brasileiro da segunda metade do século XX.
Outra modalidade de relacionamento importante entre as travestis estudadas era a de amizade. Estas relações, às vezes bastante intensas, se estabeleciam em função da moradia e/ou do local de trabalho comum. A função de proteção mútua era evidente no caso do trabalho exercido e na evitação da discriminação, uma vez que as ofensas usualmente dirigidas às travestis individualmente tornavam-se perigosas se emitidas para um grupo. Mas certamente havia também trocas afetivas nessas amizades que são relevantes para se entender sua dinâmica de funcionamento. Essa modalidade de relação envolvia muitas vezes o cuidado da amiga travesti doente15 15 Silva (1993, p. 55) cita também tal cuidado, que sugere ser substitutivo da relação mãe/filha. , mas não era de forma alguma isenta de conflitos, em um grupo marcado pela competitividade profissional.
A entrada da travesti nesse novo mundo implicava no correspondente afastamento do antigo mundo, algo necessário ao processo de ressocialização descrito por Berger e Luckmann (1985). Isso era evidente no caso das travestis pesquisadas, que viviam de forma bastante segregada, convivendo apenas com outros personagens desse universo marginal. Muitas haviam perdido o contato com sua família de origem. Outras mantinham contato por telefone ou carta, com visitas ocasionais. A retomada do contato com a família parecia se tornar possível, algumas vezes, em função da ajuda financeira que passavam a prestar a ela - o que as fazia pensar que o apoio familiar era comprado16 16 A compra do apoio familiar entre as travestis de Salvador é citada por Kulick (1998, p. 181). Green (2000, p. 377) considera ser algo existente no universo homoerótico como um todo. :
P. voltou de viagem a sua cidade natal [interior do Nordeste]. Contou que fazia cinco anos que não ia e que resolveu enfrentar. Temia muito pela reação de seu pai, que ainda não a tinha visto depois da transformação corpórea. Conta que chegou pisando firme e que por isso foi respeitada. Nesse momento V. e L. comentaram que as famílias só queriam saber de aqué [dinheiro], sugerindo que P. só teria sido aceita por ter ajudado financeiramente sua família, mas ela não respondeu à provocação.
O Marido e a Mulher Submissa
Ao considerarmos o tornar-se travesti como um processo de ressocialização, fica claro que a identidade de viado ou bicha era também bastante modificada pela incorporação de elementos relativos a outras identidades. Pelo fato da transformação do corpo e gênero próprios ocorrer pela tentativa de feminização dos mesmos, é importante que possamos compreender as concepções de feminilidade presentes entre as travestis estudadas. Um dos contextos relacionais comum do universo da travesti o da relação com os maridos - mostra a presença de uma destas concepções de feminilidade. Os maridos correspondiam às pessoas com quem as travestis estudadas tinham relacionamentos fixos. Diferenciavam-se dos vícios - indivíduos com os quais mantinham relações sexuais de forma ocasional e dos clientes parceiros que pagavam por algum tipo de prática sexual.
As relações estabelecidas entre as travestis e seus maridos eram inspiradas nas relações que se estabelecem comumente entre homens e mulheres heterossexuais, no que diz respeito ao relacionamento sexual (daí o termo marido, ser coerente com a representação que se faz do parceiro nesse contexto). Presumia-se que o marido deveria fazer o papel correspondente ao do macho da relação sexual heterossexual: este podia penetrar analmente sua companheira, tocá-la em suas partes femininas, oferecer seu pênis para felação, mas jamais tocar em seu pênis ou ter o ânus penetrado ou tocado por ela. Dentro deste contexto, a relação com o marido parecia oferecer à travesti um lugar imaginário de mulher. O marido, ou o homem candidato a marido, parecia ser tão mais valorizado quanto mais se aproximava do estereótipo do macho tradicional. Atributos como agressividade, interesse por mulheres e posse de pênis avantajado eram bem-vindos17 17 A relação entre a travesti e seu marido como uma relação entre personagens estereotipadamente masculinos e femininos é também descrita por Kulick (1998, pp. 124-125) e Benedetti (2000, pp. 118-121), que considera a relação com um macho confere e afirma o gênero feminino nas travestis . Consequência disso era a preferência por maridos com inserção no mundo do crime.
O interesse do marido por mulheres atestava sua masculinidade, compensando um possível sentimento de ciúmes. Por isso tolerava-se que o mesmo tivesse relacionamento concomitante com mulheres. Havia inclusive maridos de travestis que o eram também no sentido clássico, isto é, eram casados heterossexualmente e viviam com suas companheiras mulheres. Aqui aparecia um primeiro ponto de tensão nesse relacionamento, que era o da possível perda desta masculinidade. O receio referia-se à possibilidade deste desejar um relacionamento onde se colocasse de forma passiva com sua companheira travesti ou então, mais grave ainda, com outro homem ou travesti.
Em meio a uma discussão sobre relacionamentos amorosos, V. provocou aquelas que tinham marido no Grupo: Vocês acham que se eles fossem homens, mesmo, eles estariam com vocês? Eles iam preferir uma mulher, não um viado
Talvez uma das decepções mais fortes entre elas fosse a de descobrir que seu marido se relacionou sexualmente de forma passiva com outra travesti. Por isso, elas às vezes buscavam seduzir um marido exatamente como forma de vingança direcionada a alguma travesti, situação que tinha consequências imprevisíveis, muitas vezes violentas.
Um dos campos de tensão na relação das travestis do Grupo com seus maridos era o da divisão de trabalho e renda no casal. Embora alguns maridos trabalhassem e ajudassem nos gastos, era quase sempre elas que os sustentavam financeiramente, ficando numa posição próxima ao que popularmente se conhece como mulher de malandro. Essa dinâmica era muito criticada por outras travestis, que se recusavam a manter esse tipo de relacionamento exatamente por considerá-lo uma exploração sob o aspecto econômico18 18 A referência ao frequente sustento financeiro do marido e os conflitos daí advindos são também feitas por Kulick (1998, p. 107), Benedetti (2000, p. 22), Silva (1993, p. 77), Ferreira (2003, p. 60) e Pelúcio (2005) :
Em uma grande discussão sobre as vantagens de se ter ou não marido, L. foi bastante enfática: Eu, hein?! Ficar sustentando malandro? Eu, não!.
Nesta relação permeada pela idéia de passividade, partia-se do pressuposto de que a travesti, assim como a mulher, deveria aceitar de forma submissa os desejos e as ordens do marido e satisfazê-lo sexualmente. A representação da mulher submissa presente nessa relação era, muitas vezes, exagerada, aparecendo de forma nítida no sofrimento cultivado na relação. Por diversas vezes pude presenciar conversas de travestis contando uma às outras explosões de agressividade de seus maridos, de forma bastante prazerosa:
S. falou por um bom tempo de como seu marido era agressivo, tinha ciúmes de outros homens e clientes. Nitidamente estava dando um close19 19 O termo se refere aos atos de provocação pelos quais uma travesti tenta demonstrar que é superior à outra. para as outras. Em certo momento, falou para todas: Ah, como é sofrido ser mulher!
Tal agressividade evidenciaria não somente a masculinidade do marido como também a feminilidade da travesti agredida. Algumas falavam com nítido prazer do sofrimento que experenciavam quando apaixonadas, em um aparente deleite. A paixão e a submissão pareciam desejáveis, da mesma forma que a passividade, por lhes conferir um lugar feminino20 20 Essa associação é também proposta por Kulick (1998, pp. 93, 107) e Benedetti (2000, p. 121). .
A busca por uma feminilidade associada à passividade, submissão e paixão desenfreada, contudo, talvez não explique totalmente tal relação. Silva (1993), por exemplo, considera que certo elogio da agressividade viril é compatível com os maus-tratos aos quais as travestis estão acostumadas, ou seja, podemos pensar que em tal relação se configura uma forma de afeto - misturada à violência - que teriam vivenciado no decorrer de sua vida. Podemos perceber uma semelhança desta relação, também, com a relação clássica da prostituta com seu cafetão. Ao analisar tal relação na São Paulo do início do século XX, Rago (1991) observa que nesta a prostituta podia ser reconhecida como um indivíduo, ao contrário do que ocorria na estabelecida com o cliente, para quem representava um órgão e uma performance (p. 279). O apanhar e bater próprios à relação com o cafetão constituía-se como uma troca afetiva ausente na interação com o freguês. Consideramos que tal análise é apropriada para explicar também a relação estabelecida entre as travestis pesquisadas e seus maridos.
A analogia da relação entre a travesti e seu marido, com aquela estabelecida entre a prostituta e seu cafetão, porém, mostra que o marido fica, também, paradoxalmente, em uma posição tradicionalmente feminina. Parker (1992) mostra, na relação da prostituta com seu cafetão, como ocorre a dependência econômica dele em relação a ela, a aceitação o dinheiro que ela recebe e a concordância em que ela mantenha relações sexuais com outros homens (p. 85).
Outro elemento que mostrava as contradições presentes na incorporação da identidade de mulher submissa, na relação das travestis com seus maridos, era a recusa aos trabalhos domésticos por parte de algumas delas. Se a paixão e a sexualidade lhes conferiam um lugar imaginário de mulher, o trabalho doméstico não21 21 A crítica de algumas travestis àquelas que não faziam o trabalho doméstico é também apontada por Silva (1993, p. 94) :
[Em uma conversa sobre as vantagens de se alugar uma casa ou apartamento com outras travestis] L. falou que as muitas eram preguiçosas e não queriam saber de lavar um prato ou uma panela e por isso preferiam ficar morando com cafetina - pareciam um bando de marmanjo. A reação de várias - uma risadinha discreta pareceu mostrar uma concordância em relação a L.
Uma consequência do relacionamento com os maridos no campo da sexualidade, tal como ele era estruturado hegemonicamente entre as travestis do Grupo, era a ausência da possibilidade de ejaculação da travesti nas relações sexuais. Ter ejaculação ou mesmo ter ereção significava se colocar como homem na relação, saindo do lugar imaginário de mulher:
V. [ausente do Grupo por alguns meses] retornou com o corpo visivelmente modificado, tendo principalmente os seios aumentados. Ao ser questionada por mim se havia colocado silicone, ela respondeu, orgulhosa e realçando o busto, que não, que tal mudança era resultado de um tratamento hormonal e que estava tomando duas injeções por dia. Um tanto preocupado com sua saúde, quis saber os motivos dela estar fazendo uso de tal quantidade de hormônios, mas ela mudou de assunto, dando a entender que tal ato teria algo a ver com seu novo marido. Pensei que talvez houvesse um desejo de sua parte de se mostrar a ele com um corpo mais feminino. Neste instante, L. entrou na conversa e disse que havia deixado de tomar hormônios recentemente por estar tendo dificuldade de ereção no relacionamento sexual com seus clientes. Seguiu-se uma discussão com outras integrantes do grupo a respeito da relação entre uso de hormônios femininos e dificuldade de ereção e V. se exasperou durante a mesma, afirmando que se utilizava de hormônios femininos justamente por sua propriedade de evitar a ereção, dizendo achar um absurdo ter ereção quando em relação íntima com seu marido. L. [cujo marido estava presente na reunião] disse a V. que para ela isso não tinha nada a ver e que ela achava que se podia perfeitamente ter ereção e orgasmo no relacionamento sexual com o marido, desde que não fosse de forma ativa, se masturbando durante uma relação anal passiva, por exemplo.
Interessante notar a partir desse relato que, embora houvesse uma visão predominante entre elas a respeito do que era pertinente à travesti a ao marido em uma relação sexual, ou, imaginariamente, à mulher e ao homem, esta visão não era única e estava sujeita a abalos e mudanças. V., por exemplo, supunha que no lugar feminino passivo em que se colocava não cabia a possibilidade de se excitar, daí o receio em relação à ereção. No caso de L., o diferencial estabelecido entre ela e o parceiro fixo dizia respeito à iniciativa e controle frente ao ato, que cabia ao último, transparecendo uma idealização do gênero feminino como passivo, porém sexualmente excitável. Em outros momentos, pude presenciar travestis manifestarem posições diferentes: algumas referiram se masturbar somente depois da relação sexual, na ausência do marido, enquanto outras disseram gostar de ser também ativas na relação com seus maridos, buscando a penetração22 22 Oliveira (1997, p. 76) e Florentino (1998, p. 154) observam, de forma semelhante, que as relações hegemônicas entre as travestis do Grupo e seus maridos não eram absolutas. .
Paralelamente à relação travesti/marido existiam entre elas outras modalidades de relacionamentos fixos, minoritárias, que fugiam das características deste modelo. Exatamente por fugir do padrão considerado aceitável pelas demais, tais relacionamentos eram pouco comentados nos encontros. Uma delas referia-se ao vínculo amoroso com michês23 23 Também citado por Perlongher (1987, p. 236) , que envolvia o compartilhar das despesas domésticas e que implicava na aceitação do michê ter relações passivas com os clientes, o que o diferenciava do marido tradicional. Outra modalidade existente era o do relacionamento amoroso entre duas travestis, algo muito criticado por muitas delas, que chamavam tais travestis de bichas lésbicas24 24 A existência de relacionamentos afetivos entre travestis, muitas vezes de longa duração, é também observada por Benedetti (2000, p. 120) :
S. veio pela segunda vez no Grupo. Disseram-me que ela era bicha lésbica e que tinha um caso com F. Durante o encontro tal assunto veio à tona, e S. defendeu seu relacionamento: eu gosto de bicha, sim, qual o problema?. As demais travestis pareceram inconformadas com a situação.
A maioria delas evitava a proximidade dos maridos com outras travestis por serem os mesmos intensamente assediados. Mesmo assim pude ter contato com alguns destes maridos, que às vezes frequentavam os encontros. Geralmente eram bastante jovens, alguns adolescentes e procuravam manter uma postura máscula, na maneira de se sentar e falar. Aparentavam sempre certo incômodo por estarem participando de um grupo nomeado por elas como grupo de travestis. Em mais de uma ocasião, porém, observei que vários se entusiasmavam quando o assunto se direcionava ao consumo de drogas, o que me deu a impressão de serem usuários assíduos. Um marido, especificamente, solicitou-me em certa ocasião um encaminhamento para tratamento em virtude de dependência de cocaína, que era adquirida com o dinheiro dos programas de sua companheira.
Conclusão
Nas considerações a respeito da construção do gênero, sugerimos que as travestis de baixa renda estudadas eram objeto de intensa discriminação pelo fato de excederem as classificações normativas associadas ao gênero e sexualidade presentes em nossa sociedade. Figuras consideradas monstruosas e abjetas, não são apropriadas pelos sistemas de saber e poder estabelecidos, o que suscita sua eliminação, algo que é perceptível nos assassinatos frequentes de travestis, fruto de um sentimento que denominamos transfobia.
Com relação à história de vida comum a elas, observamos que estas eram, em sua grande maioria, oriundas de famílias de baixa renda e desde cedo já eram consideradas como bichas ou viados, sofrendo agressões na escola e na própria família em função disso. Ao sair da cidade de origem para a cidade grande, na expectativa de melhores condições de trabalho e de aceitação social, quase sempre tinham como única alternativa a prostituição. Por esta via, entravam em contato com as travestis já feitas, que as ajudavam na entrada neste novo universo, em um processo de ressocialização.
Vimos também que nas relações afetivas e sexuais com seus companheiros - os maridos - as travestis estudadas incorporavam a identidade da mulher submissa, permanecendo geralmente em uma posição passiva frente aos mesmos, que muitas vezes as exploravam economicamente, e associando a feminilidade com o sofrimento.
Recebido em: 15/10/2008
Aceito em: 4/06/2009
Marcos Roberto Vieira Garcia, Doutor em Psicologia Social pelo Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e professor da Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) - campus Sorocaba. Rodovia João Leme dos Santos, km 110. CEP: 18052-780, Sorocaba, SP. Endereço eletrônico: mgarcia@ufscar.br
- Benedetti, M. R. (2000). Toda feita: o corpo e o gęnero das travestis Dissertaçăo de Mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.
- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1985). A construçăo social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento Petrópolis, RJ: Vozes.
- Butler, J. (1993). Bodies that matter: On the discursive limits of sex New York: Routledge.
- Clastres, R. (2003). A sociedade contra o Estado - pesquisas de antropologia política Săo Paulo: Cosac & Naify.
- Ferreira, R. S. F. (2003). As bonecas da pista no horizonte da cidadania: uma jornada no cotidiano travesti Dissertaçăo de Mestrado, Universidade Federal do Pará, Belém, PA
- Florentino, C. O. (1998). Bicha tu tens na barriga, eu sou é mulher: etnografia sobre travestis em Porto Alegre Dissertaçăo de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- Foucault, M. (2001). Os anormais Săo Paulo: Martins Fontes.
- Garcia, M. R. V. (2007). Dragőes: gęnero, corpo, trabalho e violęncia na formaçăo da identidade entre travestis de baixa renda Tese de Doutorado, Universidade de Săo Paulo, Săo Paulo.
- Garcia, M. R. V. (2008a). Care of the body among low-income travestis. In Sexualidades - a working paper series on Latin American and Caribbean Sexualities (v. 2, pp. 1-15).
- Garcia, M. R. V. (2008b). Prostituiçăo e atividades ilícitas entre travestis de baixa renda. Cadernos de Psicologia Social do Trabalho, 11, 241-256.
- Garcia, M. R. V (2009). Identity as a patchwork: Aspects of identity among low-income Brazilian travestis. Culture, Health & Sexuality, 11, 611-623.
- Green, J. N. (2000). Além do carnaval: a homossexualidade masculina no Brasil do século XX Săo Paulo: Ed. da UNESP.
- Haraway, D. (1992). The promises of monsters: A regenerative politics for inappropriate others. In L. Grossberg, N. Cary & P. A. Treichler (Eds.), Cultural studies New York: Routledge.
- Kulick, D. (1998). Travesti: Sex, gender, and culture among Brazilian transgendered prostitutes Chicago: University of Chicago Press.
- Lewins, F. W. (1995). Transsexualism in society: A sociology of male-to-female transsexuals South Melbourne: Macmillan Education Austrália.
- Mott, L. (2000). Violaçăo dos direitos humanos e assassinato de homossexuais no Brasil Salvador: Ed. GGB.
- Nanda, S. (1994). Hijras: An alternativa sex and gender role in India. In G. Herdt (Org.), Third sex, third gender: Beyond sexual dimorphism in culture and history New York: Zone Books.
- Oliveira, M. J. (1997). O lugar do travesti em desterro Dissertaçăo de Mestrado, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.
- Organização Mundial da Saúde (1993). Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde - Décima Revisão (CID-10), São Paulo: EDUSP/ Centro Colaborador da OMS para Classificação de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde.
- Parker, R. (1992). Corpos, prazeres e paixőes Săo Paulo: Best-Seller.
- Parker, R. (1995). Changing Brazilian constructions on homossexuality. In S. O. Murray (Org.), Latin American male homosexualities Albuquerque, NM: University of New Mexico Press.
- Parker, R. (2002). Abaixo do Equador Rio de Janeiro: Record.
- Pelúcio, L. (2005). Na noite nem todos os gatos săo pardos - notas sobre a prostituiçăo travesti. Cadernos Pagu, 25 Recuperado em 12 de janeiro de 2007, da SciELO (Scientific Electronic Library OnLine): http://www.scielo.br
- Perlongher, N. (1987). O negócio do michę: prostituiçăo viril em Săo Paulo Săo Paulo: Brasiliense.
- Rago, M. (1991). Os prazeres da noite: prostituiçăo e códigos da sexualidade feminina em Săo Paulo, 1890-1930 Rio de Janeiro: Paz e Terra.
- Roscoe, W. (1994). How to become a berdache: toward a unified analysis of gender diversity. In G. Herdt (Org.), Third sex, third gender: Beyond sexual dimorphism in culture and history New York: Zone Books.
- Silva, H. R. S. (1993). Travesti: a invençăo do feminino Rio de Janeiro: Relume-Dumará.
- Stoller, R. J. (1982). A experięncia transexual Rio de Janeiro: Imago.
- Trevisan, J. S. (2000). Devassos no paraíso: a homossexualidade no Brasil, da Colônia ŕ atualidade Rio de Janeiro: Record.
- Weeks, J. (2000). O corpo e a sexualidade. In G. L. Louro (Org.), O corpo educado: pedagogias da sexualidade Belo Horizonte: Autęntica.
- Welzer-Lang, D. (2001). A construçăo do masculino: dominaçăo das mulheres e homofobia. Revista de Estudos Feministas, 9(2), 460-482. Recuperado em 12 de janeiro de 2007, da SciELO (Scientific Electronic Library OnLine): http://www.scielo.br
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
27 Set 2010 -
Data do Fascículo
Dez 2009
Histórico
-
Recebido
15 Out 2008 -
Aceito
04 Jun 2009