RESUMO:
Este artigo busca refletir sobre uma produção cultural periférica específica, idealizada por uma das autoras deste texto e realizada na Baixada Fluminense, região metropolitana do Rio de Janeiro. Situadas em um campo de estudos interdisciplinar, que conjuga debates da linguística aplicada, da antropologia e da educação, trazemos performances narrativas da juventude periférica construídas por um “nós” autoetnográfico. Argumentamos que tais performances projetam cronotopos em fluxos, que desafiam as dicotomias (centrais em discursos hegemônicos) e apontam para práticas de sobrevivência e de esperança, por meio das quais essa juventude reinventa o território onde vive, a si própria, e reimagina futuros mais justos e democráticos para os espaços urbanos.
PALAVRAS-CHAVE:
periferia; transperiferia; juventude; autoetnografia; Baixada Fluminense
ABSTRACT:
This article aims to reflect on a specific peripheral cultural production, idealised by one of the authors of this text and realised in Baixada Fluminense, a metropolitan region of Rio de Janeiro. Situated in an interdisciplinary field of study that combines debates on applied linguistics, anthropology and education, we present performances narrative of peripheral youth constructed by an autoethnographic “we”. We argue that these performances project chronotopes in flux, which challenge dichotomies (central to hegemonic discourses) and point to practices of survival and hope through which these young people reinvent the territory where they live, themselves and project more just and democratic futures for urban spaces.
KEYWORDS:
periphery; transperiphery; youth; autoethnography; Baixada Fluminense
1 Introdução
Este artigo é sobre encontros. Não simplesmente um estar diante do outro ou a mera junção de uma, de duas ou mais pessoas. Trata-se mais de redescobertas de territórios desconhecidos, ou como coloca Paulo Freire e Antônio Faundez em Por uma Pedagogia da Pergunta (1985)FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. Por uma Pedagogia da Pergunta. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 240 p., encontros que nos permitem, por meio do diálogo, redescobrir a realidade. Foi pelos idos de 2013, no campus do Instituto Multidisciplinar da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (IM/UFRRJ), localizado na cidade de Nova Iguaçu, situado na Baixada Fluminense 1 1 Região Metropolitana do Rio de Janeiro, chamada de Grande Rio. A Baixada Fluminense é composta por treze municípios. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), a população estimada da Baixada Fluminense em 2020 foi de 3.908.510. , região metropolitana do Rio de Janeiro, que as autoras deste texto tiveram suas trajetórias cruzadas. Certamente, o contexto sócio-histórico mais amplo precisa ser, de saída, mencionado, pois foi fundamental para esse acontecimento dialógico. Adriana é professora efetiva na UFRRJ e Janaina foi estudante nesse campus, criado no ano de 2006, início da expansão do ensino superior público no Brasil. Adriana engaja-se no mundo político pelas escolhas de seus temas de pesquisa. Investiga a produção artística, cultural e de letramentos de juventudes de periferias e favelas, como, por exemplo, o funk carioca. Janaina Tavares, filha de cosureiros, é a primeira de sua família a ingressar em uma universidade pública. Mesmo antes de cursar o ensino superior, já era uma jovem militante, envolvida com os eventos e os fazeres culturais do território.
Entendemos que este tipo de encontro, fruto das políticas de democratização da educação no Brasil 2 2 Aqui nos referimos às políticas de democratização adotadas nas universidades federais brasileiras, implementadas a partir do Governo Lula, na primeira década dos anos 2000. , é fundamental para fortalecer a agenda transperiférica proposta neste volume, uma vez que a presença da juventude de periferias e de favelas nas universidades pode oferecer caminhos epistemológicos “de ruptura com paradigmas que situam, de um lado, a produção de conhecimento sobre desigualdade e, de outro lado, as sujeitas e sujeitos e territórios que se engajam com a contestação dessa desigualdade a partir de posicionalidades marginais” ( Windle, et al., 2020, p. 1563 WINDLE, J. et al. Por um paradigma transperiférico: uma agenda para pesquisas socialmente engajadas. Trab. Ling. Aplic., Campinas, v. 59, n. 2, p. 1563-1576, maio/ago. 2020.). Dito de outro modo, a entrada de sujeitas e sujeitos periféricos em universidades e centros de pesquisa é uma das possibilidades de mudança de posicionalidade dessas juventudes na produção de conhecimento: de objeto de estudo à sujeita-pesquisadora e autoras de seus próprios textos.
Como um dos frutos desse encontro, traremos aqui um recorte da dissertação (2022)TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022. e da monografia (2018)TAVARES, J. C. Sarau “V” e os letramentos que nos atravessam nos espaços periféricos. 2018. 58 f. Monografia (Graduação em Letras Português/Espanhol) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, 2018. de Janaina Tavares, realizadas sob orientação de Adriana Lopes. Ambos os trabalhos são resultantes do ativismo político-cultural de Janaina no território da Baixada Fluminense, em diálogo e articulação com a universidade e as produções acadêmicas sobre juventude, periferias e favelas, principalmente aquelas que vêm sendo desenvolvidas na área da linguística aplicada ( Lopes; Facina; Silva, 2019LOPES, A. C.; FACINA, A.; SILVA, D. N. Nó em pingo d’água: sobrevivência, cultura e linguagem. Rio de Janeiro: Mórula; Florianópolis: Insular, 2019. 333 p.; Maia, 2017MAIA, J. Fogos Digitais: Letramentos de sobrevivência no Complexo do Alemão/RJ. 2017. 220 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017.; Moita Lopes, 2013MOITA LOPES, L. P. (org.) Português no século XXI: cenário geopolítico e sociolinguístico. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 398 p.; Silva, 2019SILVA, D. N. Uma perspectiva pragmática para o estudo dos letramentos em periferias brasileiras. Revista da Anpoll, Florianópolis, v. 1, n. 49, p. 26-38, 2019.), da antropologia ( D’andrea, 2020D’ANDREA, T. P. Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 19-36, 2020.; Facina, 2022FACINA, A. Sujeitos de sorte: narrativas de esperança em produções artísticas no Brasil recente. Rev. antropol., São Paulo, v. 65, n. 2, e195924, 2022. 34 p.; Nascimento, 2011NASCIMENTO, E. É tudo nosso! A produção periférica na periferia paulistana. 2011. 213 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.) e da educação ( Alves, 2010ALVES, N. A compreensão de políticas nas pesquisas com os cotidianos: para além dos processos de regulação. Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1195-1212, 2010.; Andrade; Guerreiro, 2019ANDRADE, N. M.; GUERREIRO, J. Táticas das juventudes. Periferia, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 134-154, 2019.). Por meio de uma coleção de memórias, contaremos aqui um pouco da história de uma intervenção cultural organizada por um grupo de jovens, chamada Sarau “V” (“V” de Viral). Entretanto, são memórias biográficas e autobiográficas que se constituíram nos encontros das duas autoras dentro e fora da universidade – nas salas de aula, nos momentos de orientação, nas intervenções do Sarau “V”, etc. Vale destacar aqui certa passagem da dissertação de Janaina, Sujeita baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense (2022)TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022., em que esta aponta para o caráter dialógico da constituição do seu “eu-pesquisadora”, bem como para o gesto coletivo de interpretação.
O meu eu-pesquisadora surge em dois atos. Nasce do ato de escrever sobre minhas práticas como militante de esquerda e produtora cultural na Baixada Fluminense [...] região altamente estigmatizada e historicamente noticiada em mídias hegemônicas como um local da pobreza e da violência. Mas também nasce na interlocução com pesquisadoras, professoras, linguistas aplicadas e antropólogas. Há anos venho rememorando minha história com Adriana para compreender os sentidos de parte de minha trajetória política e cultural dentro e fora das instituições escolares
( Tavares, 2022, p. 32TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.).
Desse modo, para narrar sobre esse encontro que, juntamente com a história do Sarau “V”, é “bom para pensar” 3 3 Utilizamos esta expressão inspirada pela frase do antropólogo Lévi-Strauss na obra Cru e Cozido (2004), segundo o qual analisar a comida na sociedade seria “bom para pensar outras coisas, como, por exemplo, as relações sociais e a forma pela qual a realidade é percebida”. Nesse sentido, o encontro das autoras é bom para pensar várias questões caras ao paradigma transperiférico. a relação entre pesquisa/militância, pesquisadoras/ pesquisadas, letramentos escolares/não escolares, centro/periferia e seus múltiplos cronotopos ( Bakhtin, 1981BAKHTIN, M. M. The dialogic imagination. Austin: Univ. Tex. Press, 1981. 480 p.; Blommaert, 2015BLOMMAERT, J. Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 44, p. 105-116, 2015.), utilizamos como método de pesquisa a autoetnografia – tal qual vem sendo usada em estudos da linguagem, sobretudo na área da linguística aplicada ( Pereira; Vieira, 2018PEREIRA, M. G. D.; VIEIRA, A. T. Autoetnografia em Estudos da Linguagem e áreas interdisciplinares. Veredas – Revista de Estudos Linguísticos, Juiz de Fora, v. 22, n. 1, p. 1-10, 2018.). Porém, ainda que este texto privilegie o ponto de vista de uma das autoras, este artigo é resultado de uma interpretação conjunta: um “nós” autoetnográfico ( Araujo; Bastos, 2018ARAUJO, E. P.; BASTOS, L. C. Militância e ocupação: dimensões autoetnográficas na pesquisa sobre movimentos sociais. Veredas – Revista de Estudos Linguísticos, Juiz de Fora, v. 22, n. 1, p. 165-188, 2018.) que se constrói no encontro de Janaina, membro do próprio grupo pesquisado, e Adriana que, no papel de orientadora, vem analisando os dados sobre as produções periféricas das juventudes na Baixada Fluminense.
Desse modo, vamos trazer aqui um pouco dessa “rememoração” coletiva que ora se arquiteta de forma mais (auto)biográfica, ora mais analítica; entretanto, em momento algum, pretende ser um retrato fiel da realidade ou “um espelho do que aconteceu, mas sim um recriar e um reexperimentar” na linguagem, práticas vividas de forma coletiva ( Fabrício, 2006, p. 196FABRÍCIO, B. F. Narrativização da experiência: o triunfo da ordem sobre o acaso. In: MAGALHÃES, I; CORACINI, M. J.; GRIGOLETTO, M. (eds.). Práticas identitárias: língua e discurso. São Carlos: Claraluz, 2006. p. 191-211.). Compartilhamos a visão de alguns autores ( Bauman; Briggs, 1990BAUMAN, R.; BRIGGS, C. Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 19, p. 59-88, 1990.; Freitas; Moita Lopes, 2009FREITAS, L. F. R.; MOITA LOPES, L. P. Vivenciando a outridade: escalas, idexicalidade e performances narrativas de universitários migrantes. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 19, n. 1, p. 147-172, 2019.), na qual a narrativa é entendida como performance, ou seja, no momento em que as pessoas narram suas histórias, elas estão relacionando não só eventos de uma narrativa, mas também se envolvendo na performance de quem são na experiência de contá-la. Situados em uma perspectiva pós-estruturalista, na qual linguagem é entendida em relação indiciária com o mundo ( Silva, 2014SILVA, D. N. O texto entre a entextualização e a etnografia: um programa jornalístico sobre belezas subalternas e suas múltiplas recontextualizações. LemD – Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, SC, v. 14, n. 1, p. 67-84, 2014.), alguns teóricos da linguística aplicada vêm utilizando o termo “performance narrativa”, destacando, assim, o caráter não representacionalista dos signos, logo, das próprias narrativas. Como coloca Freitas e Moita Lopes ( 2019, p. 154FREITAS, L. F. R.; MOITA LOPES, L. P. Vivenciando a outridade: escalas, idexicalidade e performances narrativas de universitários migrantes. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 19, n. 1, p. 147-172, 2019.):
Assim, há que se levar em conta o caráter performativo das narrativas, uma vez que o ato de narrar é ação, é performance, e é nesse ato que construímos os significados sobre quem somos, sobre quem são os outros e sobre o mundo [...] para dar sentido às nossas experiências, estamos sempre construindo significados interacionalmente no aqui e no agora (i.e., microssocialmente) – em performances narrativas.
Desse modo, o artigo está dividido em três seções: na primeira, “Juventude e sobrevivência”, traremos parte do debate atual sobre juventude, não como uma categoria biológica e universal, mas como uma construção histórica plural, que só pode ser compreendida em suas singularidades. Focalizando os fazeres de uma juventude específica, apresentaremos o que cunhamos como “Letramentos e Culturas de Sobrevivência”: um modus operandi específico de ser e de fazer da juventude aqui investigada. Na segunda seção, “Periferia: reinvenções na Baixada Fluminense”, destacamos a historicidade do termo periferia e como ele foi apropriado por jovens das classes populares, principalmente na Baixada Fluminense. Na ultima seção, “Memórias de um Sarau”, organizamos, em dois momentos (chamados, respectivamente, de “reinvenção” e de “sonhos”), fragmentos autobiográficos e algumas análises sobre o Sarau “V” e o Sarau Vê, intervenções culturais, idealizadas por Janaina Tavares, na cidade de Nova Iguaçu.
2 Juventudes e sobrevivência
Neste artigo, apresentamos um diálogo que é fruto de nossas pesquisas. Por meio dele, buscamos entender o que certa juventude diz sobre si mesma, ou melhor, procuramos redescobrir territórios mediante escuta atenta de uma juventude específica, situada em um tempo e um espaço particulares – jovens que vivem nas periferias e nas favelas do Rio de Janeiro. Vale ressaltar a especificidade do grupo com o qual pesquisamos, pois a juventude não é uma condição biológica universal, mas uma construção linguística, historicamente situada. Desse modo, em nossos trabalhos, tal categoria assume um desenho específico, relacionada com a realidade social das periferias do Brasil. A desigualdade social e educacional, o racismo estrutural, a criminalização e marginalização histórica das classes populares são características desta sociedade que afetam a maneira como a juventude é significada nos debates públicos, bem como as formas que essas pessoas encontram para lidar com o seu cotidiano e (re)inventar a sua existência. É, portanto, em um cenário de precarização da vida e de extermínio da juventude negra e periférica que construímos este diálogo entre universidade e jovens, principalmente com aquelas(es) que se tornaram estudantes universitários e pesquisadoras(es) de suas próprias práticas.
Entretanto, em nossas investigações, não temos como entalhe a violência e o sofrimento que fazem parte da realidade desses locais, mas sim a maneira como as pessoas agem, superando as condições sócio-históricas e materiais que lhes foram dadas. Semelhante aos termos da “antropologia do bem” ( Robbins, 2013ROBBINS, J. Beyond the suffering subject: toward an anthropology of the good. The Journal of the Royal Anthropological Institute, Great Britain and Ireland, v.19, p. 447-462, 2013.), buscamos compreender e dialogar com a forma pela qual as juventudes desses locais (re)criam seus cotidianos em termos de arte e de letramentos, a partir da realidade que lhes é apresentada.
Em diálogo com Janaina Tavares, mas também com Calazans, MC do Funk que, na época, era pesquisador de iniciação científica e estudante de Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) 4 4 Raphael Calazans foi bolsista de iniciação científica (IC) do projeto Mapeamento Cultural e das práticas de letramentos em três favelas do Complexo do Alemão, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e coordenado por Adriana Facina Gurgel do Amaral entre os anos de 2014 e 2015. , Adriana Carvalho Lopes, Daniel Silva e Adriana Facina, organizaram o livro Nó em Pingo d’Água (2019)LOPES, A. C.; FACINA, A.; SILVA, D. N. Nó em pingo d’água: sobrevivência, cultura e linguagem. Rio de Janeiro: Mórula; Florianópolis: Insular, 2019. 333 p., no qual foram apresentadas algumas formas de reinvenção e de resistência das juventudes periféricas, chamadas pelos organizadores de culturas e de letramentos de “sobrevivência”. Vale lembrar que o termo “sobrevivência” surge em nosso campo de investigação e de interlocução, um campo situado nos fluxos das fronteiras 5 5 Não entendemos fronteira como categoria simbólica, um território de trocas e de fluxos. Como coloca Anzaldua ( 1987, p. 19), “fronteiras estão presentes fisicamente sempre que duas ou mais culturas se encontram, onde pessoas de diferentes raças ocupam o mesmo território, onde as elites e as classes populares se tocam, onde o espaço entre dois indivíduos se recolhe em intimidade”. entre periferias, favelas e universidade.
Em um dos textos do referido livro, Calazans escreve que a experiência da escassez mobilizaria as pessoas para agirem coletivamente e, ainda, para produzirem saberes, artes, letramentos e modos de interação social. Aqui vale destacar um fragmento emocionante da narrativa do MC:
Vivendo entre o perigo dramático da violência no dia a dia das operações policiais e a correria cotidiana para inventar a sobrevivência, comecei a ler o mundo que estava ao meu redor. Se por um lado a pobreza, a ausência de serviços públicos, a falta de saneamento básico colocavam-se como prisões que não nos permitiram sair desse lugar, por outro foi a partir dessa escassez que comecei a me alfabetizar [...] meus amigos e eu, mesmo sem saber escrever, escrevíamos sobre tudo que vivenciávamos e sentíamos no Complexo. Eram brincadeiras de escrever “raps” sobre esse mundo onde os antagônicos encaixam-se e formam um quadro por meio do qual desenhamos a vida. Aqui, viver e morrer, chorar e rir, dor e alegria, eram sinônimos
( Lopes et al., 2019, p. 39 LOPES, A. C.; FACINA, A.; SILVA, D. N. Nó em pingo d’água: sobrevivência, cultura e linguagem. Rio de Janeiro: Mórula; Florianópolis: Insular, 2019. 333 p.).
Desafiando a visão hegemônica que associa facilmente pobreza e criminalidade, o MC nos traz um outro ponto de vista, não o da falta de cultura e de educação, mas o de uma escrita e de um saber que se organizam a partir da precarização da vida. Para este MC, alfabetizar-se emerge não da vocação iluminista dos agregados modernos e tampouco de uma técnica neutra escolarizada, mas sim da resposta à violência, como um letramento ou uma cultura de sobrevivência que precisam ser reinventadas cotidianamente. A maneira como o termo sobrevivência foi retratado por este artista em vários momentos de nosso trabalho de campo nos levou a teorizar essa noção. Muitos autores, principalmente, Jacques Derrida ( 1979, p. 89DERRIDA, J. Living on/border lines. In: BLOOM et al. (org.). Deconstruction and criticism. London: Continuum, 1979. p. 62-142.) tornaram-se centrais para a compreensão de tal conceito. Esse filósofo argumenta que a sobrevivência está para além da dicotomia moderna viver-morrer: “o sobreviver transborda, ao mesmo tempo, o viver e o morrer, suplementando-os, um e outro, como um sobressalto e um alívio temporário, parando a vida e a morte ao mesmo tempo”. Nesse sentido, a cultura e os letramentos de sobrevivência que caracterizam o cotidiano dessas juventudes subalternizadas não são pensados como fazeres rudimentares, mas, ao contrário, como práticas potentes que estão além da vida e da morte, ou ainda, como táticas culturais e de letramentos que “reinventam a vida a partir daquilo que nega a própria vida” ( Lopes et al., 2019, p. 42 LOPES, A. C.; FACINA, A.; SILVA, D. N. Nó em pingo d’água: sobrevivência, cultura e linguagem. Rio de Janeiro: Mórula; Florianópolis: Insular, 2019. 333 p.).
Ademais, a cultura e os letramentos de sobrevivência mostram uma relação inventiva e política entre a juventude local e os seus territórios. Em suas memórias, Janaina Tavares destaca que o pertencimento à Baixada Fluminense é motivo de orgulho para muitas jovens e muitos jovens. Artistas, poetas, escritores, dançarinas(os) e ativistas da cultura, do livro e da literatura que realizam eventos artísticos e culturais na região definem-se como baixadenses 6 6 Não sabemos como o termo “baixadense” começou a circular com tanta força entre alguns grupos, mas, de acordo com alguns relatos que circulam nos fazeres culturais da Baixada, tal palavra surge no período da Ditadura Militar, entre os anos 1970/1980, com o poeta e escritor iguaçuano Moduan Matus, como forma de divulgar a poesia baixadense (criada por ele). Moduan, naquele período, escrevia poemas nas portas das lojas (quando fechadas), com giz, o que deu o nome de “gização” e assinava como poeta “baixadense”. Muitos anos mais tarde, o Sarau “V”, em todas as edições na praça dos Direitos Humanos, deixava uma caixa de giz disponível para o público, sobretudo as crianças, escreverem e desenharem no chão como produtores de culturas e saberes baixadenses. – um adjetivo que aponta para a constituição de uma identidade local e periférica.
Todavia, o ser baixadense é mais do que ser nascido no território, é, principalmente, um modo de fazer e de se inscrever artisticamente no território, articulando pertencimentos e subjetividades ( Lopes; Tavares, 2021LOPES, A. C.; TAVARES, J. C. “Os saraus são as bibliotecas sonoras das periferias”: uma narrativa sobre letramentos e o direito à cidade. Revista Pragmatize, Niterói, ano 11, n. 20, p. 51-68, 2021.). Em um dos relatos trazidos por Janaina, em sua dissertação ( Tavares, 2022, p. 120TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.), lemos o seguinte fragmento de um artista local:
Só tem vergonha de dizer onde mora quem não faz nada pelo seu lugar, essa foi uma frase que nasceu no meu coração. Quando vamos para outros lugares, há em nós da Baixada uma vergonha de dizer que somos da Baixada. Os mais novos sempre têm o sonho de se dar bem na vida e morar em outros lugares. Mas, quando fazemos algo pelo nosso lugar, aprendemos a amar nosso território. Eu tentei trabalhar na Zona Sul do Rio, mas não é a mesma coisa que na Baixada. Aqui eu via as pessoas se reinventando” (artista, palhaço e ator, em entrevista).
Nesse fragmento, o artista traz a dualidade centro-periferia, ao comparar a Zona Sul 7 7 Região formada majoritariamente por bairros onde habitam as classes médias altas da cidade. da cidade do Rio de Janeiro com a Baixada Fluminense, este um lugar projetado, em sua performance narrativa, como um espaço que causaria “vergonha”. No entanto, essa dicotomia é lembrada para ser invertida. Para ele, assim como para muitas(os) outras(os) artistas do local, a Baixada é menos um lugar do ser e mais um lugar do fazer. Dito de outro modo, para ele, a Baixada não é algo dado, mas é um efeito de ações, um território em que as juventudes se reinventam atreladas as suas localidades, um fazer com gosto de orgulho territorial reconquistado – “só tem vergonha de dizer onde mora quem não faz nada pelo seu lugar.”
Em sua monografia de graduação, Janaina Tavares, nos mostra que há um modus operandi específico de quem mora na periferia que é apropriada pelos artistas/ativistas da cultura. Segundo Janaina Tavares ( 2018, p. 47-48TAVARES, J. C. Sarau “V” e os letramentos que nos atravessam nos espaços periféricos. 2018. 58 f. Monografia (Graduação em Letras Português/Espanhol) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, 2018.),
Se não tem trave para o futebol na rua, o chinelo demarca o gol; se não tem cone, os carros fecham as ruas; se não tem dinheiro, faz vaquinha para comprar a cerveja e a carne, a costureira da rua confecciona o uniforme do time, o tio da venda cede o banheiro para festinhas; somos construtores, reaproveitamos, fazemos gambiarras; não existe tempo ruim, não existe nada que não se possa resolver coletivamente [...]. A periferia é inventiva e incansável. A gente realiza o tempo todo. Chás de panela, aniversários, festas típicas, charme na calçada, pagode na esquina, funk no quintal, competição de futebol, cultos religiosos. Cada rua, cada igreja evangélica, cada laje e cada quintal na periferia viram centros culturais.
Longe de romantizar as condições de precariedade que marcam o cotidiano não só das juventudes, mas de boa parte da população que vive em periferias e em favelas no Brasil, essas culturas e letramentos de sobrevivência nos mostram a efervescência cultural e a rede colaborativa que caracterizam o dia a dia das pessoas nesses territórios; uma rede que transforma espaços e eventos cotidianos em “centros culturais”. Fugindo do perigo da história única – como nos alerta a escritora Nigeriana Chimamanda Adichie (2019)ADICHIE, C. N. O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 64 p. –, as culturas e letramentos de sobrevivência apontam para outras perspectivas – de uma periferia inventiva e incansável alimentada por práticas colaborativas por meio das quais as juventudes transformam tudo aquilo que um dia faltou em seu território em matéria-prima para a (res)significação de si próprios e do próprio território em que vivem.
3 Periferia: reinvenções na Baixada Fluminense
Para compreender essas reinvenções e fazeres culturais é preciso contextualizar a periferia em um debate mais amplo sobre tal fenômeno. Não queremos abarcar a totalidade de uma vasta discussão, presente em diversas áreas do conhecimento, mas trazer autoras e autores que nos lembram de duas questões importantes: a primeira, relacionada ao entendimento de que sujeito periférico não é uma categoria essencializada, mas um índice da relação de poder que estrutura a dicotomia centro-periferia; a segunda, ligada à compreensão de que periferia, tal qual usamos, é uma categoria êmica, ou seja, é utilizada por pessoas que moram nas periferias e reivindicam esses territórios como o centro de seus processos criativos, como marca identitária e de posicionamento na vida urbana. Vale destacar que esse último aspecto, que diz respeito à “invenção a partir da precariedade”, em muito se assemelha ao que estamos chamando de culturas e/ou letramentos de sobrevivência.
Nesse sentido, destacaremos alguns pontos levantados nos trabalhos de Erica Nascimento (2011)NASCIMENTO, E. É tudo nosso! A produção periférica na periferia paulistana. 2011. 213 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. e de Tiaraju Pablo D’Andrea (2020)D’ANDREA, T. P. Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 19-36, 2020., autores que se dedicam a investigar a formação de sujeitas e sujeitos periféricos na cidade de São Paulo e que, por consequência, nos possibilitam estabelecer nexos e compreender os fazeres cultuais de certas juventudes da Baixada Fluminense na atualidade.
A partir da década de 1990, um novo personagem ganha visibilidade e adjetivo próprio: a juventude periférica. Podemos dizer que esse fenômeno tem início em bairros populares da cidade de São Paulo, mas dissemina-se e ganha abrangência nacional de acordo com as realidades locais. Segundo Nascimento (2011)NASCIMENTO, E. É tudo nosso! A produção periférica na periferia paulistana. 2011. 213 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011., na década de 1990, ativistas e artistas das classes populares começam esquadrinhar “uma cultura periférica” mediante a junção de modos de vida, de comportamentos coletivos, de valores, de linguagens e de vestimentas específicas. Desse modo, essa cultura fez emergir “novas sujeitas e sujeitos políticos” que publicizam discursos, demandas e práticas coletivas relacionados às esferas de produção e de consumo cultural. Uma nova juventude entra em cena! Nas palavras de Nascimento ( Nascimento, 2011, p. 11NASCIMENTO, E. É tudo nosso! A produção periférica na periferia paulistana. 2011. 213 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.):
Favelados, periféricos, suburbanos, marginais e marginalizados, que sempre foram tema ou inspiração de criações artísticas, passam de objetos a sujeitos e esforçam-se para transformar suas próprias experiências em linguagem específica. E tudo aquilo que um dia faltou – acesso, infraestrutura, bens, técnica, dentre outros – torna-se matéria-prima para a estética que está sendo edificada.
D’Andrea (2020)D’ANDREA, T. P. Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 19-36, 2020. argumenta que, apesar de ser fruto e desdobramento de legados de movimentos anteriores, é na década de 1990 que o movimento de cultura periférica ganha preponderância entre as juventudes das classes populares. Ainda segundo esse autor, foi fundamentalmente o movimento hip-hop que passou a publicizar o termo, com a obra dos Racionais MCs. Este grupo de rap seria um marco histórico na definição de periferia para os moradores desses espaços, ampliando seu significado para além da pobreza e da violência e associando-a à cultura e à potência.
Dito de outro modo, o movimento hip-hop projeta a palavra periferia não para indicar um conceito quantitativo, com demarcação geográfica rígida, e sim um entendimento da periferia sobre si mesma: uma compreensão sobre a pobreza e a violência não como fenômenos paralisantes, mas impulsionadores da denúncia e da reinvenção simbólica e material do território. Facina ( 2022, p. 6FACINA, A. Sujeitos de sorte: narrativas de esperança em produções artísticas no Brasil recente. Rev. antropol., São Paulo, v. 65, n. 2, e195924, 2022. 34 p.) nos lembra que, no Rio de Janeiro, o mesmo acontece nas favelas, sendo que aqui é o funk que cumpriu esse papel, com o exemplo emblemático do Rap da Felicidade (1995)RAP da Felicidade. Intérprete: MC Cidinho e MC Doca. Compositores: MC Cidinho e MC Doca. In: EU só quero é ser feliz. Intérprete: MC Cidinho e MC Doca. Rio de Janeiro: Spotlight Records, 1995. 1 CD, faixa 8., cantado por Cidinho e Doca, cujo refrão afirma: “Eu só quero é ser feliz / andar tranquilamente na favela onde eu nasci / E poder me orgulhar / e ter a consciência que o pobre tem seu lugar”.
Buscando, dessa maneira, interpretar a periferia de acordo com as definições construídas pelos agentes moradores desses territórios, D’Andrea (2020)D’ANDREA, T. P. Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 19-36, 2020. aponta algumas características de sujeitas e sujeitos periféricos. Aqui vale a pena ressaltarmos três delas: primeira, para essa juventude, periferia coloca-se como um posicionamento político-territorial; segunda, a arte e a cultura adquirem centralidade em sua atuação política; e terceira, o acesso à universidade possibilitou que a “população periférica questionasse o papel de objeto de estudo a ela antes relegado, passando a produzir conhecimento” ( D’Andrea, 2020, p. 31D’ANDREA, T. P. Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 19-36, 2020.).
Assim, como já dissemos, tal movimento ganha abrangência nacional, assumindo contornos específicos em cada região do país. Na Baixada Fluminense, a centralidade dos fazeres culturais na ressignificação do território como espaço periférico organiza-se na primeira década dos anos 2000 8
8
Não que esses “fazeres” não existissem anteriormente na Baixada. Como coloca Dudu do Morro Agudo, um dos idealizadores do Instituto Enraizados, já, na década de 1970, havia uma geração de pessoas que faziam poesia, escreviam livros e vendiam em bares, influenciando a produção cultural periférica. “Se hoje estamos aqui, é porque eles estiveram aqui antes de nós e jogaram a semente” ( Andrade; Guerreiro, 2019, p. 144).
. Para Francisco (2015)FRANCISCO, D. Da minha Baixada Fluminense: dos rastros de uma cena estética, subversiva e fora do lugar. Revista Z Cultural, Rio de Janeiro, ano 11, 2016. Disponível em: http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/04/NA-MINHA-BAIXADA-FLUMINENSE\_-DOS-RASTROS-DE-UMA-CENA-EST%C3%89TICA-SUBVERSIVA-E-FORA-DE-LUGAR-%E2%80%93-Revista-Z-Cultural.pdf. Acesso em: 26 ago. 2023.
http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/wp-...
, é nesse momento que se desenha na Baixada uma produção estética, multifacetada e colaborativa, que coloca em cena uma série de coletivos culturais, autônomos e realizadores 9
9
Poderíamos citar alguns coletivos de cultura que surgem nesse momento, como, por exemplo, Instituto Enraizados ( https://www.enraizados.org.br/), Cine Clube Mate com Angu ( https://matecomangu.org/site/), Sarau Donana ( http://www.donana.org.br/).
. Andrade e Guerreiro (2019)ANDRADE, N. M.; GUERREIRO, J. Táticas das juventudes. Periferia, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 134-154, 2019. nos lembram também que essa época é marcada pela implementação de algumas políticas públicas, como, por exemplo, a criação da Secretaria Nacional da Juventude (2005) e a realização das Conferências Nacionais de Cultura (2005, 2010, 2013), possibilitando que os jovens periféricos da Baixada passassem a protagonizar suas ações e a exigir o seu papel de sujeito, não mais de objeto das políticas públicas.
Fruto de alianças e resistências locais, bem como de algumas políticas públicas na área da educação e da cultura, nesse momento, entrará em cena o Sarau “V” – uma produção cultural idealizada por uma das autoras deste texto. Inicialmente, sem qualquer subsídio de políticas ou de programas culturais (públicos ou privados), o Sarau foi realizado e mantido por redes e coletivos em franca colaboração na Baixada, conexões típicas das culturas de sobrevivência. Após algumas batalhas ganhas (outras perdidas) e em diálogo com a universidade, essa produção cultural adentra espaços institucionais – escolas de educação básica. É sobre essa história que passaremos a falar na próxima seção.
4 Memórias de um sarau
4.1 Reinvenção: Sarau “V”, na rua se respira poesia
Em junho de 2013, as ruas de várias cidades do Brasil foram tomadas por grandes manifestações, formadas por grupos – majoritariamente compostos por jovens – social, política e ideologicamente diversos. Chamado por alguns intelectuais e jornalistas de “jornadas de junho”, esses protestos teriam sido catalisados pelo aumento da tarifa de ônibus e se espalhado pelas ruas do Brasil em forma de contestações às instituições políticas, um tipo de “revolta sem líderes” ( Alonso, 2023, p. 16ALONSO, A. Treze. A política de rua de Lula a Dilma. São Paulo: Companhia das Letras, 2023. 352 p.). Independentemente da narrativa construída sobre esses protestos (uma nova esquerda e/ou uma virada conservadora; o começo ou o resultado de dinâmicas políticas no Brasil), o que importa mencionar aqui foi a centralidade de sua principal personagem, a rua ( Alonso, 2023ALONSO, A. Treze. A política de rua de Lula a Dilma. São Paulo: Companhia das Letras, 2023. 352 p.), uma vez que esta “foi tomada por um mosaico de várias mobilizações simultâneas em todo Brasil” ( Alonso, 2023, p. 16ALONSO, A. Treze. A política de rua de Lula a Dilma. São Paulo: Companhia das Letras, 2023. 352 p.). Na Baixada Fluminense, sindicalistas, militantes de partidos de esquerda, além de estudantes e trabalhadores, de maneira geral, pautaram nas ruas do território a saída do então Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral 10 10 Sérgio Cabral foi preso e acusado de manter relações ilegais entre empresas privadas e o governo do estado. Em 2021, o governador acumulava 19 condenações contra ele. , por improbidade administrativa 11 11 Em março de 2023, a 4ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro absolveu o ex-governador Sergio Cabral da acusação. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-mar-28/justica-absolve-cabral-acao-improbidade-baseada-delacoes. e pela solução para o sumiço do pedreiro Amarildo 12 12 Amarildo Dias de Souza, ajudante de pedreiro, morador da Rocinha, desapareceu no dia 14 de julho de 2013. A pergunta “Cadê o Amarildo?” ecoava por todas as ruas do Rio de Janeiro. Amarildo sumiu após ser levado por policiais militares para ser interrogado na sede da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), durante a “Operação Paz Armada”. Seu desaparecimento tornou-se símbolo de casos de abuso de poder e da violência policial. .
Compreendemos que as movimentações de junho de 2013 deram um novo impulso ao fazimento político-cultural na Baixada Fluminense. Acompanhamos nesse período a organização de alguns jovens no território. Se, por um lado, assistimos discursos de uma direita ultraconservadora ganhando força e corpo, por outro lado, também emergiram alguns movimentos culturais com pautas progressistas que reivindicavam o direito à cidade, isto é, ampliaram-se coletivos que lutavam por uma vida urbana mais justa e igualitária, buscando, com suas ações, superar as desigualdades (de gênero, de classe, de raça, etc.) determinantes na produção discursiva e material do espaço da cidade moderna e capitalista ( Harvey, 2012HARVEY, D. O direto à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n. 29, p. 73-89, 2012.).
Nesse período, alguns movimentos culturais foram fortalecidos, como, por exemplo, o Sarau Apafunk (Associação de Profissionais e Amigos de Funk), realizado mensalmente (do ano de 2013 até o de 2016) na Cinelândia – área localizada no centro da cidade do Rio de Janeiro e palco de manifestações políticas importantes na história do Brasil. Organizado por funkeiros, artistas e militantes de favelas e periferias, o Sarau Apafunk tinha como objetivo lutar contra a criminalização da pobreza, das favelas e do funk, bem como difundir a cultura funk carioca, entendida como manifestação sonora da diáspora negra contemporânea ( Lopes, 2011LOPES, A. C. Funk-se quem quiser no batidão negro da cidade carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2011. 224 p.).
Em diálogo com essas produções culturais, em agosto de 2013, um grupo de jovens organizou o Sarau “V”, que passou a acontecer mensalmente (do ano de 2013 ao de 2015), conectando vários coletivos culturais para debater política e fazer arte. Nesse movimento, o Sarau “V” ressignificou os espaços da cidade, transformando uma praça não só em local de produção cultural, mas também em território de reivindicação de direitos. Com efeito, a praça deixou de ser conhecida como Praça do Coliseu (uma referência feita à construção do local em formato circular) e passou a ser conhecida como Praça dos Direitos Humanos. Em sua dissertação, Tavares ( 2022, p. 58-59TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.) nos conta que
a história da Praça dos Direitos Humanos e a do Sarau “V” estão entrelaçadas, pois o “V” deu vida, som, cor e propósito à praça. [...] antes de começarmos as ações, fui até a prefeitura para pedir um uso do solo público e um ponto de luz, e assim descobri que a praça se chamava Praça dos Direitos Humanos. A praça foi uma iniciativa do Centro de Direitos Humanos da Diocese de Nova Iguaçu, acompanhada pela ONG ComCausa [que atua na promoção de direitos humanos na Baixada Fluminense]. A praça, na época, tinha pinturas de grandes ícones da luta pelos direitos humanos universais, como Nelson Mandela, Martin Luther King e Gandhi.
Durante o período que foi realizado na Praça, o Sarau “V”, que teve como slogan Na Rua Se Respira Poesia – título que abre as memórias desta seção –, fomentou e movimentou uma nova geração de leitoras e leitores, de escritoras e escritores, de poetas 13 13 Poetisa é o feminino de poeta. Entretanto, a palavra ganhou cunho pejorativo, porque tem sido associada à inferiorização da literatura produzida por mulheres. Assim, inspiradas por muitas ativistas e escritoras brasileiras, optamos por utilizar “poeta” como gênero neutro, referindo-se tanto a homem, quanto a mulheres que escrevem poesia. , de atrizes e atores e de fazedoras e fazedores culturais, além de promover um contrafluxo da juventude na cidade. O “V”, como era carinhosamente chamado por suas frequentadoras, buscava chamar a atenção de certos grupos de jovens para o fato de que não era necessário deslocar-se da periferia para o centro em busca de diversão e de cultura (nesse caso, sair da região da Baixada Fluminense em direção à cidade do Rio de Janeiro). Aliás, podemos observar um movimento contrário: várias vezes, o “V” contou com a presença de jovens habitantes de áreas centrais da cidade do Rio de Janeiro, não apenas como convidados especiais para debater sobre alguma temática, mas também como expectadoras que ali estavam para ouvir o que a Baixada produz e tem a dizer.
O Sarau “V”, durante seus dois anos de existência na praça, estimulou a ideia de produção e de consumo de cultura dentro do próprio território, conectando pessoas de diversos locais. Além disso, “V” serviu de fonte de inspiração para a organização de outros grupos e coletivos culturais de diferentes cidades da Baixada Fluminense, que começaram a ocupar diversos espaços públicos, como, por exemplo, o Sarau RUA, na Praça dos Estudantes em Nilópolis, e o Caldo de Cultura, em Mesquita. O Sarau “V” naquele momento foi uma espécie de polo irradiador de movimentos transperiféricos ( Windle et al., 2020 WINDLE, J. et al. Por um paradigma transperiférico: uma agenda para pesquisas socialmente engajadas. Trab. Ling. Aplic., Campinas, v. 59, n. 2, p. 1563-1576, maio/ago. 2020.) por meio do qual abriram-se rotas para a construção de espaços de troca e de solidariedade entre pessoas e grupos.
Entendemos que todos esses fluxos tiveram como efeito uma recontextualização ( Blommaert, 2015BLOMMAERT, J. Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 44, p. 105-116, 2015.) daquele espaço. Propomos compreender essas movimentações como performances narrativas multissemióticas que projetaram um novo cronotopo ( Bakhtin, 1981BAKHTIN, M. M. The dialogic imagination. Austin: Univ. Tex. Press, 1981. 480 p.) para a praça, reatualizando o movimento cultural de ressignificação das periferias. Vale lembrar que cronotopos são construções semióticas por meio das quais as pessoas experienciam, compreendem e fornecem sentido as suas ações em certo espaço-tempo. Entretanto, não se trata de uma temporalidade, e tampouco de um espaço dado a priori. Como destaca Blommaert (2015)BLOMMAERT, J. Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 44, p. 105-116, 2015., o cronotopo nos permite focalizar a agência e a mobilidade do espaço-tempo com suas distintas projeções de pessoas e de grupos; ademais, “cronotopos específicos produzem tipos específicos de pessoas, ações, significados e valores” ( Blommaert, 2015, p. 109BLOMMAERT, J. Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 44, p. 105-116, 2015.).
Desse modo, os discursos que estigmatizam e homogeinizam a Baixada Fluminense são colocados em xeque nos cronotopos projetados pelos fazimentos culturais de suas juventudes locais. Esse território deixa de ser experienciado como o lugar da ausência do estado, da violência armada e da falta de recursos, povoado por grupos de extermínio e seus assassinos sanguinários, e passa a ser imaginado, feito e vivido como o território da abundância, como o local de habitação, de afirmação de identidades e de florescimento de culturas e de letramentos.
Após recontextualizar a Praça do Coliseu como Praça dos Direitos Humanos, o Sarau “V” assumiu um formato itinerante, com o intuito de circular por bairros periféricos da Baixada Fluminense, promovendo edições com diversas atrizes, atores e artistas locais. De acordo com suas organizadoras, a ideia do Sarau “V” era atingir “o subsolo da periferia” – entendido por elas como localidades que às vezes não possuem nem saneamento básico, tampouco equipamento cultural. Em suas memórias Tavares ( 2022, p. 90TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.) nos conta:
Em 2015 queríamos transformar o sarau em itinerante [...] tinha a ver com a própria ideia inicial do projeto de circular a cidade e alcançar o que chamamos de subsolos da periferia, ou seja, ocupar bairros mais “interioranos” da própria cidade de Nova Iguaçu.
Uma de suas edições itinerantes, que teve como nome “Brincadeira é coisa séria”, aconteceu na praça central do bairro Valverde, em parceria com um coletivo de hip-hop do próprio Valverde, formada por adolescentes, chamada Batalha do Federa. Vale destacar que, na época da realização do Sarau, eram raras manifestações culturais e/ou artísticas no bairro, uma vez que a localidade é dominada por grupos de milicianos 14 14 Agentes policiais que atuam como mafiosos na cidade do Rio de Janeiro. e a proibição de manifestações culturais relacionadas com a cultura juvenil local (como, por exemplo, o hip-hop, os bailes funk, etc.) é uma das ações violentas típicas desses grupos paramilitares ( Lopes, 2010LOPES, A. C. Funk-se quem quiser no batidão negro da cidade carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2011. 224 p.).
No entanto, a junção e a circulação dos coletivos promoveram um movimento transperiférico de resistência às proibições e aos silenciamentos. Um outro cronotopo ( Blommeart, 2015BLOMMAERT, J. Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 44, p. 105-116, 2015.) foi ali instaurado, exercendo uma pressão nos grupos milicianos vigilantes do bairro Valverde. Diferentemente do espaço do silêncio e da censura que frequentemente compõem a paisagem daquele bairro, na noite do Sarau, o hip-hop e o funk tocaram em “alto e bom som”; filmes foram projetados em um telão montado no centro da praça; jovens dançaram break entre uma atração e outra; varais com fotos artísticas, páginas com poemas impressos e camisetas com stencil foram pendurados pela praça do bairro; o muro de uma casa foi alegremente cedido por uma moradora para servir de tela para a grafitagem da imagem do líder político da África do Sul e símbolo da diáspora negra, Nelson Mandela. Trazemos aqui algumas fotos que capturaram este momento.
grafite feito pelo artista Mais Alto no muro de uma moradora do bairro Valverde, na edição “Brincadeira é Coisa Séria” do Sarau “V”, em 2015 15 15 O desenho de Nelson Mandela é uma homenagem e referência para os coletivos Sarau “V” e Batalha do Federa, por Madiba ser um ícone global na luta antirracista.
varal de camisetas produzidas pela Elzironas (composta por duas alunas da UFRRJ de Nova Iguaçu, na época), penduradas na quadra do Valverde, na edição “Brincadeira é Coisa Séria” do Sarau “V, em 2015
mensagem contra a censura e a criminalização da cultura negra, neste caso, do Rap e da Poesia. Cartaz pendurado na quadra do Valverde, na edição “Brincadeira é Coisa Séria” do Sarau “V’, em 2015
Desse modo, os movimentos e as conexões entre periferias nos mostram as táticas (De Certeau, 2014) de reinvenção e de sobrevivência da juventude periférica por meio das quais ela projeta novos cronotopos ( Blommeart, 2015BLOMMAERT, J. Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 44, p. 105-116, 2015.) para seus bairros e/ou cidades. Como em um movimento de ressignificação do estigma construído pelos mapas hegemônicos, ela quebra o silêncio, toma a palavra, fazendo arte e reivindicando o direito à cidade não só como um direito à habitação e à moradia, mas também como um direito à cultura, à fruição e à reimaginação da cidade e da vida ( Harvey, 2012HARVEY, D. O direto à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n. 29, p. 73-89, 2012.).
4.2 Sonhos: Sarau “Vê”, “Se a Gente Imagina, a Gente Vê”
Em outros trabalhos ( Lopes et al., 2017 LOPES, A. C. et al. Desregulamentando dicotomias: transletramentos, sobrevivências, nascimentos. Trab. Ling. Aplic., Campinas, v. 56, n. 3, p. 756-780, set./dez. 2017.) mostram que intervenções culturais como o Sarau “V” também são agências de letramentos centrais nas histórias de escolarização das juventudes de periferias e favelas. Todavia, destacam que essas agências se colocam como um nó em uma complexa rede composta por várias práticas sociais que envolvem o aprendizado da leitura e da escrita. Assim, utilizam a metáfora dos transletramentos para projetar a desregulamentação de dicotomias, como aquelas que delineiam as trajetórias de socialização no mundo da escrita de forma binária: de um lado, os conhecimentos construídos em práticas de letramentos escolares e, de outro lado, o conhecimento construído em letramentos não escolares. Diversamente, argumentamos que é no trânsito entre múltiplas agências de letramentos (escola, igreja, hip-hop, rodas de samba, sarau, etc.) que as juventudes constroem inúmeras formas de aprendizado, colocam-se como protagonistas de ações culturais nos territórios, apropriam-se da escrita, transformam-se em autoras de seus textos e de suas narrativas biográficas. O Sarau “V” é, portanto, uma agência de letramento em fluxo que sai das ruas e adentra as escolas.
Depois de dois anos de existência, o sarau foi contemplado com um edital público da Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, chamado Favela Criativa. Com esse apoio, o coletivo investiu em equipamentos e ampliou ainda mais as suas ações no território – o Sarau passou a ser realizado em três escolas públicas da cidade de Nova Iguaçu.
Com um slogan e um nome diferentes do primeiro, essa prática cultural passou a ser nomeada como o Sarau Vê – Se a Gente Imagina, a Gente Vê. O objetivo do “Vê” foi fornecer suporte para que a escola também funcionasse como um centro cultural para a comunidade, retomando as aspirações de Darcy Ribeiro 16 16 Darcy Ribeiro, antropólogo e educador, foi um dos idealizadores dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS), durante sua atuação como vice-governador do estado do Rio de Janeiro no primeiro mandato de Leonel Brizola (1983-1987). A proposta era oferecer educação integral às/aos estudantes da Rede Estadual, articulando estudos culturais ao conteúdo curricular. Na proposta inovadora de Darcy Ribeiro o tempo integral não significava apenas garantir mais um turno extra (ampliando o tempo de permanência de estudantes na escola), mas sim uma mudança de perspectiva, na qual a escola passaria a dialogar com os saberes do entorno produzidos pela comunidade. Tratava-se de reconhecer as experiências culturais das populações que viviam próximas aos CIEPS no estado do Rio de Janeiro “como expressões éticas, estéticas e sociais emancipatórias. – idealizador dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS) –, que teve como projeto a construção de um ensino integral para as classes populares, articulando os chamados conteúdos curriculares tradicionais com ações culturais locais, na maioria das vezes, realizadas fora do espaço escolar por agentes do território. Como destaca Chagas ( 2012, p. 13CHAGAS, M. A. M. Animação cultural: uma inovação pedagógica na escola pública fluminense dos anos 1980. 2012. 185 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.), em sua pesquisa sobre os CIEPS, o “grande mérito da proposta de Darcy foi permitir que os saberes populares passassem a conviver com o conhecimento produzido na escola e vice-versa”. Entendemos que essa perspectiva democrática de diálogo da escola com seu entorno é bastante semelhante à imaginação que projetamos com a metáfora dos transletramentos.
Nesse sentido, para iniciar as atividades, o grupo do sarau se propôs a refletir sobre as seguintes questões motivadoras: é possível realizar um sarau na escola? O que está na rua está na escola, e vice-versa? Como um dos resultados iniciais desta atividade, foram produzidos os dois cartazes a seguir.
Nos cartazes, ainda que a escola seja caracterizada como um local onde há “música”, “grupo de rap”, “danças” e outras práticas típicas dos fazeres culturais periféricos, queremos chamar a atenção para o fato de o “protagonismo” ter sido elencado como uma característica do Sarau – isto é, a capacidade de ação das sujeitas e sujeitos foi projetada como algo que está fora da escola. Valorizando, exatamente, a autonomia das sujeitas e sujeitos (característica central do movimento periférico) e, ainda, desafiando as imaginações dicotômicas, organizamos as ações do “Vê”, nas escolas, baseadas nos fluxos e nos movimentos de idas e vindas de jovens e das culturas periféricas, e planejamos ações pedagógicas resultantes de intensas trocas com outros coletivos de cultura e ativismo, especialmente do diálogo com os princípios da Agência Redes Para a Juventude, um programa social da ONG Avenida Brasil – Instituto de Criatividade Social, para a qual Janaina Tavares foi selecionada como estagiária no ano de 2014. O projeto da agência é fundamentado na disputa narrativa sobre as cidades, uma vez que busca fornecer subsídios para construção de novos cronotopos para territórios periféricos, estimulada pela ação dos jovens. De acordo com os termos das próprias organizadoras da Rede,
A agencia não é um projeto social, nem um curso de capacitação profissional. Pretende ser a possibilidade de criação para jovens que vivem em comunidades populares do Rio de Janeiro. O estímulo para invenção de um novo lugar na cidade, onde estes jovens sejam potentes, e não só representados como carentes. Onde eles são reconhecidos como [sujeitas] e sujeitos criadores, não só como objetos de criação social 17 17 Disponível em: https://eurio.com.br/noticia/25631/agencia-redes-para-a-juventude-ganha-sede-propria-e-agora-e-comandada-por-duas-mulheres.html. .
Vale destacar aqui a ênfase na “criação” das(os) próprias(os) jovens presente na proposta da Rede. Entendemos que se trata de um projeto que vai na direção contrária de muitas ONGs que trazem práticas exteriores à comunidade para serem implementadas no local, com uma perspectiva salvacionista 18 18 Referimo-nos a propostas muito comuns de algumas ONGs que desconsideram os saberes locais, trazendo aquilo que é de fora para a recuperação ou para a salvação de uma juventude, supostamente perdida. ou assistencialista ( Facina, 2014FACINA, A. (org.) Acari cultural: mapeamento da produção cultural em uma favela da zona norte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Faperj; Mauad, 2014. 151 p.). A Rede propõe um tipo de ação pedagógica que tem como princípio a implicação da juventude na transformação de seu próprio espaço social: reconstruí-lo é reconstruir a si própria.
Inspiradas por essa metodologia, idealizamos que, em cada escola na qual o Sarau “Vê” passasse, teríamos alunas e alunos, professoras e professores multiplicadores da ideia da produção artística e cultural como práticas transformadoras do território e da realidade social. Em sua dissertação de mestrado, Tavares ( 2022, p. 93TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.) destaca que o
“Vê” inaugura o Sarau “V” nas escolas, pois se imaginamos podemos ver (com outros olhos) nossa realidade e assim transformá-la com nossas pequenas revoluções diárias. “Se a gente imagina, a gente vê” busca esse lugar da imaginação e da arte como um espaço seguro e possível para todo mundo, inclusive para as alunas e alunos do ensino fundamental de escolas públicas. Ou, em outras palavras, o sarau nas escolas queria mostrar que na produção cultural e artística se faz presente o princípio da esperança e do sonhar sonhos possíveis.
Assim, pautadas pelo “princípio da esperança e do sonhar sonhos possíveis”, tal qual é colocado por Freire (1992)FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reecontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 127 p., inspirado, por sua vez, em Ernest Bloch (2005)BLOCH, E. O princípio esperança. Rio de Janeiro: Eduerj; Contraponto, 2005, 434 p. v. 1., realizamos várias ações nas escolas, fundamentadas em sua realidade e em seus recursos locais. Mais do que um método, a esperança serviu como um princípio organizador das ações pedagógicas do “Vê”. Precisamos destacar, brevemente, algumas reflexões desses dois teóricos da esperança que tanto alimentaram as nossas práticas.
Ernest Bloch ( 2005BLOCH, E. O princípio esperança. Rio de Janeiro: Eduerj; Contraponto, 2005, 434 p. v. 1.) destaca a esperança como uma necessidade ontológica, que se manifesta no tempo de um “ainda-não”, projetando no futuro utopias indispensáveis à transformação do mundo. Este “ainda-não” precisa se dar no plano da consciência assimilando a esperança ao ato de “sonhar acordado” e estando vinculada a ações transformadoras no mundo. Como destaca Facina ( 2022, p. 16FACINA, A. Sujeitos de sorte: narrativas de esperança em produções artísticas no Brasil recente. Rev. antropol., São Paulo, v. 65, n. 2, e195924, 2022. 34 p.),
a esperança seria sempre animada pelo inconformismo e pela recusa em aceitar o sofrimento como condição perene e universal da existência humana. A tendência para o sonho diurno é ainda mais forte entre os que sofrem privações, pois o desejo de ver as coisas melhorarem não adormece.
Paulo Freire (1992)FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reecontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 127 p. parte das reflexões de Bloch (2005)BLOCH, E. O princípio esperança. Rio de Janeiro: Eduerj; Contraponto, 2005, 434 p. v. 1. e escreve o livro Pedagogia da Esperança, destacando a esperança também como uma necessidade ontológica, ligada à capacidade humana de construir um futuro eticamente mais justo e politicamente mais democrático; esperança é entendida por ele como uma prática que alimenta a “luta para melhorar o mundo”. Em Freire (1992)FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reecontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 127 p., esperança e prática aparecem intrinsecamente relacionadas. Nas poéticas palavras do patrono da educação brasileira,
Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas, prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir a atos calculados apenas, à pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se funda também na verdade como na qualidade ética da luta é negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial, como digo mais adiante no corpo desta Pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prática. [...] Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira, assim, espera vã
( Freire, 1992, p. 5, grifos do autorFREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reecontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 127 p.).
Ancoradas nas práticas periféricas por meio da qual a juventude toma a palavra como quem faz parte e toma parte de seu território, realizamos algumas atividades que exemplificamos aqui. Primeiro, com dançarinos da Batalha do Passinho, organizamos, em uma das escolas, oficinas de dança e de hip-hop dentro e fora da sala de aula. Após dois meses de ensaio, produzimos uma batalha de passinho e de rap juntamente com um varal de desenhos de alunas e de alunos retratando todo o processo. Em outra escola, trouxemos poetas, professoras e professores do local para a realização de oficinas de escrita criativa. Os poemas foram escritos de forma coletiva e muitas das/dos estudantes, em diálogo com as/os artistas da própria Baixada, se reconheceram como escritoras, escritores e poetas. E, na terceira escola, trouxemos coletivos de artes cênicas, circenses, audiovisuais e de mídias sociais, bem como mediadoras da Rede Baixada Literária 19 19 “Composta por 20 bibliotecas comunitárias em bairros periféricos de Nova Iguaçu, a Rede Baixada Literária – coletivo formado exclusivamente por mulheres – atua desde 2011 na luta pela formação de leitoras e leitores críticos e na transformação das realidades das comunidades por meio da leitura e da literatura”. Disponível em: https://rioonwatch.org.br/?p=64318. para a organização da Festa Literária como um espaço de múltiplos letramentos e culturas. Com artistas e poetas periféricos, estimulamos o debate sobre as diversas formas de conhecimento, de arte, de letramentos e de produção cultural, deslocando, assim, o cronotopo das ruas do Sarau “V” para as escolas do Sarau “Vê”. Uma invenção que se torna sonho.
5 Conclusão
Em artigo recente, a antropóloga Adriana Facina (2022)FACINA, A. Sujeitos de sorte: narrativas de esperança em produções artísticas no Brasil recente. Rev. antropol., São Paulo, v. 65, n. 2, e195924, 2022. 34 p. traz narrativas produzidas por artistas e grupos culturais de periferias brasileiras, dando continuidade ao trabalho que começamos a desenvolver coletivamente no ano de 2008 sobre as táticas de sobrevivência de jovens nas favelas. Fundamentada por uma ampla pesquisa etnográfica, a autora volta-se para a categoria esperança, argumentando que essas pessoas organizam suas vidas, seus projetos profissionais e seus sonhos engajadas em práticas de esperança – uma “maneira de existir em contingência imaginando futuros, como uma lente através da qual se lê o mundo e são traçadas táticas e estratégias para nele atuar” ( Facina, 2022, p. 6FACINA, A. Sujeitos de sorte: narrativas de esperança em produções artísticas no Brasil recente. Rev. antropol., São Paulo, v. 65, n. 2, e195924, 2022. 34 p.). Desse modo, Facina ressalta as semelhanças entre práticas de sobrevivência e de esperança, pontuando, todavia, a distinção entre as suas temporalidades. Enquanto a sobrevivência estaria ligada a uma tática do improviso, uma forma de perdurar no tempo, a esperança envolveria uma espécie de temporalidade planejada. “A esperança se aproxima e se diferencia da sobrevivência na relação com o tempo, pois pode ser ao mesmo tempo parte da tática do sobreviver no agora e estratégia para produzir um futuro imaginado” ( Facina, 2022, p. 8FACINA, A. Sujeitos de sorte: narrativas de esperança em produções artísticas no Brasil recente. Rev. antropol., São Paulo, v. 65, n. 2, e195924, 2022. 34 p.). Ao acompanharmos como pesquisadoras e fazedoras culturais as histórias do Sarau “V” e do Sarau “Vê”, compreendemos que as práticas periféricas da Baixada Fluminense se organizam pelo princípio da sobrevivência e da esperança. Em um primeiro momento, Janaina realiza ações culturais, sem apoio e sem grandes cálculos, mas, por meio de uma rede colaborativa, reinventa, no aqui-e-agora, o território e o ser/fazer baixadense. Entretanto, essa primeira ação perdurou no tempo e, em um segundo momento, virou projeto, ganhou financiamento público, tornou-se trabalho e realização profissional, sonho e semente multiplicadora de imaginação de novos futuros em escolas públicas.
Assim como no verso “o caminho muda e muda a caminhante”, do escritor e compositor musical Estevão Queiroga, trouxemos as histórias do Sarau “V”, do Sarau “Vê”, formadas pelos posicionamentos de suas sujeitas e sujeitos em reinvenções e deslocamentos contínuos. Assim, nos fluxos de nosso caminho, as dicotomias (pesquisador-pesquisado, dentro da escola-fora da escola, letramentos escolares-letramentos não escolares) comparecem e são desafiadas. Argumentamos que nesses movimentos novos cronotopos são projetados pelas culturas das juventudes periféricas. Todavia, trata-se de uma compreensão desenhada a partir de uma agenda transperiférica, na qual a autoetnografia busca retirar a periferia do lugar de assujeitamento para o de protagonismo não só dos fazeres culturais, mas também dos fazeres da própria pesquisa acadêmica – não é mais sobre eles, mas sim sobre nós. Terminamos este texto com um belo fragmento da dissertação de Janaina. Inspiradas pelos dizeres do intelectual indígena Ailton Krenak (2020)KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 102 p., as memórias de um Sarau são também performances narrativas que trazem as vozes daqueles
que constroem as cidades, que lavram os campos, colhem os frutos, aqueles e aquelas que dançam nos trens, projetam nas telas urbanas filmes do cotidiano, imprimem seus nomes, desejos, as mães originárias da terra, as sertanejas catadoras de mangaba, maxixe, mulheres que fazem farinha de milho, que alfabetizam, que educam as crianças, que migram e atravessam fronteiras geográficas e simbólicas. Aquelas e aqueles que sobem os morros, que batem laje, os favelados e faveladas do mundo. Aquelas e aqueles que transbordam os mares e cultivam raízes, que escrevem a vida e se escrevem na vida, os/as condenados/as da Terra. Os sobreviventes das veredas, do chão de terra, da água de poço, da poça d’água. Todos eles, de alguma maneira, e dentro de suas culturas, linguagens e existências, estão persistindo e esperançando: sobrevivendo ( Tavares, 2022, p. 141TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.).
Referências
- A PARTIDA e o Norte. Intérprete: Estevão Queiroga. Compositores: Estevão Queiroga. In: DIÁLOGO número um. Intérprete: Estevão Queiroga. [S. l.]: Sony Music Entertainment, 2016. 1 CD, faixa 3. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=tJ_zR6KKNII Acesso em: 26 ago. 2023.
» https://www.youtube.com/watch?v=tJ_zR6KKNII - ADICHIE, C. N. O perigo de uma história única. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 64 p.
- ALBERT, B.; KOPENAWA YANOMAMI, D. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami. São Paulo: Companhia das Letras, 2015.
- ALBUQUERQUE, M. I. De quantos caminhos se faz um direito? Mobilidade e gênero nos quadros da cidade. 2019. 121 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.
- ALONSO, A. Treze. A política de rua de Lula a Dilma. São Paulo: Companhia das Letras, 2023. 352 p.
- ALVES, N. A compreensão de políticas nas pesquisas com os cotidianos: para além dos processos de regulação. Educação & Sociedade, Campinas, v. 31, n. 113, p. 1195-1212, 2010.
- ALVES, R. O amor que acende a lua. 8. ed. Campinas: Papirus, 1999. 65 p.
- ANDRADE, N. M.; GUERREIRO, J. Táticas das juventudes. Periferia, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 134-154, 2019.
- ANZALDUA, G. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987. 312 p.
- ARAUJO, E. P.; BASTOS, L. C. Militância e ocupação: dimensões autoetnográficas na pesquisa sobre movimentos sociais. Veredas – Revista de Estudos Linguísticos, Juiz de Fora, v. 22, n. 1, p. 165-188, 2018.
- BAKHTIN, M. M. The dialogic imagination. Austin: Univ. Tex. Press, 1981. 480 p.
- BASTOS, L. C. Narrativa e vida cotidiana. Scripta, Belo Horizonte, v. 7, n. 14, p. 118-127, 1º sem. 2004.
- BASTOS, L. C.; BIAR, L. A. Análise de narrativa e práticas de entendimento da vida social. DELTA, São Paulo, v. 31, n. especial, p. 97-126, 2015.
- BAUMAN, R.; BRIGGS, C. Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 19, p. 59-88, 1990.
- BLOCH, E. O princípio esperança. Rio de Janeiro: Eduerj; Contraponto, 2005, 434 p. v. 1.
- BLOMMAERT, J. Chronotopes, scales, and complexity in the study of language in society. Annual Review of Anthropology, Stanford, v. 44, p. 105-116, 2015.
- CHAGAS, M. A. M. Animação cultural: uma inovação pedagógica na escola pública fluminense dos anos 1980. 2012. 185 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2012.
- D’ANDREA, T. P. Contribuições para a definição dos conceitos periferia e sujeitas e sujeitos periféricos. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, v. 39, n. 1, p. 19-36, 2020.
- DERRIDA, J. Living on/border lines. In: BLOOM et al. (org.). Deconstruction and criticism. London: Continuum, 1979. p. 62-142.
- ENNE, A. L. S. “Lugar, meu amigo, é minha Baixada”: memória, representações sociais e identidades. 2002. 500 f. Tese (Doutorado em Antropologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2002.
- FABRÍCIO, B. F. Narrativização da experiência: o triunfo da ordem sobre o acaso. In: MAGALHÃES, I; CORACINI, M. J.; GRIGOLETTO, M. (eds.). Práticas identitárias: língua e discurso. São Carlos: Claraluz, 2006. p. 191-211.
- FACINA, A. (org.) Acari cultural: mapeamento da produção cultural em uma favela da zona norte do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Faperj; Mauad, 2014. 151 p.
- FACINA, A. Sujeitos de sorte: narrativas de esperança em produções artísticas no Brasil recente. Rev. antropol., São Paulo, v. 65, n. 2, e195924, 2022. 34 p.
- FRANCISCO, D. Da minha Baixada Fluminense: dos rastros de uma cena estética, subversiva e fora do lugar. Revista Z Cultural, Rio de Janeiro, ano 11, 2016. Disponível em: http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/04/NA-MINHA-BAIXADA-FLUMINENSE\_-DOS-RASTROS-DE-UMA-CENA-EST%C3%89TICA-SUBVERSIVA-E-FORA-DE-LUGAR-%E2%80%93-Revista-Z-Cultural.pdf Acesso em: 26 ago. 2023.
» http://revistazcultural.pacc.ufrj.br/wp-content/uploads/2016/04/NA-MINHA-BAIXADA-FLUMINENSE\_-DOS-RASTROS-DE-UMA-CENA-EST%C3%89TICA-SUBVERSIVA-E-FORA-DE-LUGAR-%E2%80%93-Revista-Z-Cultural.pdf - FREIRE, P. Pedagogia da esperança: um reecontro com a pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 127 p.
- FREIRE, P.; FAUNDEZ, A. Por uma Pedagogia da Pergunta. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985. 240 p.
- FREITAS, L. F. R.; MOITA LOPES, L. P. Vivenciando a outridade: escalas, idexicalidade e performances narrativas de universitários migrantes. Revista Brasileira de Linguística Aplicada, Belo Horizonte, v. 19, n. 1, p. 147-172, 2019.
- HARVEY, D. O direto à cidade. Lutas Sociais, São Paulo, n. 29, p. 73-89, 2012.
- KRENAK, A. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2020. 102 p.
- LÉVI-STRAUSS, C. O cru e o cozido. São Paulo: CosacNaify, 2004. 442 p. (Série Mitológicas 1).
- LOPES, A. C. et al. Desregulamentando dicotomias: transletramentos, sobrevivências, nascimentos. Trab. Ling. Aplic., Campinas, v. 56, n. 3, p. 756-780, set./dez. 2017.
- LOPES, A. C. Funk-se quem quiser no batidão negro da cidade carioca. Rio de Janeiro: Bom Texto, 2011. 224 p.
- LOPES, A. C.; FACINA, A.; SILVA, D. N. Nó em pingo d’água: sobrevivência, cultura e linguagem. Rio de Janeiro: Mórula; Florianópolis: Insular, 2019. 333 p.
- LOPES, A. C.; TAVARES, J. C. “Os saraus são as bibliotecas sonoras das periferias”: uma narrativa sobre letramentos e o direito à cidade. Revista Pragmatize, Niterói, ano 11, n. 20, p. 51-68, 2021.
- MAIA, J. Fogos Digitais: Letramentos de sobrevivência no Complexo do Alemão/RJ. 2017. 220 f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017.
- MAIA, J. Fogos Digitais: letramentos de sobrevivência no Complexo do Alemão/RJ. 2017. 220f. Tese (Doutorado em Linguística Aplicada) – Instituto de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2017.
- MOITA LOPES, L. P. (org.) Português no século XXI: cenário geopolítico e sociolinguístico. São Paulo: Parábola Editorial, 2013. 398 p.
- MOITA LOPES, L. P. Por uma Linguística Aplicada Indisciplinar. São Paulo: Parábola Editorial, 2006.
- NASCIMENTO, E. É tudo nosso! A produção periférica na periferia paulistana. 2011. 213 f. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- PARDO, F. S. A autoetnografia em pesquisas em Linguística Aplicada: reflexões do sujeito pesquisador/pesquisado. Horizontes de Linguística Aplicada, Brasília, DF, v. 18, n. 2, p. 15-40, 2019.
- PEREIRA, M. G. D.; VIEIRA, A. T. Autoetnografia em Estudos da Linguagem e áreas interdisciplinares. Veredas – Revista de Estudos Linguísticos, Juiz de Fora, v. 22, n. 1, p. 1-10, 2018.
- RAP da Felicidade. Intérprete: MC Cidinho e MC Doca. Compositores: MC Cidinho e MC Doca. In: EU só quero é ser feliz. Intérprete: MC Cidinho e MC Doca. Rio de Janeiro: Spotlight Records, 1995. 1 CD, faixa 8.
- ROBBINS, J. Beyond the suffering subject: toward an anthropology of the good. The Journal of the Royal Anthropological Institute, Great Britain and Ireland, v.19, p. 447-462, 2013.
- SANTOS, S. M. A. O método da autoetnografia na pesquisa sociológica: atores, perspectivas e desafios. PLURAL, São Paulo, v. 24, n. 1, 2017, p. 214-241.
- SILVA, D. N. O texto entre a entextualização e a etnografia: um programa jornalístico sobre belezas subalternas e suas múltiplas recontextualizações. LemD – Linguagem em (Dis)curso, Tubarão, SC, v. 14, n. 1, p. 67-84, 2014.
- SILVA, D. N. Pragmática da violência: o Nordeste na mídia brasileira. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2011.
- SILVA, D. N. Uma perspectiva pragmática para o estudo dos letramentos em periferias brasileiras. Revista da Anpoll, Florianópolis, v. 1, n. 49, p. 26-38, 2019.
- SINGER, A. Brasil, junho de 2013: classes e ideologias cruzadas. Novos Estudos – CEBRAP, São Paulo, n. 97, p. 23-40, 2013.
- SOUZA, A. L. S. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip hop. São Paulo: Parábola Editorial, 2011. 176 p.
- STREET, B. Letramentos sociais: abordagens críticas do letramento no desenvolvimento, na etnografia e na educação. São Paulo: Parábola Editorial, 2014. 240 p.
- TAVARES, J. C. Sarau “V” e os letramentos que nos atravessam nos espaços periféricos. 2018. 58 f. Monografia (Graduação em Letras Português/Espanhol) – Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, 2018.
- TAVARES, J. C. Sujeita Baixadense: uma autoetnografia de um sarau de rua da Baixada Fluminense. 2022. 155 p. Dissertação (Mestrado em Linguística Aplicada) – Faculdade de Letras, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2022.
- WINDLE, J. et al. Por um paradigma transperiférico: uma agenda para pesquisas socialmente engajadas. Trab. Ling. Aplic., Campinas, v. 59, n. 2, p. 1563-1576, maio/ago. 2020.
-
1
Região Metropolitana do Rio de Janeiro, chamada de Grande Rio. A Baixada Fluminense é composta por treze municípios. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE), a população estimada da Baixada Fluminense em 2020 foi de 3.908.510.
-
2
Aqui nos referimos às políticas de democratização adotadas nas universidades federais brasileiras, implementadas a partir do Governo Lula, na primeira década dos anos 2000.
-
3
Utilizamos esta expressão inspirada pela frase do antropólogo Lévi-Strauss na obra Cru e Cozido (2004)LÉVI-STRAUSS, C. O cru e o cozido. São Paulo: CosacNaify, 2004. 442 p. (Série Mitológicas 1)., segundo o qual analisar a comida na sociedade seria “bom para pensar outras coisas, como, por exemplo, as relações sociais e a forma pela qual a realidade é percebida”. Nesse sentido, o encontro das autoras é bom para pensar várias questões caras ao paradigma transperiférico.
-
4
Raphael Calazans foi bolsista de iniciação científica (IC) do projeto Mapeamento Cultural e das práticas de letramentos em três favelas do Complexo do Alemão, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ) e coordenado por Adriana Facina Gurgel do Amaral entre os anos de 2014 e 2015.
-
5
Não entendemos fronteira como categoria simbólica, um território de trocas e de fluxos. Como coloca Anzaldua ( 1987, p. 19ANZALDUA, G. Borderlands / La Frontera: The New Mestiza. San Francisco: Aunt Lute Books, 1987. 312 p.), “fronteiras estão presentes fisicamente sempre que duas ou mais culturas se encontram, onde pessoas de diferentes raças ocupam o mesmo território, onde as elites e as classes populares se tocam, onde o espaço entre dois indivíduos se recolhe em intimidade”.
-
6
Não sabemos como o termo “baixadense” começou a circular com tanta força entre alguns grupos, mas, de acordo com alguns relatos que circulam nos fazeres culturais da Baixada, tal palavra surge no período da Ditadura Militar, entre os anos 1970/1980, com o poeta e escritor iguaçuano Moduan Matus, como forma de divulgar a poesia baixadense (criada por ele). Moduan, naquele período, escrevia poemas nas portas das lojas (quando fechadas), com giz, o que deu o nome de “gização” e assinava como poeta “baixadense”. Muitos anos mais tarde, o Sarau “V”, em todas as edições na praça dos Direitos Humanos, deixava uma caixa de giz disponível para o público, sobretudo as crianças, escreverem e desenharem no chão como produtores de culturas e saberes baixadenses.
-
7
Região formada majoritariamente por bairros onde habitam as classes médias altas da cidade.
-
8
Não que esses “fazeres” não existissem anteriormente na Baixada. Como coloca Dudu do Morro Agudo, um dos idealizadores do Instituto Enraizados, já, na década de 1970, havia uma geração de pessoas que faziam poesia, escreviam livros e vendiam em bares, influenciando a produção cultural periférica. “Se hoje estamos aqui, é porque eles estiveram aqui antes de nós e jogaram a semente” ( Andrade; Guerreiro, 2019, p. 144ANDRADE, N. M.; GUERREIRO, J. Táticas das juventudes. Periferia, Rio de Janeiro, v. 11, n. 4, p. 134-154, 2019.).
-
9
Poderíamos citar alguns coletivos de cultura que surgem nesse momento, como, por exemplo, Instituto Enraizados ( https://www.enraizados.org.br/), Cine Clube Mate com Angu ( https://matecomangu.org/site/), Sarau Donana ( http://www.donana.org.br/).
-
10
Sérgio Cabral foi preso e acusado de manter relações ilegais entre empresas privadas e o governo do estado. Em 2021, o governador acumulava 19 condenações contra ele.
-
11
Em março de 2023, a 4ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro absolveu o ex-governador Sergio Cabral da acusação. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2023-mar-28/justica-absolve-cabral-acao-improbidade-baseada-delacoes.
-
12
Amarildo Dias de Souza, ajudante de pedreiro, morador da Rocinha, desapareceu no dia 14 de julho de 2013. A pergunta “Cadê o Amarildo?” ecoava por todas as ruas do Rio de Janeiro. Amarildo sumiu após ser levado por policiais militares para ser interrogado na sede da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora), durante a “Operação Paz Armada”. Seu desaparecimento tornou-se símbolo de casos de abuso de poder e da violência policial.
-
13
Poetisa é o feminino de poeta. Entretanto, a palavra ganhou cunho pejorativo, porque tem sido associada à inferiorização da literatura produzida por mulheres. Assim, inspiradas por muitas ativistas e escritoras brasileiras, optamos por utilizar “poeta” como gênero neutro, referindo-se tanto a homem, quanto a mulheres que escrevem poesia.
-
14
Agentes policiais que atuam como mafiosos na cidade do Rio de Janeiro.
-
15
O desenho de Nelson Mandela é uma homenagem e referência para os coletivos Sarau “V” e Batalha do Federa, por Madiba ser um ícone global na luta antirracista.
-
16
Darcy Ribeiro, antropólogo e educador, foi um dos idealizadores dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPS), durante sua atuação como vice-governador do estado do Rio de Janeiro no primeiro mandato de Leonel Brizola (1983-1987). A proposta era oferecer educação integral às/aos estudantes da Rede Estadual, articulando estudos culturais ao conteúdo curricular. Na proposta inovadora de Darcy Ribeiro o tempo integral não significava apenas garantir mais um turno extra (ampliando o tempo de permanência de estudantes na escola), mas sim uma mudança de perspectiva, na qual a escola passaria a dialogar com os saberes do entorno produzidos pela comunidade. Tratava-se de reconhecer as experiências culturais das populações que viviam próximas aos CIEPS no estado do Rio de Janeiro “como expressões éticas, estéticas e sociais emancipatórias.
- 17
-
18
Referimo-nos a propostas muito comuns de algumas ONGs que desconsideram os saberes locais, trazendo aquilo que é de fora para a recuperação ou para a salvação de uma juventude, supostamente perdida.
-
19
“Composta por 20 bibliotecas comunitárias em bairros periféricos de Nova Iguaçu, a Rede Baixada Literária – coletivo formado exclusivamente por mulheres – atua desde 2011 na luta pela formação de leitoras e leitores críticos e na transformação das realidades das comunidades por meio da leitura e da literatura”. Disponível em: https://rioonwatch.org.br/?p=64318.
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
12 Fev 2024 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
30 Nov 2022 -
Aceito
30 Ago 2023
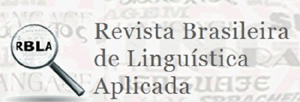





 Fonte: acervo do Sarau “V”, via Facebook.
Fonte: acervo do Sarau “V”, via Facebook.
 Fonte: acervo do Sarau “V”, via Facebook.
Fonte: acervo do Sarau “V”, via Facebook.
 Fonte: acervo do Sarau “V”, via Facebook.
Fonte: acervo do Sarau “V”, via Facebook.
 Fonte:
Fonte: