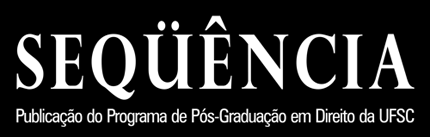Resumos
Resumo: No ordenamento jurídico brasileiro são visíveis algumas tensões na relação intersistêmica entre a cultura, o poder e a política. Descreve-as as posições de autores como Michel Foucault e Mario Vargas Llosa, ao abordar a existência de dispositivos de segurança criados pelos governos para controle e manipulação dos sistemas culturais na América Latina. Paralelo a isso, interpretando as menções do escritor contemporâneo Nicholas Carr e do filósofo Byung-Chul Han, tece-se análise sobre a potencialidade dos instrumentos e dos mecanismos de inovação tecnológica utilizados como forma de burla ao aperfeiçoamento da cultura em tempos neoliberais, enquanto nova técnica de poder aperfeiçoada e utilizada como propagação de conhecimento. A partir dessas premissas, o presente ensaio avança para além da análise jurídica interdisciplinar, ao explorar a questão da banalização do sistema da cultura operante, visto ora como entretenimento, ora como conhecimento disseminado, no seio do atual Estado Democrático de Direito. A metodologia de trabalho é o método hipotético-dedutivo, além de um estudo descritivo de base referencial essencialmente bibliográfica.
Palavras-chaves:
Biopolítica; Governamentalidade; Psicopolítica; Sistema Cultural no Brasil.
Abstract: In the Brazilian legal system some tensions are visible in the intersystemic relationship between culture, power and politics. Describing the positions of authors such as Michel Foucault and Mario Vargas Llosa, when discussing the existence of security devices created by governments for control and manipulation of cultural systems in Latin America. Parallel to this, interpreting the mentions of contemporary writer Nicholas Carr and the philosopher Byung-Chul Han, we analyze the potential of the instruments and mechanisms of technological innovation mechanisms used as a form of mockery to the improvement of culture in neoliberal times, new power technique and used as knowledge propagation. On the basis of these premises, the present essay goes beyond interdisciplinary legal analysis, exploring the question of the trivialization of the operant culture system, now seen as entertainment, or disseminated knowledge, within the current Democratic State of Law. The work methodology is of the hypothetical-deductive method, a descriptive study with essentially bibliographical references.
Keywords:
Biopolitics; Cultural System in Brazil; Governmentality; Psychopolitics.
INTRODUÇÃO
Cultura, poder e política estão intimamente relacionados. Todavia, embora haja essa sistêmica interligação, cada sistema conserva a sua autonomia e a sua autorrefência. Não raro aparecem os constantes confrontos entre peculiaridades e interesses divergentes, mas, apesar de tudo, a cultura, da forma como vem inserida na ordem social, representa um projeto tendencioso de coerção e eficiente de sujeição e subjetivação dos indivíduos, cujos interesses são voltados aos propósitos políticos.
Inserto nesse contexto, ao longo dos tempos surgiram alguns ensaios, teorias e análises sobre a decadência do sistema cultural em nosso tempo. Aponta o literato Mario Vargas Llosa (2013)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. , a cultura, no sentido do vocábulo tradicionalmente utilizado, tende a desaparecer, ou talvez já tenha desaparecido, frente ao esvaziamento de sua essência, ou até mesmo, sendo mais ousado, pela percepção da substituição por outra inovadora terminologia, desnaturando o conteúdo de outrora.
Isso representa que o sistema da arte e da cultura se encontra em crise; mas, por outro viés, na linha dos críticos menos pessimistas, como o mexicano Jorge Volpi, existe o surgimento de uma nova concepção de cultura construída em cima dos alicerces da antiga visão, muito mais ágil, dinâmica, pronta a disseminar amplamente o conhecimento, sem barreiras e entraves, que se afasta, cada vez mais, do modelo de cultura do passado.
Essa nova redefinição pós-moderna de sistema cultural transmuta a visão da sociedade sobre a mesma, bem como influencia a percepção do papel da responsabilidade do Estado nessa transformação, direcionando a constatação de que por intermédio dos mecanismos de controle e dos dispositivos de segurança gerenciados e implantados pelo governo sobre a cultura brasileira - em menção à Governamentalidade em Michel Foucault e a Psicopolítica em Byung-Chul Han -, atribui-se uma espécie de controle social com o uso do avanço de novas tecnologias sociais de manipulação desse sistema.
E, no habitual, esses têm sido os principais instrumentos estratégicos utilizados como política cultural para o desenvolvimento econômico-social da área, o qual vem apresentando distorções e deterioração à cultura nacional.
Críticas aos referidos mecanismos e instrumentos de gerenciamento social aportados pelo Estado, nos moldes como o controle se apresenta, limita e consagra o privilégio a uma elite aristocrática defensora de uma alta cultura que visa manipular a qualidade da cultura de acesso a poucos para que a mesma venha a continuar sempre uma cultura minoritária.
Então, inseridas constatações até o momento realizadas, o despertar da temática de pesquisa, direciona-se a indagar: a participação do Estado no desenvolvimento da cultura no Brasil, ao se utilizar de mecanismos instrumentais disseminadores de conhecimento e informação - via novas tecnologias destinadas à área -, seriam configurativos de manipulação governamental sobre o social? O sistema cultural nos moldes evolutivos apresentados na pós-modernidade, vista às vezes como sinônimo de contracultura, seria representativo da banalização da cultura operante, ou mais um recurso de desenvolvimento econômico e social, nos termos como vem sendo executado? Estaria adequada a forma de expansão democrática como pretende a Constituição Federal de 1988?
Para tanto, didaticamente, o desenvolvimento do artigo far-se-á consoante exposto. Primeiramente, abordar-se-á, no tópico A Governamentalidade estatal e a compreensão dos valores culturais explícitos na Constituição Federal de 1988, a percepção, por intermédio da visão referencial teórica de Michel Foucault e da Psicopolítica em Byung-Chul Han, sobre os mecanismos de controle utilizados pelo governo, de forma a adequar os seus interesses econômicos individuais e coletivos. Através da conscientização dos valores constitucionais vigentes e do uso de novas tecnologias de disseminação de conhecimento tem-se a presente dominação cultural.
Ademais, por conseguinte, conduz-se, na sequência de nossa análise, a constatação de um alheamento cultural proposital, espécie de “coisificação humana” em termos culturais, segundo afirma Mario Vargas Llosa (2013)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. , resultando na “futilização” estratégica do corpo social, como sustenta Guy Debord (1997)DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997., resultado próprio da dinamização do capitalismo e da loucura da razão econômica que torna a cultura “um valor em constante movimento”, segundo o sociólogo David Harvey (2018)HARVEY, David. A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2018. .
Em um segundo momento, colocar-se-á em destaque A inter-relação sistêmica entre a cultura, a política e o poder: aportes de uma “civilização do espetáculo”, uma abordagem trazida por Mario Vargas Llosa sobre o porquê da cultura, ao longo da história desenvolvimentista nos países latinos, sempre ter estado sob a atenta vigilância do Estado, empenhado em não permitir que está se afaste do ideário dos governantes, culminando na progressiva transformação da cultura em diversão, na perda do senso crítico e na degeneração dos povos.
Por derradeiro, o tópico A superficialidade cultural: por uma sociedade com mais informação, menos cultura e menos conhecimento, destaca o reconhecimento do grande ponto de controle dos governos: o uso e disseminação da tecnologia de massa e meios de comunicação, como Internet, Facebook, Skype, Instagram, entre outros, usuais em tempos atuais, mas que, no entanto, produzem um conhecimento superficial. Uma intensa discussão traçada pelo escritor americano Nicholas Carr - agraciado com o prêmio Pulitzer em 2011 -, descreve a transformação por que passa o sistema cultural, a quebra da privacidade, a influência subliminar sobre os indivíduos e a coletividade, moldando nossa forma de agir e pensar. Para o governo, a substituição da cultura nos moldes antigos pela cultura atual representa um excelente negócio, uma vez que “´[...] a internet traz uma sobrecarga de informações, mas não de conhecimento” (Carr, 2011, p. 97)CARR, Nicholas. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Agir, 2011..
Como metodologia geral, optou-se pelo método hipotético-dedutivo; e, quanto ao procedimento técnico, trata-se de um apanhado essencialmente bibliográfico-analítico, com base em referencial teórico multidisciplinar.
Em suma, ao firmar a importância da temática para a ciência do direito e as perspectivas de desenvolvimento da cultura em nosso país, tecemos algumas observações e conclusões, descritas a seguir.
1 A GOVERNAMENTALIDADE ESTATAL E A COMPREENSÃO DOS VALORES CULTURAIS EXPLÍCITOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
A cultura e suas diversas manifestações comportam reflexões acerca do entrelaçamento existente entre Cultura, Estado e a Constituição. Procura-se compreender a cultura, um sistema de valores, crenças e hábitos. Contudo, traduzida como forma de argumentação, representa a construção de uma democracia, constituída através dos princípios direcionadores do moderno Estado de Bem-estar social.
O Estado apresenta uma identificação principiológica da cultura e, por assim dizer, o sistema cultural é reconhecido direito fundamental posicionado além dos princípios arrolados no art. 5º, da Constituição Federal, o qual postula, em seu parágrafo 2º, o texto comporta direitos fundamentais que não estão enumerados taxativamente no mencionado dispositivo. Vale dizer, direitos fundamentais “fora do catálogo” (Sarlet, 2001, p.72SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.).
Reconhece-se a Constituição Federal é aberta axiologicamente e incorpora preceitos múltiplos de direitos sociais, em um enfrentamento das contingências humanas, em benefício da valorização social, com reconhecida proteção especial, isto é, a universalização do acesso à cultura (Cunha Filho, 2004a)CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais: proteção legal e constitucional. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004a., como forma de desenvolvimento e de integração social.
Na seara de estudos afetos ao sistema cultural, no que se refere à sua promoção e ao seu desenvolvimento, sempre houve a necessidade de se estabelecer um diálogo entre os padrões de disseminação cultural do passado e a evolução dos meios de propagação da cultura no agora, visando aprimorar a cultura, em seu estado criativo, vetor de construção de identidades (individual e coletiva) e promoção ao progresso, respeitando os seus múltiplos significados.
Portanto, falar em cultura é transcender valores; é, na verdade, perceber as inúmeras representações que o homem faz de si mesmo, da coletividade (dessemelhantes e semelhantes), enfim, do mundo que o cerca (Bourdieu, 1989BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 1989. Disponível em: Disponível em: https://www.geledes.org.br/18-livros-de-pierre-bourdieu-para-download-gratuito-21-artigos-sobre-sua-obra/ . Acesso em: 09 dez. 2018.
https://www.geledes.org.br/18-livros-de-...
), consolidando o entendimento de que prestigiar o sistema da arte e da cultura de uma nação corresponde à senda de legitimação à democracia e ao respeito a ordem constitucional (Cunha Filho, 2004bCUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e democracia na Constituição Federal de 1988: a repercussão de interesses e sua aplicação ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. Rio de Janeiro: Letra Legal , 2004.).
E, ínsito a esse contexto, a percepção que se tem é a da representatividade e o papel fundamental desempenhado pelo Estado na construção de verdades e de práticas sociais que engendram os domínios de saberes (Foucault, 2005aFOUCAULT, Michel. Ciência e saber. In: FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2005a, p. 199-219.), das novas técnicas de produção de conhecimento descritas pela história, muitas vezes se utilizando de práticas de controle e de vigilância sobre o staff social (Foucault, 2005bFOUCAULT, Michel. Conferência 1. In: FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005b, p.7-27.).
De certa maneira, a inserção de práticas sociais interfere na construção dos sujeitos de conhecimento - absolutamente inacabado e não definitivo -, uma tendência refletora dos discursos estatais na modernidade, polêmicos e estratégicos, consistentes na prática de dominação e de manipulação.
Na visão de Foucault (2005b)FOUCAULT, Michel. Conferência 1. In: FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005b, p.7-27., existe um fundo teórico de construção de verdades (consistentes), historicamente tecidas em duas vertentes de intenções e impostas ao sujeito: a primeira, uma espécie interna da verdade, corrigida a partir de seus próprios princípios de regulação (a verdadeira história dos saberes e das ciências); a segunda parece existir na sociedade, em vários outros lugares onde a verdade se forma, com regras próprias definidas, em que nasce certos tipos de saberes, uma história externa da verdade.
A partir de então, percebe-se a coadunação de um determinado número de formas de verdade que nascem via ligação direta com um certo número de controles políticos e sociais, assim gestadas no momento da formação da sociedade capitalista, no final do século XIX, e, sutilmente, permanecem no presente.
Em linhas gerais, Foucault (2005b, p. 16)FOUCAULT, Michel. Conferência 1. In: FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005b, p.7-27., alinhado às constatações tecidas por Nietzsche, retrata o encontro de um tipo de discurso realizador histórico de formação do sujeito, do mesmo modo, e vem tecer uma análise histórica da construção de um saber; todavia, nunca admite a preexistência de um sujeito de conhecimento, indiferente do tempo e do espaço em que se encontra.
Logo, o conhecimento foi algo inventado e que não está inscrito na natureza humana; não é puramente instintivo, pois surge do refinamento do instintivo confronto entre si.
O conhecimento é simplesmente o resultado de um jogo, do afrontamento, da junção, da luta e do compromisso entre os instintos. É porque os instintos se encontram, se batem e se chegam, finalmente, ao término de suas batalhas, a um compromisso, que algo se produz. Este algo é o conhecimento. (Foucault, 2005b, p. 16)FOUCAULT, Michel. Conferência 1. In: FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005b, p.7-27.
Através da análise sobre a positividade dos discursos e formação de conhecimento, introduziu-se, no corpo social, práticas gestadas no decorrer da história formativa da ciência política e das relações de poder, descrito no processo de inventariança realizada por Foucault (2006FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: Curso do Collegé de France, 1 de fevereiro de 1978. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 277-293.) sobre a Governamentalidade, em análise a alguns dispositivos de segurança conduzidos pelo governo, uma proposta relacional entre segurança, população e governo.
Em termos narrativos histórico, do século XVI até o final do Século XVIII desenvolveram alguns tratados, que de um modo geral, se apresentavam como a arte de governar, que, de múltiplos aspectos, procuravam resolver o problema do governo dos Estados e dos soberanos, vislumbrando a imagem idealizada de governante e o exercício da melhor forma de governar.
A intensidade na resolução desses problemas - primeiro, em razão da superação da estrutura feudal e, segundo, graças ao movimento de dispersão e dissidência religiosa -, agrava a situação dos governantes, fazendo surgir na Europa uma literatura direcionada às técnicas de governar: O Príncipe, de Nicolau Maquiavel (2012)MAQUIÁVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2012..
Frente a esse momento histórico, surgiu também uma vasta literatura contraposta, anti-maquiavélica, que procurou retratar uma espécie de faceta negativa do pensamento da obra de Maquiavel, adversa em vários pontos, como o fato da carência e da ausência de exteriorização positiva da figura do príncipe.
[...] o príncipe está em relação de singularidade, de exterioridade, de transcendência em relação ao seu principado; recebe o seu principado por herança, por aquisição, por conquista, mas não faz parte dele, lhe é exterior; os laços que o une ao principado são de violência, de tradição, estabelecidos por tratado com a cumplicidade ou a aliança de outros príncipes, laços puramente sintéticos, sem ligação fundamental, essencial, natural ou jurídica, entre o príncipe e o seu principado. (Foucault, 2006, p. 279)FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: Curso do Collegé de France, 1 de fevereiro de 1978. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 277-293.
E essa relação de exterioridade se encontra ameaçada pelos inimigos e pelos próprios súditos. Um liame frágil do príncipe com o seu principado encontra guarida na arte de governar de Maquiavel, objetivando a demarcação e redução dos perigos externos e o desenvolvimento da arte de manipular as relações de poder, o que de forma alguma representa a arte de governar.
A literatura opositora - Miror Politique, de Guillaume de la Perriére, de 1567, e The Governor, de Thomas Elyott, em 1580 - desperta em Foucault (2006)FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: Curso do Collegé de France, 1 de fevereiro de 1978. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 277-293. o interesse em alguns pontos importantes, como a diferença entre a figura do governante e a ação de governar, ambas com implicações distintas.
A prática de governar se realiza de forma múltipla (o pai dentro da família, o clero dentro da igreja, o professor dentro da escola) e nas práticas coexistentes dentro de uma mesma relação de Estado, que, apesar de se encontrarem em um mesmo espaço social do Estado, singularmente transcendem o poder do soberano.
A doutrina foucaultiana - Teoria do Poder -, descreve a arte de governar, onde precisamente, o exercício do poder segundo o modelo da economia principal, essência do governo sendo, na realidade posta, representado pelo campo de intervenção do governo por via de processos complexos de geração de capitais e de domínio sobre coisas.
Nesse pensamento “Governam-se coisas” (Foucault, 2006, p. 282FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: Curso do Collegé de France, 1 de fevereiro de 1978. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 277-293.); e exercer a governança não se refere apenas ao controle de território, mas ao conjunto imbricado de pessoas e coisas insertas nesse espaço. Por consequência, governar, e a sua correta disposição, seria o único encargo que o governante tem para conduzir ao fim conveniente.
Nesse teor, a composição do sentido de agir enquanto ação direcionada (Berger; Luckmann, 2012BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a orientação do homem moderno. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.) define o agir, uma ação moldada por um sentido objetivo, colocada à disposição pelos acervos sociais do conhecimento e comunicada à massa por meio da pressão que exercem para o seu acatamento.
Poder-se-ia dizer, com isso, que o governo tem uma série de finalidades específicas, e nisso se opõe direto à soberania: “Para um bom soberano, é preciso que tenha uma finalidade, o bem comum e a salvação de todos” (Foucault, 2006, p. 283)FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: Curso do Collegé de France, 1 de fevereiro de 1978. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 277-293.; mas, como há uma série de finalidades a alcançar, a finalidade precípua do governo deve ser o controle sobre as coisas que ele dirige, na intensificação dos processos de controle instrumentalizados pelo governo - que estão além das leis -, percebidos como estratégia tática diligente.
E sobre essa tese, acerca da arte de governar, encontra-se, à temática, uma razão do Estado manter sua ingerência sobre o sistema cultural, visualizado por uma racionalidade própria que consiste no desenvolvimento do governo por intermédio da ciência política e da economia, utilizáveis estratégia governamental de biopoder (Soares, 2013)SOARES, Alexandre Oliveira. Biopoder: poder e governamentalidade. Revista Âmbito Jurídico. Disponível em: Disponível em: http://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista115/biopoder-poder-e-governamentalidade . Acesso em: 20 set. 2021.
http://ambitojuridico.com.br/edicoes/rev...
.
Foi por intermédio da ciência do governo que o advento dos problemas da população - não mais redutível ao núcleo familiar ao qual a economia era vinculada -, a concentração na família, passa ser instrumento em relação à população, o principal objetivo de controle do governo.
Pode-se, assim, afirmar, a população é fim instrumental de governo, surge como necessidade, aspiração, mas, também, objeto; e essa consciência perante o governo, daquilo que a população almeja e necessita, a torna inconsciente em relação àquilo que se quer, manipulada para que ela se subjugue e o faça (Foucault, 2006)FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: Curso do Collegé de France, 1 de fevereiro de 1978. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 277-293..
Eis que nasce uma arte nova de governar, o triângulo soberania-disciplina-gestão governamental, o qual tem na população seu alvo principal e, nos dispositivos de controle segurança, o seu mecanismo essencial, uma tendência comportamental e de pensamento Ocidental; conduzindo a um tipo de poder incidente sobre outros tipos de poder, levado ao desenvolvimento de uma série de instituições, procedimentos, análises e reflexões, cálculos e táticas, envoltas de complexidade, resultando em um conjunto de saberes.
O Estado passa a ser governamentalizado, deixando de ser uma abstração mistificada, com propósitos bem definidos. Em tempos neoliberais, em que o capital vem representar uma nova transcendência e subjetivação econômica, surgem um novo instrumento de controle - a Psicopolítica (Han, 2018)HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Petrópolis: Vozes , 2018b. -, onde o Estado desenvolve seus interesses via implementação de tecnologias avançadas de controle, controlando as modalidades de produção e poder atribuído às massas, a falaciosa ditadura da transparência (Han, 2017)HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência. Petrópolis: Vozes , 2017..
Coadunado a esse pensamento, a vivência da cybercultura (Lévy, 1999)LÉVY, Pierre. Cybercultura. São Paulo: Editora 34, 1999., destaca o papel da rede digital celebrada como a moderna forma de liberdade e conhecimento cultural ilimitada, em um mundo cada dia mais transnacional, onde essa euforia se transmuta em um novo meio de controle total governamental, através das mídias sociais - pan-óptico digital (Han, 2018a)HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Belo Horizonte: Âyiné, 2018a. .
E nesse entorno, de crescimento econômico e de expansão de conhecimento liberto atribuído às massas, jaz um paradoxo: se, de um lado, a cultura é vista como mercadoria-vedete de uma sociedade espetacular, prevista para desempenhar no século XX o papel-motor no desenvolvimento da economia, por outro lado, a produção do conhecimento gerado - pensamento de espetáculo - vem justificar uma sociedade sem justificativa, uma “ciência geral sobre a falsa consciência” (Debord, 1997, p. 127)DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997..
Assim, põe-se em evidência, a cultura é um elemento construtivo de comunicação e disseminação de conhecimento, mas, sobretudo, de poder, uma violência silenciosa e intensiva, ora vista como um direito social inalienável constitucional, ora vista como instrumento forte de poder e dominação das massas. Essa justa complexidade que rompe a ideia de resistência e coerção do corpo, propagada como ampla liberdade de “ação motivada” (Han, 2019, p. 11)HAN, Byung-Chul. O que é poder?. Petrópolis: Vozes , 2019., enfática resposta ao domínio do Estado exercido sobre a mente do indivíduo.
Utilizando-se dos instrumentos postos à disposição do indivíduo - graças a “[...] multitude de instrumentos internos do pan-óptico digital” (Han, 2018, p. 19)HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Petrópolis: Vozes , 2018b. -, torna-se contemporânea a razão do sistema cultural, valendo-se da rede digital, meio de liberdade ilimitada.
Consequentemente, é a existência de uma psicopolítica digital, que avança passivamente ao controle ativo sobre as liberdades dos indivíduos: “[...] um instrumento psicopolítico muito eficiente, que permite alcançar um conhecimento abrangente sobre as dinâmicas da comunicação social. Trata-se de um conhecimento de dominação que permite intervir na psique e que pode influenciá-la em um nível pré-reflexivo (Han, 2018a, p. 23)HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Belo Horizonte: Âyiné, 2018a. .
O pensamento estruturalista do Estado em relação à arte e à cultura, a estrutura posta é filha legítima do poder e nas condições políticas adequadas, produz relação de aproximação da cultura com os suportes tecnológicos digitais, instrumentos técnicos de dominação e submissão a esse poder, reflexões a serem expostas no tópico seguinte.
2 A INTERRELAÇÃO SISTÊMICA ENTRE CULTURA, POLÍTICA E PODER: APORTES DE UMA “CIVILIZAÇÃO DO ESPETÁCULO”
Uma análise descritiva do atual sistema cultural (Llosa, 2012)LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012., existe uma interrelação entre a política e a cultura, um denominador comum o qual quase todos concordam, ou seja, o sistema cultural na América Latina se encontra em crise e se apresenta em vias de decadência, exigindo uma reforma de pensamento mais autocrítica e reflexiva.
Na teoria, o sistema cultural brasileiro comporta um conjunto de ações voltadas a universalização dos acessos aos bens e serviços culturais, sendo que para alcançar tal objetivo é preciso da cooperação dos agentes envolvidos, isto é, os agentes públicos e privados atuantes na área cultural, uma visão que se apresenta teórica e desafiadora em coligar os interesses dos sujeitos envolvidos no sistema.
Thomas Eliot (1988)ELIOT, Thomas Stearns. Notas para a definição de cultura. São Paulo: Perspectiva, 1988. já havia formulado, de fato, existe um afastamento dos moldes do sistema cultural idealizado, estruturado e contemplativo de interesses bem definidos - interesses dos indivíduos, dos grupos elitizados e da sociedade em geral. Embora se relacionem entre si, cada qual conserva sua autonomia e sempre apresentam confrontos entre si; contudo, coexistem dentro de uma mesma ordem social e caminham juntos, de forma harmônica.
Acreditava-se em progresso, porém, o progresso na pós-modernidade tem um custo destrutivo. Apesar de toda evidência acerca da evolução do campo da técnica e das ciências, destruiu o mito de que as humanidades humanizam, haja vista que nem sempre vem contribuir à redução da pobreza e termina por ampliar o abismo de desigualdade entre países, classes e pessoas (Llosa, 2013)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. .
Indubitavelmente, acredita-se nas intenções de reforma cultural um caminho a democracia social, estando a informação disponíveis ao alcance de todos e garantia a almejada liberdade e igualdade de oportunidades, algo utópico, mormente, porque tal afirmação torna-se discurso retórico, em grande parte dos objetivos constitucionais encontrados em grande parte das democracias modernas.
Thomas Stearns Eliot, em seu livro Notas para a definição da cultura, lançado em 1944, em constatações ainda tão presentes ao nosso tempo, descreve que a alta cultura é patrimônio de uma classe elitizada, justificando ser uma condição sine qua non a preservação da qualidade da cultura, “uma cultura minoritária, muito embora as classes sociais compartilhem a mesma língua” (Eliot, 1988, p. 33)ELIOT, Thomas Stearns. Notas para a definição de cultura. São Paulo: Perspectiva, 1988. .
De tempos passados, até então, ainda resta cristalina a persistente ideia da separação entre classes, garantindo, por conseguinte, a sustentabilidade e a estabilidade da ordem política e econômica, mas, sobretudo, na cultura é que vem expressar, certo grau de incerteza nas projeções futuras: “A ingênua ideia de que, através da educação, se pode transmitir cultura à totalidade da sociedade está destruindo a “alta cultura”, pois a única maneira de conseguir essa democratização universal da cultura é empobrecendo-a, tornando-a cada vez mais superficial” (Llosa, 2013, p. 9)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. .
Nessa esteira de fundamentos, ao resgatar o pensamento de Pierré Bourdieu (1989)BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 1989. Disponível em: Disponível em: https://www.geledes.org.br/18-livros-de-pierre-bourdieu-para-download-gratuito-21-artigos-sobre-sua-obra/ . Acesso em: 09 dez. 2018.
https://www.geledes.org.br/18-livros-de-...
, ao reconhecer a cultura um sistema simbólico - típico instrumento de dominação -, apesar de apontar ser precípuo instrumento de conhecimento e de comunicação, o Estado com o seu poder estruturante funcionalista direciona o sistema da cultura à consecução de seus fins.
O poder simbólico, transmitido pela cultura, religião e moral, é representativo de poder de construção da realidade social, tendente a estabelecer um sentido imediato no mundo, por meio de um conformismo lógico, em uma concepção homogênea entre o tempo e o espaço, contribuindo como típico mecanismo de dominação.
Vivencia-se o momento da ditadura da autocompreensividade, onde o poder e suas estruturas de dominação são exercidos como habituais e traços sutis, operando no cotidiano de forma eficiente e estável, uma vez que vem proferir ordens de comandos sem praticar coerções - vivenciada como liberdade - práticas estruturais descritas por Michel Foucault em tempos de governamentalidade: “O poder absoluto não necessita de violência para ser utilizado. Ele está baseado em uma submissão livre” (Han, 2019, p.118)HAN, Byung-Chul. O que é poder?. Petrópolis: Vozes , 2019..
Nos últimos anos, alguns pontos essenciais distintivos da cultura atual no contexto de uma sociedade capitalista e globalizada foram apontados. O enaltecimento da cultura-mundo, descrita por Giles Lipovetsky (2011, p. 32): “[...] globalizada, sem fronteiras, apoiada no mercado, na tecnologia e no indivíduo [...]”, cria a sociedade de cultura globalizada, porém desorientada, direcionada exclusivamente ao pensamento das massas.
Se antes a cultura era elitizada, erudita e excludente, no atual contexto, transformou-se em uma genuína “cultura de massa” (Llosa, 2013, p. 13)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. ; reflexo disso é a constatação de uma falsa democratização da cultura, um fenômeno carregado de intenções altruístas, onde “[...] o indesejado efeito de trivializar e mediocrizar a vida cultural, em que certa facilitação formal e superficialidade de conteúdo dos produtos culturais se justificam em razão do propósito cívico de chegar à maioria. A quantidade em detrimento da qualidade (Llosa, 2013, p. 18)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. .
A massificação, aliada à frivolidade da cultura, transforma o todo e qualquer tipo de informação em conhecimento, a qualquer custo. A cultura não deveria depender da política para se desenvolver, embora seja inevitável em alguns países sob regime ditatorial.
Permeado de concepções ideológicas ou até mesmo religiosas, os Estados possuem a propensão a editar normas sobre a vida cultural, mantendo vigilância em não permitir o afastamento das ideias autoafirmativas dos governantes. Todo esse controle gera uma transformação: a degeneração cultural, resultado da total ausência de originalidade e espírito crítico.
Nos Estados Democráticos de Direito, a relação cultura-política, entretanto, deve propiciar o crescimento das atividades culturais, sem redução da liberdade de criação, de expressão e de crítica; isso porque a cultura exerce influência direta sobre a vida política.
Contudo, a contrário senso, o inverso se observa: a influência direta da política sobre a cultura: “[...] ocorre o curioso paradoxo de que, enquanto nas sociedades autoritárias é a política que corrompe e degrada a cultura, nas democracias modernas é a cultura - ou aquilo que usurpa seu nome - que corrompe e degrada a política e os políticos” (Llosa, 2013, p. 65)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. .
Ao transcrever a realidade das últimas eleições, o posicionamento da política brasileira, significativamente, aos incentivos à cultura nacional, revela que boa parte da população opina sobre a corrupção política e os agentes culturais que veem nos projetos e incentivos culturais uma forma fácil de enriquecer, burlando a confiança pública neles depositadas, um desprestígio na relação aos interesses da política pela cultura, um desgaste com consequências nefastas no país, com tamanha riqueza cultural.
A banalização lúdica da cultura - diante do avanço das tecnologias audiovisuais, dos meios de comunicação de massa e do livre acesso as redes sociais e a internet - tem afastado, cada vez mais, o senso crítico do indivíduo onde a cultura está limitada à mera diversão: “[...] divertir-se e divertir, acima de qualquer outra forma de conhecimento ou ideal”. (Llosa, 2013, p. 68)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento.
A cultura contemporânea, em específica menção à crescente indústria cultural, isto é, considerada área de “economia da cultura” chamada de “baixa cultura” (Throsby, 2001, p. 16)THROSBY, David. Economía y cultura. Madrid: Cambridge University, 2001., vem apresentando veloz modernização e crescimento ímpar, pois aproveitou o processo de globalização, como ninguém, para se estender além das fronteiras territoriais, transformando-se e adequando-se às novas exigências sociais e legais.
Outro apontamento, ou melhor, um aspecto sensível entre a política e a cultura, diz respeito ao despego à lei a qual enfraquece a democracia, uma consequência da civilização do espetáculo, surge com a evolução dos Estados com viés Democrático de Direito, diante de autêntico desprezo pela ordem legal, estimulando o cidadão a transgredir a lei em benefício próprio - em prol do lucro - ou, muitas vezes apenas por esporte, zombaria contra o sistema vigente: “[...] na era da civilização da diversão, violam a lei para divertir-se, como quem pratica um esporte de risco”. (Llosa, 2013, p.73)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento.
Essa constatação está baseada na ausência de critérios de elaboração das normativas legais que, teoricamente, são editadas para prevalecer o bem comum e a justiça social; no entanto, são gestadas para favorecer grupos econômicos ou grupos específicos de indivíduos estimulando-os a desvirtuá-las; o desprestígio ao sistema legal serve para fomentar a desculturalização da população em geral, enfraquecendo a democracia no Estado de Direito.
Talvez, uma justificativa plausível a esse desapego está na premissa de que as leis são obras de um poder que não tem outro propósito que não seja servir a si mesmo; logo, tais disposições legais exoneram o cumprimento dos cidadãos, em virtude da ausência de identificação ou ligação entre a lei e a moral.
Esse universo cultural, a pirataria editorial tem prosperado de forma considerável, mormente nos países em desenvolvimento, e vem sendo cumulada à popularização do e@commerce, o grande responsável pela crise falencial das livrarias físicas no Brasil.
Frente a isso, as várias campanhas lançadas pelos editores e pelas Câmaras do Livro têm fracassado, em razão da ausência de apoio dos governos e, principalmente da população, ao pactuar com a compra de produtos de procedência duvidosa e, acima de tudo, ilegais, alegando que o baixo custo na compra de produtos dessa natureza se faz necessário por razões circunstanciais.
Há quem sustente que essa prática comportamental possibilita a disseminação e o concreto controle de acesso à cultura à parcela minoritária da população; mas o que não se percebe é o fato de que a pirataria editorial, assim como a concentração do mercado através da fixação de monopólio das empresas que funcionam exclusivamente via internet - donos do mercado comercial eletrônico, a exemplo da Amazon.com -, consubstanciam práticas que vêm representar prejuízos aos editores, aos autores e ao próprio Estado, não pela simples sonegação de impostos e total indiferença ao mercado local, mas porque desestimula o desenvolvimento da economia setorial fisicamente estabelecida e o crescimento econômico em geral.
De fato, sintetizando o todo exposto, o desapego à lei, inevitavelmente, conduz a percepção mais próxima da realidade social. Se a política nos remete a um descrédito, está se relaciona, sem dúvida, com os sentimentos sociais acerca da aceitação das práticas dos donos do poder.
O desparecimento da tutela da vida pública, tem conduzido a uma visão corrompida do sistema cultural e da crise espiritual da sociedade; e, cada vez maior, o governo e os indivíduos vêm negando qualquer comportamento nobre e altruísta, uma vez que o sistema cultural é uma atividade constantemente dominada pela desonestidade.
Esse é o contexto no qual situamos o debate sobre a relação entre governo-poder-cultura. Uma realidade perfeitamente visível e definitivamente orientada à satisfação das necessidades da economia, que tem o espírito do lucro como valor supremo da sociedade liberal e que se apropriou das transformações que passam a cultura no “agora”.
Vivencia-se, a rica época de expansão tecnológica, invenções e conhecimento científico que beneficiam o desenvolvimento social; contudo, ainda carecemos de conhecimento e, talvez, a mera sobrevivência faça esquecer os sentidos da arte e da cultura, da criação, da beleza e do senso positivo de respostas ao que há nesse tipo de contemplação.
Se no passado a cultura era objeto utilizado para clamar a atenção aos problemas de seus semelhantes, agora, é a cultura um mecanismo instrumental de diversão e informação, permitindo apenas o acesso full time, que nos distraí de tudo que é sério, espécie de paraíso artificial (Llosa, 2013)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. .
Sob a ótica de superficialidade, da transitoriedade e da sobremaneira volatilidade, a transformação radical das práticas associadas à cultura, surgem a partir internet e qualquer meio de comunicação social via plataforma digital (redes sociais, por exemplo), na visão de Nicholas Carr, são instrumentos propensos à democratização da informação, mas não de conhecimento, pois são típicos instrumentos pós-modernos de manipulação social, razões a refletir adiante.
3 A SUPERFICIALIDADE CULTURAL: POR UMA SOCIEDADE COM MAIS INFORMAÇÃO, MENOS CULTURA E MENOS CONHECIMENTO
Entusiastas com a introdução das novas tecnologias e meios de comunicação como sinônimos de transformação e de transmissão de conhecimento, vista como espécie de “democratização da cultura” em nosso tempo, reduzindo em termos qualitativos e quantificativos dos espaços e das instituições destinados à cultura.
No presente, qualquer texto pode ser enriquecido por imagens, áudios e vídeos, o que reflete sobre o desaparecimento dos espaços físicos de acesso à cultura, como as livrarias comerciais, as bibliotecas, museus e distribuidores de cultura em geral.
Todo esse processo modificativo ao enxergar a transmutação da cultura - esse novo modelo paradigmático de evolução - pode até contribuir para a expansão democrática de acesso à educação e à cultura; no entanto, perde-se, em conteúdo e produção de ideias não significativas, produzindo indivíduos de mentes dispersas.
O mundo está repleto de novidades. E, no agora, de acordo com o cineasta alemão Win Wenders (2013)WENDERS, Win. Cinema além das fronteiras. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago , 2013, p. 51-68. Série Fronteiras do Pensamento. , muitas nações no mundo vão sobreviver e prosperar, não apenas em virtude de sua força econômica, mas acima de tudo por seu forte sentimento de identidade, noção de seu próprio valor e seu próprio sentido de lugar, sendo que nada pode promover mais esse sentido que a arte e a cultura e ambas produzem o conhecimento necessário à promoção da identidade de um país.
Verifica-se, os governos não se preocupam em firmar a cultura, mas apenas repassar informações superficiais: blogs, twitter, facebook e outros meios de comunicação de rápido acesso. Esses novos aparatos de comunicação virtual, representam maior liberalidade em burlar as exigências da língua culta, da forma de escrita que, por alguma razão, tendem a contribuir, ainda mais, com a banalização cultural.
Mais do que isso, mostram-se instrumentos que, sob o pretexto de democratização da comunicação social, permitem que qualquer pessoa possa opinar de forma infundada e por vezes baseadas em falsas premissas sobre temas científicos e técnicos complexos, propagados com uma facilidade espantosa.
Há, na visão do sociólogo David Harvey (2018)HARVEY, David. A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2018. , um certo fetichismo acerca do uso da tecnologia desde a “Era Marxista”, tão disseminado atualmente, nos levando a crer de que esse é o motor tecnológico para todo e qualquer desenvolvimento social e econômico que se possa desejar.
Inovações tecnológicas na forma-dinheiro não levam a lugar algum, como vimos anteriormente, se não forem acompanhadas de no mínimo transformações paralelas nas relações sociais, nas concepções espirituais e nos arranjos institucionais. Novas tecnologias (como a internet e as mídias sociais) prometem um futuro socialista utópico, mas, na ausência de outras formas de ação, acabam cooptadas pelo capital e transformadas em novas formas e modos de exploração e acumulação. (Harvey, 2018, p. 116)HARVEY, David. A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2018.
Sob o manto dessa evolução digital e, consequente transformação no comportamento social, a velocidade da informação e da comunicação - o tempo poupado -, produz uma imensa quantidade de indivíduos que compartilham experiências e os benefícios alcançados e divulgados pelo governo, pelas empresas e pelo próprio ambiente social, tendo não apenas o intuito exclusivo de desenvolvimento econômico mas, também, uma aproximação da relação política de poder, espécie contínua de ação.
Em uma análise acurada sobre esse olhar político-econômico, o escritor americano Nicholas Carr (2011)CARR, Nicholas. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Agir, 2011. traz reflexão à superficialidade gerada pelas novas tecnologias - internet e redes sociais -, descrevendo a significativa mudança em nossa visão sobre o significado da cultura e como isso influencia no funcionamento do cérebro humano; mormente, se comparada à descoberta da imprensa por Gutenberg no século XV, a qual generalizou a cultura dos livros, antes restrita à camada aristocrática da população, ao clérico e aos intelectuais.
Em meio à toda discussão sobre a facilidade da internet como ferramenta de disseminação cultural, o indivíduo tem acesso instantâneo à informação, deixando de exercitar a mente por conta da disposição de um arquivo infinito de informações, a memória se debilita do mesma forma que os músculos atrofiam pela ausência de exercícios.
A internet apequena a fonte primária de conhecimento: “A divisão da atenção exigida pela multimídia estressa ainda mais nossas capacidades cognitivas, diminuindo nossa aprendizagem e enfraquecendo a nossa compreensão. Quando se trata de suprir a mente com a matéria-prima do pensamento, mais pode ser menos” (CARR, 2011, p. 180)CARR, Nicholas. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Agir, 2011..
Esse mecanismo institucional posto tão facilmente à disposição dos sujeitos e os seus nefastos efeitos meio instrumental, o uso exacerbado da internet vista como ferramenta de propagação e desenvolvimento cultural, representa um sinal que transforma o espaço aparente de conhecimento, fundamentado na comunicação e no entretenimento, em espaço de poder.
A introdução dessa tecnologia intelectual incorpora uma espécie de ética intelectual, e constrói um conjunto de suposições sobre como a mente humana funciona ou deveria funcionar.
A evolução tecnológica tem um efeito profundo sobre nós e a ética intelectual esperada, conduz um meio de mensagem de um interlocutor a outro, transmite às mentes e à cultura de seus usuários algo apenas facilitador de informações, porém sem maiores profundidades (Carr, 2011)CARR, Nicholas. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Agir, 2011..
Nesse sentir, rememorando Llosa (2013LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. ), a civilização do século XXI prevê uma revolução da informação sem retorno, que está muito além de terminar e, nesse campo, surgem no cotidiano novas possiblidades e, onde nada mais nos parece impossível, faz com que a cultura de outrora pereça e retroceda lentamente.
O fundamental dessa condição, sem exageros, é de que a inteligência artificial domina o homem e vem demonstrar, apesar das teses controversas sobre o assunto, que a cultura, visada como mercância simbólica em mãos erradas apresenta leis próprias, direcionadas aos interesses de poder de quem domina/monitora a comunicação universal entre sujeitos universais.
Pela lógica simbólica - controle e dominação -, por outras palavras, quando os sujeitos são envoltos por excesso de informação e ausência de pensar, pressupõe-se a possibilidade real e política garantida de que aquilo que é diferente necessita ser revisto via princípio da dominação, negando a individualidade dos sujeitos (Bourdieu, 1989)BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 1989. Disponível em: Disponível em: https://www.geledes.org.br/18-livros-de-pierre-bourdieu-para-download-gratuito-21-artigos-sobre-sua-obra/ . Acesso em: 09 dez. 2018.
https://www.geledes.org.br/18-livros-de-...
.
Essa relação estratégica de biopoder em que o homem se encontra, “o ser humano se apodera de um certo número de coisas, reage a um certo número de situações, lhes impondo relações de força” (Foucault, 2005b, p. 25)FOUCAULT, Michel. Conferência 1. In: FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005b, p.7-27., nos resta observar que o sistema cultural é objeto típico de controle social.
Compreende-se, então, todas as relações que se encontram por detrás dos estímulos à exploração das mídias e processos tecnológicos de comunicação. Eis um ponto que retorna ao início da explanação: a noção de governamentalidade, trazida por Michel Foucault, concebida desde 1978, é, ainda, fundamento de análise de ideias e de relação de domínio de saberes até então existentes; todavia, é na contemporânea psicopolítica de Byung-Chul Han que se encontram múltiplas formas de poder inteligente, que submete, materializa e estabiliza a dominação.
A ordem cultural atual e a sua disposição à formação do conhecimento do sujeito apresenta por intenção o entreter, o prestar ao indivíduo alguns momentos agradáveis na rede, fora de sua realidade - imerso no irreal, longe de sua sordidez cotidiana, do inferno diário da vida doméstica ou da angústia econômica, criando ilusões plasmadas de uma realidade de constante informação, muitas vezes sem sentido.
Llosa, em conferência no Brasil, no Fronteiras do Pensamento, afirma que dificilmente somos incultos, isto é, somos todos cultos de alguma maneira, embora nunca tenhamos lido um livro, visitado uma exposição de arte, escutado um concerto ou apreendido algumas noções de conhecimentos humanístico: “[...] ainda que haja hoje muito mais alfabetizados do que no passado, esse é um assunto quantitativo e a cultura não tem muito a ver com quantidade, apenas com qualidade” (Llosa, 2013, p. 16)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. .
Por esse ângulo, o uso excessivo da tecnologia demonstra um controle social e, por consequência, desencadeia uma série de violações de direitos humanos - a vulnerabilidade dos indivíduos evidenciada pela intensificação da conectividade e o mau uso do espaço virtual (Welmuth; CArdin; Wolowski, 2021, p. 278WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi; CARDIN, Valéria Silva Galdino; WOLOWSKI, Matheus Ribeiro de Oliveira. Biopolítica e novas tecnologias: direitos humanos sob ameaça? REI - Revista de Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v.7, n. 1, p. 276-296, abr. 2021. Disponível em: Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/598 . Acesso em: 20 set. 2021.
https://www.estudosinstitucionais.com/RE...
) - indícios do exercício da biopolítica aplicada no contexto do sistema cultural nacional.
Em suma, a cultura não desempenha a função que desempenhou num passado, volta ao comprometimento em formar sujeitos com conhecimento - ao invés de sujeitos de conhecimento; ela tem impossibilitando a abertura do indivíduos sobre a realidade que o cerca, no despertar a sua consciência democrática, tão esquecida e indiferente, pois, no agora, somos apenas seres interconectados, como aponta Nicholas Carr (2011CARR, Nicholas. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Agir, 2011.), no entanto, ausentes como sujeitos com conhecimento, segundo Foucault (2005b)FOUCAULT, Michel. Conferência 1. In: FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005b, p.7-27. e Llosa Vargas (2013)LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento. .
CONCLUSÃO
Na linha do que foi exposto, conclui-se, ao realizarmos uma análise sobre a Teoria do Poder construída pelos filósofos Michel Foucault e Byung-Chul Han, conjuntamente às obras de Mario Llosa Vargas e de Nicholas Carr, que todos comportam reflexões acerca do biopoder e saberes que surgem a partir dessa configuração estrutural interrelacional cultura, política e poder.
A denominada “Governamentalidade” abre espaço a evolutiva “Psicopolítica”, assim como as alterações ocorridas pela introdução de novos meios de controle social, como a internet e os meios sociais de comunicação em rede, atraí nefasta previsão futurista sobre os caminhos do atual sistema cultural. O mundo do homo digitalis aponta uma topologia na ocupação do sujeito em sociedade que forma uma massa - aglomerado sem reunião -, sem interiorização, que apenas se sujeita ao domínio do capital.
A Constituição Federal apesar de determinar uma ampla proteção e respeito à diversidade cultural, ao patrimônio cultural (material e imaterial) e à herança identitária do povo, observa-se a existência do enfraquecimento da cultura no atual Estado de Direito, em decorrência de múltiplos fatores: internos, o pouco incentivo direcionado à área e a instrumentalização do saber; e, finalmente, externos, a intromissão dos meios de comunicação social e a ausência de comprometimento do cidadão à lei, favorecendo o enfraquecimento e a falência cultural da população.
O Estado, enquanto gestor político e econômico, vem apresentando sua parcela significativa no declínio do sistema cultural ao disseminar pelo uso, excessivo e estimulado, dos meios tecnológicos de informação, de onde decorre a compreensão de que o excesso de informação posto à disposição da população não corresponde a excesso de conhecimento, mas apenas mais uma forma de controle social das massas.
Evidentemente, controle social e vigilância exercida mudou com a evolução dos saberes: outrora o controle da população se perfectibilizava pela vigilância ao núcleo familiar, a igreja e os processos pedagógicos; no agora, a vigilância é exercida pelo uso das tecnologias de comunicação sociais, onde na ilusão de proliferação de conhecimento, apenas serve para atrofiar a capacidade de saber e de pensar em profundidade.
Frente aos avanços das tecnologias e inovações de comunicação sociais, a agilidade de informação e de comunicação ocasionam transformações da vida cultural, a quebra da privacidade e a influência subliminar do Estado governamentalizado sobre os indivíduos tendem a moldam a forma de agir, criando um sujeito de conhecimento superficial, pois não mais estimulados a refletir acerca de conotações e significados, tendo em vista que o armazenamento pessoal de informações parece-nos cada vez menos essencial.
REFERÊNCIAS
- BERGER, Peter; LUCKMANN, Thomas. Modernidade, pluralismo e crise de sentido: a orientação do homem moderno. 3.ed. Petrópolis: Vozes, 2012.
- BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand, 1989. Disponível em: Disponível em: https://www.geledes.org.br/18-livros-de-pierre-bourdieu-para-download-gratuito-21-artigos-sobre-sua-obra/ Acesso em: 09 dez. 2018.
» https://www.geledes.org.br/18-livros-de-pierre-bourdieu-para-download-gratuito-21-artigos-sobre-sua-obra/ - CARR, Nicholas. A geração superficial: o que a internet está fazendo com os nossos cérebros. Rio de Janeiro: Agir, 2011.
- CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Direitos culturais: proteção legal e constitucional. Rio de Janeiro: Letra Legal, 2004a.
- CUNHA FILHO, Francisco Humberto. Cultura e democracia na Constituição Federal de 1988: a repercussão de interesses e sua aplicação ao Programa Nacional de Apoio à Cultura. Rio de Janeiro: Letra Legal , 2004.
- DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo: comentários sobre a sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 1997.
- DURAND, José Carlos. Política cultural e economia da cultura. Cotia: Ateliê Editorial; São Paulo: Edições SESC, 2013.
- ELIOT, Thomas Stearns. Notas para a definição de cultura. São Paulo: Perspectiva, 1988.
- FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: Curso do Collegé de France, 1 de fevereiro de 1978. In: FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. 22.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2006, p. 277-293.
- FOUCAULT, Michel. Ciência e saber. In: FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7.ed. Rio de Janeiro: Forense universitária, 2005a, p. 199-219.
- FOUCAULT, Michel. Conferência 1. In: FOUCAULT, Michel. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: Nau, 2005b, p.7-27.
- HAN, Byung-Chul. O que é poder?. Petrópolis: Vozes , 2019.
- HAN, Byung-Chul. Psicopolítica: o neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Belo Horizonte: Âyiné, 2018a.
- HAN, Byung-Chul. No enxame: perspectivas do digital. Petrópolis: Vozes , 2018b.
- HAN, Byung-Chul. Sociedade da transparência. Petrópolis: Vozes , 2017.
- HARVEY, David. A loucura da razão econômica: Marx e o capital no século XXI. São Paulo: Boitempo, 2018.
- LÉVY, Pierre. Cybercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.
- LLOSA, Mario Vargas. Breve discurso sobre a cultura. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago, 2013, p. 12-31. Série Fronteiras do Pensamento.
- LLOSA, Mario Vargas. A civilização do espetáculo: uma radiografia do nosso tempo e da nossa cultura. Rio de Janeiro: Objetiva, 2012.
- MAQUIÁVEL, Nicolau. O príncipe. São Paulo: Martin Claret, 2012.
- SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001.
- SOARES, Alexandre Oliveira. Biopoder: poder e governamentalidade. Revista Âmbito Jurídico. Disponível em: Disponível em: http://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista115/biopoder-poder-e-governamentalidade Acesso em: 20 set. 2021.
» http://ambitojuridico.com.br/edicoes/revista115/biopoder-poder-e-governamentalidade - THROSBY, David. Economía y cultura. Madrid: Cambridge University, 2001.
- WENDERS, Win. Cinema além das fronteiras. In: MACHADO, Cassiano Elek (org.). Pensar a Cultura. Porto Alegre: Arquipélago , 2013, p. 51-68. Série Fronteiras do Pensamento.
- WERMUTH, Maiquel Ângelo Dezordi; CARDIN, Valéria Silva Galdino; WOLOWSKI, Matheus Ribeiro de Oliveira. Biopolítica e novas tecnologias: direitos humanos sob ameaça? REI - Revista de Estudos Institucionais, Rio de Janeiro, v.7, n. 1, p. 276-296, abr. 2021. Disponível em: Disponível em: https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/598 Acesso em: 20 set. 2021.
» https://www.estudosinstitucionais.com/REI/article/view/598
Datas de Publicação
-
Publicação nesta coleção
29 Mar 2024 -
Data do Fascículo
2023
Histórico
-
Recebido
03 Fev 2021 -
Aceito
18 Jan 2022